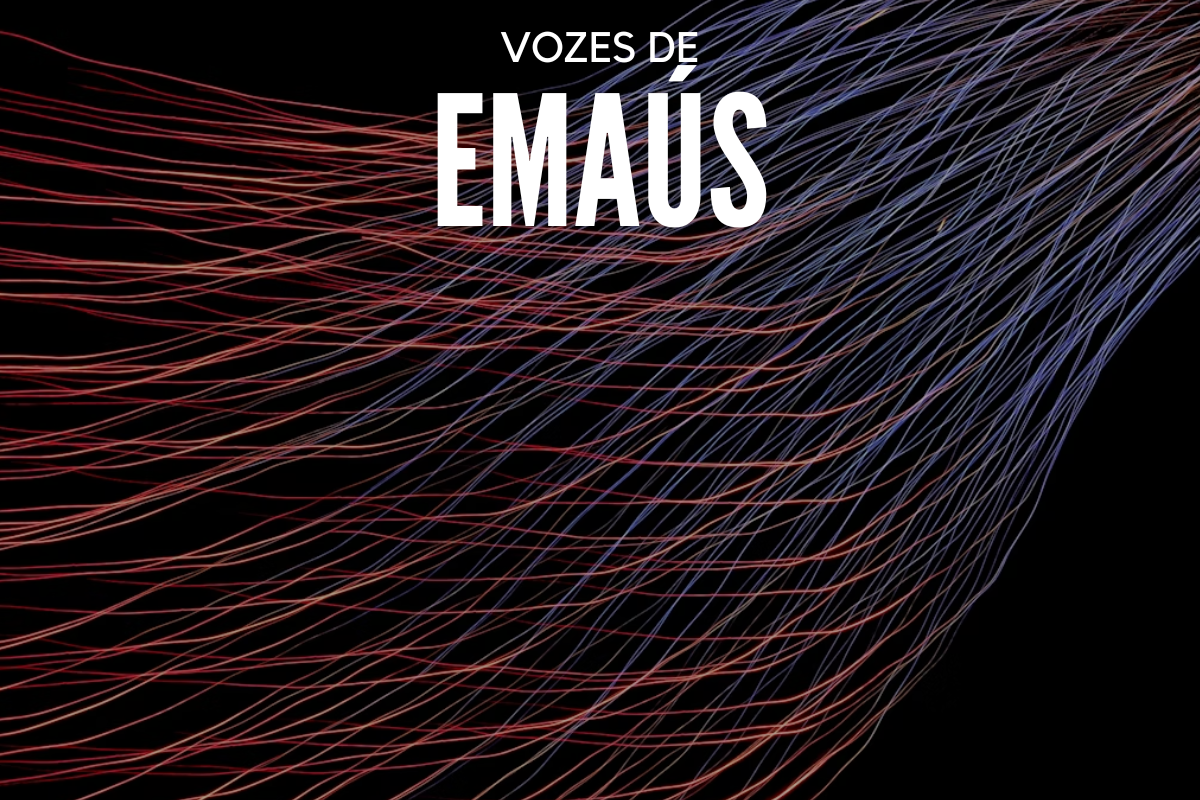02 Abril 2025
"A evangelização é a transmissão de experiências. A conceituação e elaboração de afirmações garantidas para falar a verdade da fé vieram depois. O cristianismo se difundiu, viveu e trabalhou por muito tempo no mundo bem antes de o Concílio de Niceia definir o dogma da homoousía do Filho com o Pai".
As notas são do professor Severino Dianich, enviadas ao Instituto Humanitas Unisinos — IHU.
Severino Dianich, é teólogo italiano, em 1967 foi um dos fundadores da Associação Teológica Italiana (ATI), da qual foi presidente de 1989 a 1995. Professor de eclesiologia na Faculdade de Teologia de Florença, é também, desde 2011, o vigário episcopal para a Pastoral da Cultura e das Universidades da Diocese de Pisa, além de diretor espiritual do seminário arquiepiscopal. Durante muitos anos, colaborou com a revista Famiglia Cristiana, onde assinava a coluna "O Teólogo".
O presente texto deriva de notas escritas pelo autor de modo informal para uso exclusivo da apresentação oral no evento "Por uma teologia da atualidade: problemas de método". A transmissão da conferência ocorreu no dia 01 de abril. Assista na íntegra no vídeo a seguir.
Eis o texto.
1. Introdução
Se a teologia é uma reflexão sobre... Qual é o dado sobre o qual se inclina o pensamento e a inteligência do cristão? O fenômeno da revelação judaico-cristã e seu conteúdo. Mas não diretamente, e sim enquanto dados são acreditados por crentes e comunidades de crentes.
Na realidade, portanto, o conceito de revelação não pode ser reduzido apenas ao campo semântico dos crentes. De acordo com Jean-Luc Marion, a da revelação, independentemente da questão da fé, é um fenômeno que faz parte da experiência comum de viver, tanto que é inevitável deparar-se com histórias, por parte dos sujeitos que se sentem envolvidos, sobre fenômenos de revelação que eles experimentaram. Fenômenos que Marion define como "saturados", no sentido de que excedem a capacidade de serem trazidos de volta ao conceito, de modo a sempre deixar um resíduo importante para qualquer processo, o mais rigoroso, de abstração [1].
A teologia é o segundo ato, a inteligência que recai em seu primeiro ato, o de crer. A teologia acadêmica é, na verdade, um terceiro ato, porque não há crente que, além de professar a fé, não a repense em sua reflexão posterior. A teologia espontânea do crente está imersa no mundo de sua experiência de vida pessoal. Assim, a teologia acadêmica encontra-se imersa em um mar de reflexões tão amplas quanto a experiência da fé é difundida no mundo e quanto a experiência dos crentes está imersa na do mundo. Portanto, não há reflexão "quimicamente pura" sobre a crença e o que se acredita.
Basta pensar o quanto o desenvolvimento do pensamento cristão nos primeiros cinco séculos foi condicionado pela vida política do Império e a condicionou. Basta dizer que foi Constantino quem convocou o Concílio de Niceia. E todo o problema do arianismo e companhia está entrelaçado com o problema político de imperadores que temiam a ortodoxia trinitária da teologia política do único imperador da terra, representante do poder do único Deus no céu. Ortodoxia, heresias e política estavam intimamente entrelaçadas, dia a dia.
Ao mesmo tempo, porém, pense-se no cansaço do conceito enfrentado pelos Padres entre os séculos IV e VI para a elaboração de ideias claras e universais: natureza humana, pessoa, substância, indivíduo, hipóstase, relacionamento etc. Como se colocasse a fé em uma camada superior de conhecimento, onde ela é melhor defendida do fluxo turbulento de fatos e pensamentos. De acordo com um certo bispo Euippus, que, após o Concílio de Calcedônia, escreveu ao imperador Leão I, que estava investigando as consequências do Concílio, ele observou que no conselho aristotélico havia sido falado e não mais piscatório, como sempre será necessário fazer [2]. Foi o preço a pagar para estabelecer uma regra de linguagem, de como se deve falar de Deus e de Cristo para mostrar que toda a Igreja professava uma só fé. Mas também foi a perda do pensamento teológico de seu contato direto com a experiência dos crentes.
2. A teologia da grande tradição ocidental
Sobre uma fé, muitos pensamentos diferentes, diferente de crente para crente, diferente em diferentes contextos culturais, diferente no fluxo de eventos em que o crente reflete sobre sua fé.
Algo novo aconteceu na história do pensamento cristão, quando com o Sic et Non de Abelardo o grande património da pregação, dos comentários bíblicos e dos tratados teológicos dos Padres supremamente venerado por todos, foi colocado em crise, apontando as contradições entre as diferentes interpretações dos dados consolidados da fé em um ou outro dos Padres, mas também dentro do pensamento do mesmo autor. Só mais tarde surgirá aquela consciência histórica que nos permitirá ler a diversidade em relação à diversidade de situações em mudança perpétua.
O caminho percorrido pelo pensamento cristão por volta do ano 1000 foi o de passar do pensamento linear ao dialético, da verificação da tradição à verificação da razão, e do acúmulo de afirmações para a posição de tantas quaestiones. Tudo deve ser questionável, até mesmo Utrum Deus sit. Fazendo perguntas, perguntando o porquê de tudo, as razões dos fatos, as coisas que são feitas e as que são ditas são elaboradas: a teologia é feita onde se pergunta por que as coisas são acreditadas e das coisas que são feitas em nome da fé. Surgiu a necessidade de racionalidade lógica e argumentos rigorosos.
A necessidade de racionalidade como rigor lógico da argumentação alimentou sobretudo as operações de abstração destinadas a extrair do detalhe, portanto, do caos dos fatos que aconteceram e que acontecem, das imagens que os representam e das emoções que acompanham sua percepção, conceitos abstratos universais, entre os quais é possível utilizar as conexões essenciais nos processos de indução e dedução. A desordem dos fatos conceitualmente enquadrados na melhor ordem concebível: ganha-se em clareza, racionalidade e universalidade, perde-se na leitura e interpretação dos detalhes. O desenvolvimento progressivo desse estilo de pensamento obviamente exacerbará a necessidade crítica disso no que diz respeito à relevância dos conceitos e ao rigor lógico dos argumentos.
O Concílio, redefinindo muitos aspectos da relação da Igreja com as outras confissões cristãs, as outras religiões, as diversas culturas do mundo, a sociedade civil e a vida política dos povos, provocou a teologia a confrontar diretamente as grandes questões espirituais que derivaram (ou foram a fonte) de situações em movimento. Assim, o avanço da secularização foi enfrentado em sua raiz mais profunda por uma vasta literatura dedicada ao tema da "morte de Deus", que transferiu o interesse pela busca de Deus do nível teórico às diferentes práticas de libertação, a partir da dinâmica teológica fundamental que os sustenta e deu origem a vários desenvolvimentos na teologia da esperança. Entrelaçado com ele estava o movimento que, a partir do esclarecimento da missão da Igreja como anúncio de libertação e salvação, chegou à elaboração de uma teologia política e estava entrelaçada com a teologia da libertação, a teologia do processo, a teologia negra, a teologia feminista, etc.
Durante os pontificados de João Paulo II e Bento XVI não faltaram propostas muito criativas a partir de sua colocação no contexto: a teologia da libertação de Gutiérrez e Boff, a teologia do diálogo inter-religioso de Dupuis e Dominus Jesus, que, no entanto, teve que enfrentar um magistério desconfiado e promotor de uma hermenêutica de continuidade em relação ao Concílio, o que mortificou o potencial criativo dos teólogos de forma não pequena.
3. Perspectivas (para uma nova teologia dialética)
Da crise das religiões estabelecidas ao interesse por outros caminhos abertos à busca de Deus... hoje, pesquisa do pós-teísmo ao panenteísmo. O trabalho de Paolo Gamberini, Deus 2.0, já ganhou as manchetes por seu título, que está provocando pesquisas apaixonadas e ousadas para uma nova abordagem do próprio problema do significado da questão de Deus.
Outra área em que novas questões estão surgindo é a da questão ecológica. A proposta da teologia da Encarnação Profunda (Jesus não se encarnou apenas para redimir o homem, mas para entrar na própria matéria do universo) abre novos caminhos inesperados na cristologia, mesmo que os precedentes não possam ser ignorados:
-
Na teologia franciscana medieval, que concebe um mundo em que o Filho teria se encarnado mesmo se o homem não tivesse pecado.
-
No evolucionismo de Teilhard de Chardin, com o percurso da biosfera na noosfera e, finalmente, na cristosfera.
O problema antropológico diante da cultura digital, da IA e das perspectivas do pós-humanismo também é impressionante. É fácil imaginar as repercussões na teologia moral, já severamente testada pela revolução sexual do século XX.
Para responder à necessidade de uma teologia inclusiva
Não mortificada pelo essencialismo derivado do pressuposto da conceituação e da argumentação como os únicos processos do conhecimento racional, Pierre Bourdieu nos deixou uma lição fundamental sobre as diferentes formas de conhecimento.
O homo academicus requer um trabalho de dessubjetivação e procede por abstração, com uma conceituação rigorosa da realidade. Já o conhecimento do homem comum é inteiramente interno ao sujeito, em sua ação vital comandada pela lógica prática. Essa lógica prática, para compreender O que fazer?, contorna a conceituação e a argumentação e se baseia na memória e no habitus (Le sens pratique).
Não muito distante do pensamento de Tomás de Aquino, para quem, uma vez que os detalhes existentes são inúmeros, a experiência do conhecimento comum os reduz àqueles que ocorrem com mais frequência, cujo conhecimento no final é suficiente para agir com a prudência necessária [3].
Além disso, mesmo no campo das ciências exatas, a necessidade de uma prática inter e transdisciplinar continua sendo fortemente sentida entre os físicos. É indispensável para não perder definitivamente o sentido desse sujeito, que o método científico expulsa rigorosamente de seus processos, e ser capaz de encontrá-lo no entrelaçamento com outras disciplinas [4].
Para VG, hoje, a missão da Igreja volta a se concentrar na evangelização, na comunicação da fé aos não cristãos e aos não crentes.
O resultado é uma complexificação da investigação teológica, pois a evangelização não consiste na enunciação de afirmações sobre Deus e Jesus, mas na narração dos acontecimentos: da própria crença em Jesus até como Jesus viveu, como foi condenado e morto, e como os apóstolos difundiram sua mensagem no mundo, graças à sua fé na ressurreição.
A evangelização é a transmissão de experiências. A conceituação e elaboração de afirmações garantidas para falar a verdade da fé vieram depois. O cristianismo se difundiu, viveu e trabalhou por muito tempo no mundo bem antes de o Concílio de Niceia definir o dogma da homoousía do Filho com o Pai.
Não é possível, portanto, que a teologia possa se exercitar apenas sobre asserções da fé e não na experiência integral da fé, que inclui um magma inteiro de ideias, histórias, imaginação, emoções e desejos, desolação, dúvidas e certezas alegres, na experiência infinitamente variada de acreditar.
Não se trata de deixar de assumir a experiência do crente em sua totalidade, mas sim de perceber que, em geral, as histórias e sua representação são submetidas à imaginação do crente, enquanto a teologia se preocupa imediatamente em destilar ideias e conceitos universais a partir dos detalhes de histórias e imagens.
Quase como se, de um pacote que nos chega como presente, uma vez extraído o conteúdo valioso, jogássemos fora a embalagem. A experiência estética, com suas sensações, imagens e emoções, é uma forma de conhecimento que precede o conceitual-argumentativo. Hans Urs von Balthasar construiu grande parte de sua teologia através da estética: é na forma que a revelação de Deus se cumpre (forma Christi, forma Ecclesiae...) [5].
A necessidade de uma teologia dialética
À medida que o campo e os procedimentos do conhecimento se expandiram, o campo de trabalho do teólogo também precisa ser ampliado.
Uma teologia, que eu definiria mais uma vez como dialética, consiste em um constante confronto crítico entre ideia e realidade, logos e aísthesis, discurso e imagem. Certamente não significa o abandono do conceito e do rigor lógico da argumentação, mas sim uma teologia capaz de imaginação, que providencialmente explodirá a presunção de totalidade do conceito, em constante busca do particular, o único "existente" (Lonergan: "Essentia non existit").
Por outro lado, apenas a limpeza do conceito e o rigor do procedimento lógico defendem o homem do poder avassalador da imagem e das emoções. Assim como o pensamento objetivador domina a experiência vivida da fé, a imaginação pode desencadear emoções e paixões capazes de violência [6], sem mencionar o charme ambíguo do esoterismo e da gnose.
A riqueza polissêmica da imagem desmonta a presunção do conceito de adaptação à realidade e a arrogância da lógica, enquanto a abstração do conceito e o rigor da argumentação lógica defendem o homem da criatividade selvagem da imaginação e da violência do poder da imagem [7].
Não se trata, portanto, de uma estetização da teologia, em que a interpretação selvagem da fé dominaria (seria interessante verificar se algo semelhante aconteceu e está acontecendo na Mariologia) [8], mas sim de uma hermenêutica inclusiva da fé, numa constante interação entre conceitualizar, objetivar e argumentar, e sentir, fazer, ver, tocar, contemplar. Inclui, portanto, tanto o entusiasmo da fé quanto a perda da dúvida, o regozijo e a depressão.
Seria uma questão de "destotalizar" os esquemas lógicos da teoria pura e entrelaçar suas sequências teóricas com as da práxis, sempre mantendo os problemas do relacionamento em aberto entre saber e fazer, interpretação e uso, competência simbólica e competência prática, lógica argumentativa e lógica pré-lógica do fazer (Bourdieu) [9].
Uma teologia bem equipada para enfrentar a tarefa de interpretar o mundo e a vida em todos os campos pode colocar a Igreja em posição de poder dizer que [10]:
"As alegrias e esperanças, as tristezas e angústias das pessoas de hoje, especialmente dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e esperanças, as tristezas e ansiedades dos discípulos de Cristo, e não há nada genuinamente humano que não encontre eco em seus corações".
Da mesma forma, uma teologia bem treinada na conceituação e no rigor da argumentação, desconfiada de uma fantástica poesia mística da fé (Bernardo: imaginação sim, fantasia não), dará ao Povo de Deus a capacidade de interpretar as diversas situações que a Igreja vive com um senso crítico correto e aguçado.
A desejada promoção da sinodalidade, em todos os níveis das decisões eclesiais, será frutífera na medida em que os crentes forem capazes de exercer uma função crítica sobre clichês teóricos e práticos, costumes, regulamentos e práticas adquiridas na vida das comunidades.
Referências
[1] J. L. Marion, Le visible et le révélé, Cerf, Paris 2005.
[2] A. Grillmeier, Jesus Cristo na fé da Igreja, I/2: Da época apostólica ao Concílio de Calcedônia (451), Paideia, Brescia 1982, 969f.
[3] “... per experientiam singularia infinita reducuntur ad aliqua finita quae ut in pluribus accidunt, quorum cognitio sufficit ad prudentiam humanam" (IIª-IIae q. 47 a. 3 ad 2).
[4] Ele lidera sua própria batalha em favor da transdisciplinaridade: B. Nicolescu (ed.), Transdisciplinaridade. Teoria e Prática, Hampton Press, Cresskill N. J. 2008; Id., Il manifesto della transdisciplinarità, Armando Siciliano, Messina 2014. Ver o convite de Francisco à transidisciplinaridade na teologia, Constituição Apostólica sobre as Universidades e Faculdades Eclesiásticas, 29 de janeiro de 2018.
[5] Contudo... "As imagens", Balthasar glosa sucintamente, "são sinais imediatos e interpretáveis da realidade". E ele oferece uma metáfora interpretativa perspícua que é compreensível para todo leitor ávido: "esses sinais não devem ser tratados de forma diferente das letras de um livro: eles são vistos, são lidos e, no entanto, não é a imagem escrita que está na consciência, mas o significado que é expresso nela. (eu: Na verdade, os textos lidos que determinaram você na vida permanecem emocionalmente presentes em sua memória, na imagem do livro que você segurou em suas mãos...). Assim, os sinais do ser que se manifesta devem ser lidos e encobertos ao mesmo tempo" (TADEUSZ SIEROTOWICZ, A TEORIA DA PERCEPÇÃO DE HANS URS VON BALTHASAR NA "VERDADE DO MUNDO")
[6] Veja o estudo seminal de David Freedberg, O poder das imagens. O mundo das figuras. Reações e emoções do público, Einaudi, Turim 2009 (ed.or.1989). Marie-José Mondzain, em Imagem, Ícone, Economia. As origens bizantinas da imaginação contemporânea (Jaca Book, Milão 2006); L'image peut-elle tuer? (Bayard, Paris 2002; trad.it. A imagem que mata, Dehoniane, Bolonha 2017).
[7] Sobre a imaginação na teologia, ver: N. Steeves, Graças à imaginação. Integrando a imaginação na teologia fundamental, Queriniana, Brescia 2018.
[8] J. L. Marion, Le visible et le révélé, Cerf, Paris 2005.
[9] P. Bourdieu, Le sens pratique, Editions de Minuit, Paris 1980; São Tomás aborda esse modo de pensar, afirmando que se pode julgar as coisas não apenas "secundum perfectum usum rationis", mas também "propter connaturalitatem quandam ad ea de quibus iam est iudicandum" (2a 2ae, q. 45 a. 2 c.). Para H. U. Von Balthasar (Gloria. Uma estética teológica. 1. A percepção da forma, Jaca Book, Milão 1971, 67), a investigação teológica, mesmo quando "parece mais assimilada às ciências humanas, com a sua própria necessidade de exatidão, só alcança a forma verdadeira e própria do pensamento teológico sob o impulso do eros da investigação, aqui animada não pelo demónio, mas pelo Espírito Santo".
[10] A necessidade de traduzir a percepção do objeto em palavras, escreve Jean-Jacques Wunenburger, "implica uma inibição do pathos", mas também é verdade que "a visão em sua totalidade envolve o sujeito muito mais intensamente do que a verbalização, que requer um aprendizado, uma descoberta progressiva" (Filosofia delle immagini, Einaudi, Turim 1999, 28).
Próximas conferências
No mês de abril, mais duas videoconferências estão confirmadas. O Prof. Dr. Giuseppe Lorizio, da Pontificia Università Lateranense, na Itália, refletirá sobre o “Fazer teologia em face aos fundamentalismos contemporâneos. Desafios, tarefas, perspectivas”. A palestra será transmitida dia 10-04-2025, às 10h.
No dia 29-04-2025, o Prof. Dr. Geraldo De Mori, da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia (FAJE), de Belo Horizonte, abordará o tema da transdisciplinaridade, na palestra “Fazer teologia hoje. Desafios e possibilidades da transdisciplinaridade”, às 10h.
Programação confirmada
Videoconferência: Fazer teologia hoje. A transição da sociedade da honra para a sociedade da dignidade
Palestrante: Prof. Dr. Andrea Grillo, do Pontificio Ateneo Sant'Anselmo, Itália
Quando: 13-05-2025, às 10h
Videoconferência: Desafios e perspectivas para uma teologia contextual
Palestrante: Prof. Dr. Francisco de Aquino Júnior, da Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP)
Quando: 10-07-2025, às 10h
Videoconferência: Uma teologia fundamentalmente contextual: os contextos e as pessoas importam
Palestrante: Profa. Dra. Margit Eckholt, da Universität Osnabrück, Alemanha
Quando: 15-07-2025, às 10h
Videoconferência: Reconsiderações do masculino e do feminino na teologia contemporânea. Tarefas e perspectivas
Palestrante: Profa. Dra. Kochurani Abraham, da Indian Theological Association (ITA), Índia
Quando: 22-07-2025, às 10h
As videoconferências serão transmitidas na página eletrônica do IHU, Canal do YouTube e redes sociais. A atividade é gratuita. Será fornecido certificado a quem se inscrever e, no dia do evento, assinar a presença por meio do formulário disponibilizado durante a transmissão. Os certificados estarão disponíveis em até 30 dias no portal Minha Unisinos.
A programação dos demais eventos promovidos pelo IHU neste semestre está disponível aqui.
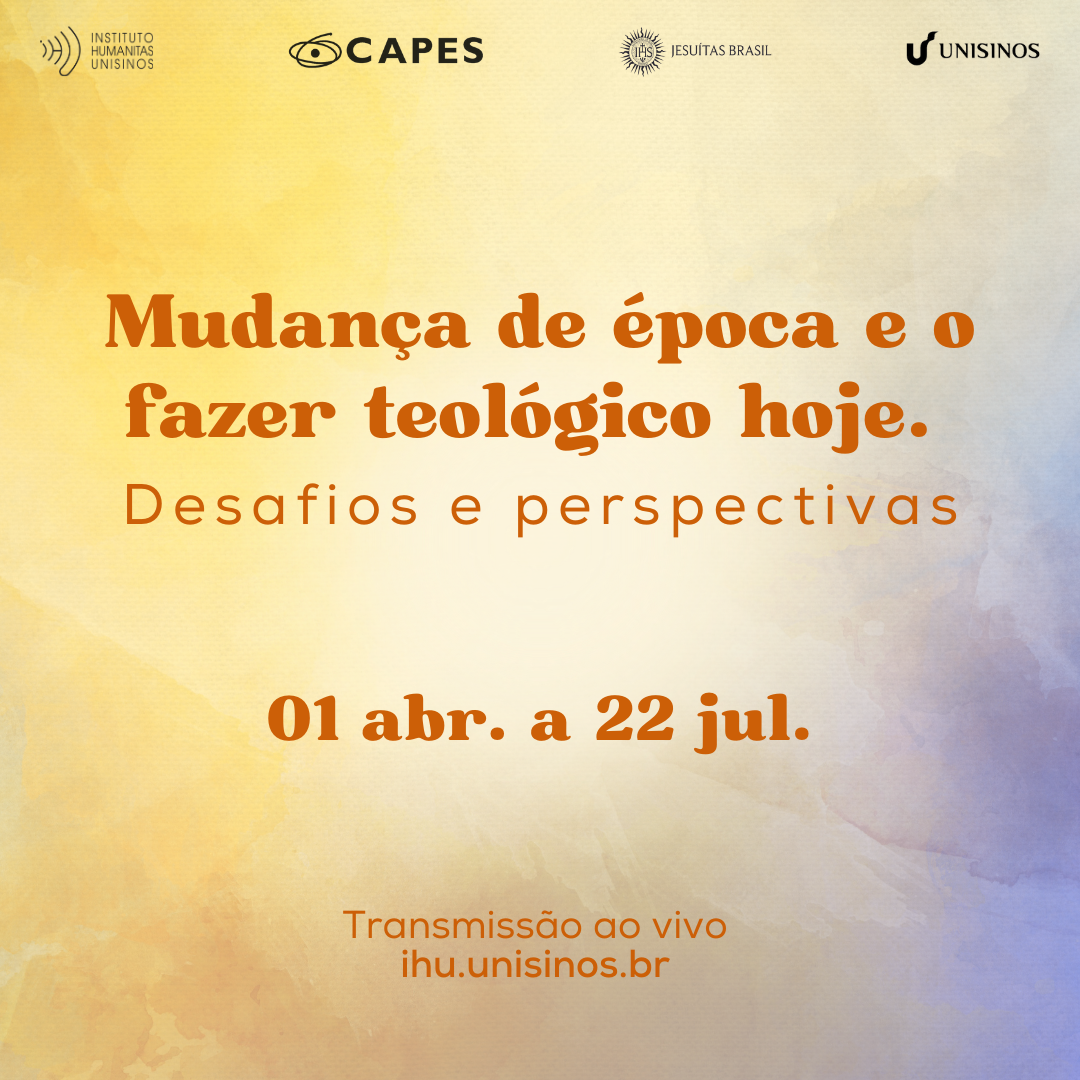
Inscreva-se no ciclo de estudos aqui.
Leia mais
- Mudança de época e o fazer teológico hoje. Do silêncio dos teólogos à vocação universal da Teologia
- A teologia rápida como resposta à mudança de época. Entrevista com Antonio Spadaro
- É o tempo de mudanças turbulentas. É por isso que precisamos de uma teologia 'rápida'. Artigo de Antonio Spadaro
- A rapidez do devir. Entrevista com Paolo Trianni
- Quem gritará contra a guerra? Artigo de Severino Dianich
- Sobre o diaconato para as mulheres: o bom uso da tradição. Artigo de Severino Dianich
- O Sínodo, os ministérios e os carismas. Artigo de Severino Dianich
- A traição dos teólogos. Artigo de Severino Dianich
- Sobre a profissão dos teólogos e das teólogas. Artigo de Severino Dianich
- A “mística teatral” de uma coroação. Artigo de Severino Dianich
- Itália: terra de missão? Artigo de Severino Dianich
- Sobre o Documento Final do Sínodo. Artigo de Severino Dianich
- Algumas reflexões no fim do Sínodo. Artigo de Severino Dianich
- Os riscos do Sínodo. Artigo de Severino Dianich
- Gustavo Gutiérrez: a Igreja, os pobres, teologia. Artigo de Severino Dianich
- Algumas reflexões no fim do Sínodo. Artigo de Severino Dianich
- Papa Francisco critica “os nacionalismos fechados e agressivos” contra os migrantes
- Israel e a água: uma arma de guerra e uma ferramenta de colonização na Palestina
- "Finalmente pegamos você": Trump prende Jeanette Vizguerra, símbolo da resistência às deportações de imigrantes
- Guerra Fria 4.0. Artigo de Domenico Quirico
- Quem gritará contra a guerra? Artigo de Severino Dianich
- Netanyahu continua sua guerra contra crianças com força total. X - Tuitadas
- Entre os filhos da guerra: “Mamãe, nos salvaremos”
- Europa. Mentiras na guerra de propaganda
- "Neste momento de doença, a guerra parece ainda mais absurda. É preciso desarmar a terra". Carta do Papa Francisco
- Bruxelas entra em "modo guerra" diante da "ameaça de uma Rússia revanchista" e aposta em compras conjuntas de armas
- Papa denuncia 'grande crise' dos planos de deportação em massa de Trump e rejeita teologia de Vance
- A teologia da “encarnação profunda”. Artigo de Paolo Trianni
- A graça da teologia: inquietação, questões, desejo. Artigo de Geraldo Luiz De Mori
- A teologia (sempre) é necessária. Artigo de Martino Rovetta
- “A ciência teológica deve ser concebida cada vez mais como sabedoria”, diz Staglianò, presidente da Pontifícia Academia de Teologia