Schmitt, diante do puritanismo normativo, trouxe luz para a questão da realpolitik, e sua influência intrínseca na criação do Estado de Direito Constitucional, das democracias liberais que hoje temos conhecimento. A norma não é pura, a norma é poder e poder é volátil, frágil aos interesses privados egoísticos, e sobre todo esse arcabouço é que nos entramos na contemporaneidade.
O artigo é de Alexandre Francisco, advogado, mestrando em filosofia pela Unisinos, bolsista CAPES/PROEX, membro da equipe do Instituto Humanitas Unisinos — IHU.
Friedrich Nietzsche está para a cultura, assim como Carl Schmitt está para a Política/Direito. Explico-me, ambos são profetas do trágico e enxergam na vida, e não na busca da verdade, a real expressão de sua filosofia. Distantes do pensamento positivista e normativo de Kant e Kelsen que buscavam por meio de categorias transcendentais, por meio de juízos sintéticos a priori, ou da norma hipotética fundamental, o fundamento de toda a conduta humana universalmente pura, sem qualquer “sujeira”.
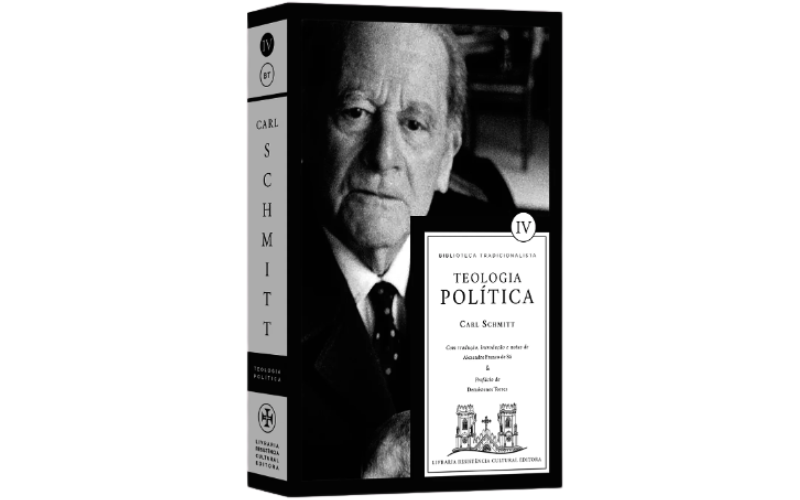
“Soberano é quem decide sobre o estado de excepção.” — assim inicia este pequeno livro originalmente publicado em 1922, logo enunciando a premissa fundamental da teoria do “decisionismo” político e jurídico. “Todos os conceitos pregnantes da doutrina moderna do Estado são conceitos teológicos secularizados.” — eis o modo, por assim dizer, preambular com que é iniciado o terceiro capítulo, que dá nome ao volume. É a partir de tais balizas que um dos mestres do direito e da filosofia do século XX vai construir a sua argumentação em torno do chamado Estado moderno e de seus postulados doutrinais. Livro: Teologia Política | Tradução de Alexandre Franco de Sá
Schmitt e Nietzsche, para o desapontamento dos puritanos, jogaram a sujeira no ventilador e o fedor tomou conta, já não era mais possível esconder a podridão de baixo do tapete. Nietzsche, descontruiu todo pensamento filosófico ocidental, por meio de suas andanças pelo proibido, desmoralizando os cristãos mais inabaláveis, deslocou o critério de verdade do transcendente direto para a vida impura, e declarou o que seria a verdadeira busca da verdade e da felicidade, trazendo o conceito de vontade de potência como sua máxima filosófica.
Schmitt, diante do puritanismo normativo, trouxe luz para a questão da realpolitik, e sua influência intrínseca na criação do Estado de Direito Constitucional, das democracias liberais que hoje temos conhecimento. A norma não é pura, a norma é poder e poder é volátil, frágil aos interesses privados egoísticos, e sobre todo esse arcabouço é que nos entramos na contemporaneidade.
Para Alexandre Franco de Sá (2024, p.36) a soberania em Carl Schmitt pode ser formulada como uma “omnipotência divina secularizada, tal como a exceção é o milagre secularizado”. Aqui temos por consequência a ideia de teologia dentro do conceito de soberania. Segundo Sá (2020, p. 36):
"A luz desta filosofia, Deus, infinito e omnipotente, estabelece no mundo, por um ato de vontade, as leis naturais pelas quais tudo se encontra ordenado. No entanto, não lhes fica vinculado e pode interromper o seu curso, dando origem ao milagre. Do mesmo modo se passaria, no plano secular da política, com o soberano. Também este tem um poder criador e infinito sobre as leis, cujo fundamento é o próprio poder indisputado da soberania. Segundo a formulação paradigmática de Thomas Hobbes, que Schmitt cita frequentemente: auctoritas, non veritas, facit legem; é a autoridade, não a verdade que faz a lei.”
Essa analogia entre a soberania e o milagre reflete a base teológico-política do pensamento schmittiano. O soberano, assim como Deus na teologia tradicional, possui o poder de criar e suspender as normas, exercendo um domínio absoluto sobre a ordem jurídica. Essa concepção revela uma tensão fundamental entre a legalidade e a decisão política, pois o fundamento último da soberania não se encontra em um princípio normativo, mas sim na decisão daquele que detém o poder. Nesse sentido, Schmitt enfatiza o papel da autoridade como o elemento constitutivo do ordenamento jurídico. Essa visão implica que o direito não preexiste à decisão soberana, mas é constituído por ela, reforçando a noção de que a exceção precede a regra na estrutura do poder político.
Se a soberania se manifesta na decisão sobre a exceção, isso significa que a estabilidade do ordenamento jurídico depende, em última instância, da existência de uma autoridade que possa, se necessário, suspendê-lo. Esse modelo de soberania tem sido amplamente discutido em contextos contemporâneos, especialmente em relação às políticas de segurança e aos estados de exceção decretados por governos em tempos de crise.
O soberano não é meramente aquele investido de um poder normativo formal ou cuja legitimidade decorre da tradição jurídica estabelecida, mas sim o agente capaz de intervir decisivamente quando a ordem legal mostra-se insuficiente para lidar com a emergência. Essa intervenção, que se traduz na suspensão temporária das normas preexistentes, permite a criação de uma nova ordem, emergencial e adaptada às circunstâncias críticas. Para Schmitt, a soberania, portanto, não se restringe ao exercício habitual do poder, mas se destaca justamente na capacidade de romper com a rigidez do direito positivo para responder a eventos inesperados que desafiam a estabilidade social e política.
A interpretação que Schmitt faz de Hobbes leva à compreensão de que a decisão soberana é o meio pelo qual se erradica a desordem característica do estado de natureza, instaurando a ordem estatal a partir da figura do soberano. Assim, a decisão se configura como um princípio absoluto, uma ditadura que institui a ordem e combate a insegurança anárquica anterior e exterior ao Estado. O soberano, ao decidir, age como um juiz, respondendo às circunstâncias concretas e contingentes. Dessa forma, a soberania, em Schmitt, é delineada por uma concepção específica de Estado fundamentada na decisão da unidade política.
Os conceitos de decisão, representação e soberania estruturam a noção de Constituição, que, segundo Schmitt, se define essencialmente pela determinação da forma de existência política. Como para Schmitt o soberano é aquele que decide sobre o Estado de Exceção, a exceção deve ser compreendida como um conceito central da teoria do Estado. O soberano não se restringe a ocupar o topo de uma estrutura burocrática normativa, mas é aquele que detém a prerrogativa de decidir sobre a realidade dos fatos e acontecimentos, determinando os meios para enfrentá-los.
Na teoria de Schmitt, não há espaço para justificativas legitimistas no sentido normativista, baseadas em um fundamento moral ou racional. A ordem – seja social, política ou jurídica – surge de uma decisão e adquire legitimidade ao se originar do agrupamento amigo-inimigo, que constitui a unidade política. É nesse agrupamento que reside o Poder Constituinte, responsável pela decisão soberana de instituir a ordem.
Em meio à organização racional e meticulosa do direito positivo, que busca regular a vida política por meio de normas pré-estabelecidas, surge a necessidade de uma resposta que transcende os limites da previsibilidade normativa. É exatamente nesse contexto que a figura do soberano adquire um papel central: ele é o decisor que, ao declarar o Estado de Exceção, suspende momentaneamente a ordem legal vigente, permitindo, assim, a implementação de medidas extraordinárias que visam restaurar a ordem e garantir a continuidade do funcionamento do Estado.
Essa capacidade de agir fora dos parâmetros estabelecidos pelo direito, mas ao mesmo tempo dentro dele, não é um mero desvio, mas uma função essencial para lidar com o caos e a imprevisibilidade inerentes às crises, evidenciando a natureza paradoxal da soberania schmittiana, que se realiza justamente na sua exceção. Entretanto, o perigo encontra-se quando a exceção vira regra, e o que era crise transitória, torna-se ditadura permanente. Logo, a positivação de tal mecanismo dentro das cartas magnas possibilitam a própria fragilidade constitucional, diante da concentração dos poderes na mão do soberano.
De acordo com Cardoso (2009, p.81), o Estado de Exceção representa o fundamento subjacente à norma na doutrina de Schmitt, pois "a situação normal não faz sentido se não exclui a situação anormal, excepcional". Dessa forma, a exceção, ao constituir uma situação anômala, é o que institui e confere validade à norma.
Esse entendimento da soberania como uma prerrogativa de decisão em momentos críticos levanta importantes questões sobre os limites da legalidade e a natureza do poder político. Para Schmitt, a soberania não é apenas uma questão de competência jurídica, mas um princípio fundamental da ordem política, o que implica que a autoridade do soberano transcende a normatividade jurídica tradicional.
Como já visto antes, a crítica de Schmitt ao liberalismo jurídico e à formalidade excessiva do direito é um aspecto central de sua reflexão. A crença de que todas as situações políticas possam ser antecipadas e reguladas por normas previamente definidas ignora a complexidade das crises, nas quais a rigidez normativa se torna um obstáculo para a tomada de decisões eficazes. A teoria de Schmitt vem se mostrando cada vez mais precisa, principalmente com a ascensão chinesa no cenário global. Constata-se que a China, considerada um “Socialismo de Mercado”, cada vez mais, ganha protagonismo econômico por meio do impulsionamento estatal, divergindo principalmente da realidade americana, que está atrelada a uma política complexa dominada pelo financismo e interesses privados por meio de lobby de megacorporações e bilionários donos de bigtechs.
Ou seja, há uma disparidade no tempo político entre os dois sistemas econômicos vigentes. Mas até que ponto um forte controle do estado sobre os meios de organização política permite a liberdade inerente ao seu funcionamento, e até que ponto, a dita democracia liberal discute realmente o interesse público, ante de ser dominada pelo interesse privado, virando uma plutocracia? A questão é complexa e exige uma análise profunda.
Portanto, ao enfatizar o papel do soberano na declaração do Estado de Exceção, Schmitt não só propõe uma reflexão sobre os mecanismos de poder em momentos de crise, mas também desafia os modelos democráticos que privilegiam a deliberação coletiva e o consenso. A sua análise revela que, em determinadas circunstâncias, a eficácia do Estado depende da capacidade de concentrar o poder decisório em uma única autoridade que possa agir rapidamente, sem estar restringida pelos processos burocráticos e legais que, em tempos normais, são essenciais para a manutenção da ordem democrática. Essa tensão entre a necessidade de uma ação decisiva e a preservação das liberdades civis permanece um tema controverso e de extrema relevância nos debates contemporâneos, pois ilustra como a proteção da ordem pode, em momentos excepcionais, entrar em conflito com os princípios fundamentais de uma sociedade aberta e plural.
Uma das questões mais relevantes ao pensarmos o Estado de Exceção, diz respeito a sua impossibilidade de tipificação normativa do que se entende por “crise” do estado, nesse sentido, diante de uma situação de risco a existência do estado, como seria possível estabelecer parâmetros conscientes de limite de atuação do poder soberano? A questão se mostra pertinente a partir do entendimento de que os limites da atuação do soberano, não podem ser capturados por algo que está para além das possibilidades de tipificação legal, dadas a sua amplitude de causalidade. E a partir daí, somente o poder soberano teria possibilidades de sanar a crise existente, pois seu poder também se demonstra como ilimitado. Assim determina Schmitt:
A questão que o autor coloca é que o âmbito jurídico não dá conta do conceito da Exceção, sendo imprescindível, a análise histórico-filosófica ou metafísica. A exceção constitui um fenômeno que transcende o que é concebível nos termos das condições normativas da vida política, ou seja, desafia as categorias de compreensão convencional do direito e da política e, portanto, demanda uma investigação cuidadosa de seu estatuto ontológico. Pensar a exceção exige ir além dos instrumentos conceituais que empregamos no cotidiano das nações e das relações ordinárias entre Estado e sociedade.