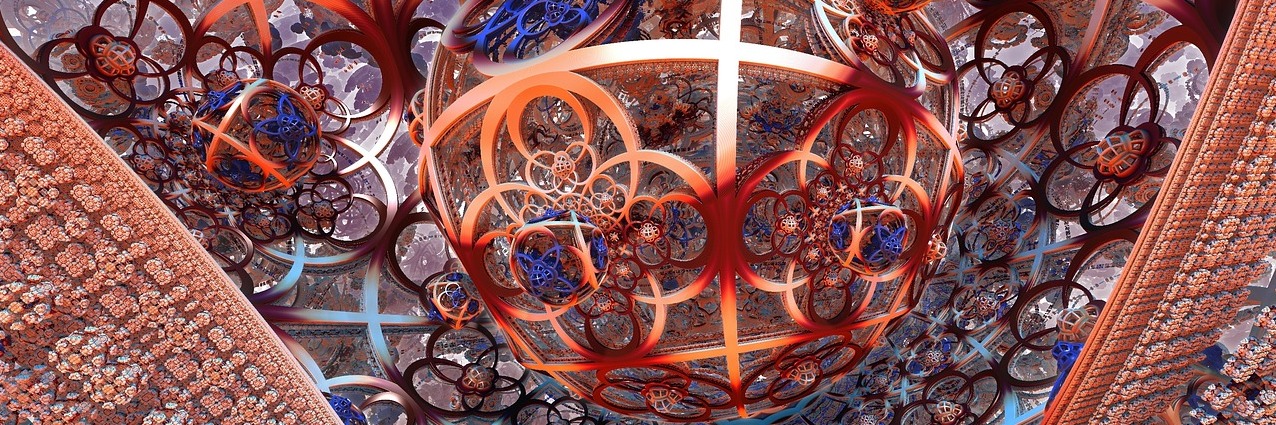23 Abril 2025
"De frente às duas expressões contemporâneas da consciência ecológica, pela ordem de manifestação, Hans Jonas e Papa Francisco, dada a necessidade de cuidados urgentes com a natureza, mostram-se necessários aportes ao campo da política. Por certo, a parolagem política ignora (quase) completamente o desatino em curso, denunciado há décadas por Herbert Marcuse e Paulo VI, se prescindida a primeira denúncia cabal, a de Marx".
O artigo é de Antonio Valverde, professor do Programa de pós-graduação em filosofia da PUC-SP, publicado por A Terra é Redonda, 21-04-2025.
Segundo ele, "Para a possível materialização das concepções de Francisco e de Jonas, acerca da morada comum e da preservação da natureza, torna-se necessário um novo regime econômico-político. Não há conserto, nem concerto, em regime político fundado no liberalismo, que cumpriu as suas premissas, sob o modo de produção capitalista. Afinal, urge olhar com olhos livres, aos moldes de Rosa Luxemburgo ao registrar: “Quem não se movimenta, não sente as correntes que o prendem”.
Eis o artigo.
“Nenhuma fórmula para a contemporânea expressão do mundo. Ver com olhos livres.” (Oswald de Andrade, Manifesto da Poesia Pau-Brasil)
“Temporizemos.” (Murilo Mendes, “Origem, memória, contato, iniciação”, A Idade do Serrote)
1.
Passados cinquenta anos da Conferência de Estocolmo e trinta da Rio-92, acaso será ainda necessário operar um balanço das providências reais, tomadas em escala mundial para a preservação da natureza e o controle climático? Posto que o planeta se encontra degradado, cumulativamente, para tais índices. Havendo pouco ou quase nada a comemorar. (Folha de São Paulo, 05 de junho de 2022). [i]
Por mais que se fale de avanço da consciência ecológica, de par com o interesse pelos direitos humanos, entrados em movimento nas rotas de reivindicação e de manutenção dos direitos civis e trabalhistas, através de leis, constituições e a formação de grupos de ação política institucional e grupos de resistência direta. Contudo, ainda sem massa histórica de negação efetiva da ordem econômico-política, capaz de conter o mais que provável colapso da natureza e a derrocada dos direitos conquistados.
O termo “parolagem”, substantivo derivado do verbo parolar, “falar demasiadamente” e “tagarelar, sinonímiade conversar” (HOUAISS, 2004, p. 2137). Para o caso, o sentido apropriado e adequado remete ao termo desconversa, tal como Mário de Andrade referia-se à cultura da desconversa, a brasileira, dada certa obviedade e redundância. A referência ao termo inspira-se, circunstancialmente, no poema ‘Parolagem da Vida”, de Carlos Drummond de Andrade (DRUMMOND, 1979, p. 448-449) [ii]. Assim, parolagem, ao modo desconversa, pode ser compósita ao exercício de desnaturar palavras do campo político, recolhida da análise de Marat, em Grilhões da Liberdade, que registra o fato das palavras perderem o sentido original forte e confundir o cidadão [iii].
Tipificado com o conceito de justiça sob transfiguração para o de injustiça. Especificamente, trata-se da parolagem política acerca de práticas necessárias para a preservação da natureza e de todas as implicações advindas desse que fazer. No mais das vezes, a desconversa política navega formatada por mares ignotos de mera retórica desqualificada. Assim, termos desnaturados expressam parte substancial da parolagem política.
2.
Francis Bacon, cunhara a ideia, que findou reduzida ao dístico “saber é poder”, adotado como expressão incondicional do Esclarecimento, por derivação direta do aforismo III, Livro I, de o Novum Organum. Todavia, “Saber é poder, também (continha) o poder de concretizar os antigos sonhos dos inventores e seguramente realizar a magia, quando não a superá-la pela audácia.” Vez que o Barão de Verulamo consumava a evidência das “lacunas do saber anterior”. Para tanto, seria necessário “inventar segundo as regras, (o que) pressupõe a progressão do particular para o geral” (BLOCH, 2, 37, 2006, p. 204-205) [iv]. Pela efetivação da forma indução verdadeira, segundo o Inglês, mais complexa que a noção de indução de Roger Bacon.
Porém, durante o século XX, por certo atavismo, ocorrera a inversão da ordem dos termos, passando a vigorar a instância de “o saber sem poder e poder sem saber”, que adentrara as pesquisas acadêmicas em vista de manipulações dos seus resultados pelo poder real, tanto ao campo da política, a parlamentar, como o da organizacional. Mediando a questão, em 1979, Mauricio Tragtenberg ajuizara: “O que nos interessa é saber em que condições o Poder produz um tipo de saber necessário à dominação e em que medida esse saber aplicado reproduz o Poder.”
Afinal o “‘sei que nada sei’ só é aplicável em formações pré-capitalistas, porque não conduz a um domínio do homem sobre a natureza ou sobre o ambiente social mais amplo.” Assim, “com o capitalismo (…) o saber instrumental adquire características dominantes, a cumprir a premissa baconiana, pois, o saber identificou-se ao poder, o “que implica em domínio sobre o ambiente.” Mais, de “Bacon ao positivismo e ao neopositivismo, definiu-se uma linha de saber instrumental, uma validade que depende de comprovação empírica.” Assim, o “‘saber tem status na medida em que se constitui em saber ‘aplicado’”.
Porquanto, a ‘instrumentalização do saber é uma das características dominantes da cultura do capitalismo contemporâneo”, que, sob a capa de aparelhos ideológicos, tem fornecido “especialistas para os setores empresariais e governamentais”, sobremaneira, aos governos norte-americanos, há décadas (TRAGTENBERG, 1979, p. 27).
Em verdade, a constatação e a análise seguem válidas se ampliadas até o passo da definição corrente de Idade da Bomba atômica, trazida à cena histórica pela atual guerra da Ucrânia. Afinal, a guerra da Ucrânia se emparelha ao ensaio ocorrido em Guernica, durante a Guerra Civil Espanhola, porém, ampliada para testagem do poder de destruição por armas sofisticadas, ao limite das atômicas. Ao tempo da contingência de uma guerra, quiçá a Terceira Guerra mundial, – qual uma bomba relógio armada.
3.
De frente às duas expressões contemporâneas da consciência ecológica, pela ordem de manifestação, Hans Jonas e Papa Francisco, dada a necessidade de cuidados urgentes com a natureza, mostram-se necessários aportes ao campo da política. Por certo, a parolagem política ignora (quase) completamente o desatino em curso, denunciado há décadas por Herbert Marcuse e Paulo VI, se prescindida a primeira denúncia cabal, a de Marx, confluídas no Livro III, de O Capital (SAITO, 2021) [v].
Outrossim, se deixada para outra oportunidade a abordagem da deep ecology, criada por Arne Naess (1912-2009), de divulgação estrita a poucos estudiosos e epígonos. Sem segregar a sabedoria ancestral advinda do universo mítico Yanomani, relatada pelo xamã Davi Kopenawa, acerca da relação homem-natureza, mediada pelos espíritos da floresta (KOPENAWA, 2015), dentre outros povos circunscritos às mundividências ameríndia e africana. Além da alternativa ecossocialista, criada por Joel Kovel, Michael Löwy, em 2001 (LÖWY, 2014, p. 119-128). Assim, as consciências críticas de Jonas e Francisco dão a ver, pontualmente, um dos temas fundamentais do tempo presente, porém, pensados na linha do reformismo generalizado [vi].
O “poder sem saber e o saber sem poder” apontam para o divórcio entre o conhecimento proporcionado pela ciência, aditado da especulação ética e a sabedoria milenar da tradição judaico-cristã, versus o poder real, sob autocracias pujantes e democracias decadentes, de todas as ordens, no faiscar do tempo presente. Poderes submissos ao capital em crise e à “nova razão do mundo”, a neoliberal, segundo Hardot e Laval (2016). Em verdade, o capital vive da sucessão de crises, ultimamente, demarcadas pela crise de 1974, continuada pela de 2008, ainda sem resolução, se houver. [vii] Contudo, sem aparente crise da forma capital financeiro. O tema será retomado adiante.
A Encíclica Laudato Si’ – acerca do cuidado da morada comum se apresenta como a manifestação mais ousada e oportuna em termos de explicitação do pensamento cristão-ecológico da Igreja, assinada por um papa. Ao criticar o consumismo dos países ricos, reproduzido em baixo relevo pelos pobres, a relembrar a necessidade de muitos planetas Terra para dar conta do ritmo de produção e destruição de mercadorias, redundantemente, da nomeada sociedade de consumo. E por consequência, mantenedora da desigualdade social e da pobreza, em escala mundial, desde os planejamentos econômicos elaborados para suas manutenções, e, em escala regional, o mesmo modelo tem sido replicado, como mostrara Celso Furtado ad nauseam, para o caso brasileiro.
A um tempo em que as religiões parecem operar sem profetismo, a Encíclica, em pauta, de modo contemporizado, inscreve-se ao campo da tradição do profetismo veterotestamentário. Contemporizado, porque parece difícil evocar Deus para um movimento de intervenção na História. O próprio Hans Jonas lamentou tal dificuldade, ao refletir acerca do campo de concentração nazista mais cruel, em O conceito de Deus após Auschwitz: uma voz judia. Em que se lê: “O Senhor da História, nós suspeitamos, terá que ficar de fora […]. (Pois,) que Deus poderia deixar que isso acontecesse?” (JONAS, 2016, p. 21). Como se fosse possível aquilatar diferenças de crueldade nos campos de concentração sob regimes autoritários, por consequência, totalitários.
A propósito, Herbert Marcuse não diferenciava os autoritarismos soviético do nazista, o fascista do sistema político norte-americano. O último pela via da liberdade, da democracia e da promoção de falsas necessidades inventadas e combinadas às mercadorias programadas para obsolescência. Logo, uma forma de escravidão contemporânea, pois, uma “falta de liberdade confortável, suave, razoável e democrática prevalece na civilização industrial avançada, um símbolo do progresso técnico” (MARCUSE, 1964, p. 13) [viii]. Pois que as mercadorias se mostram extremamente sedutoras, sob sistemas de crediário acoplados, idem.
Porém, como quer o Poeta, “temporizemos” [ix], a dizer “atualizemos” ao observar o profeta Daniel interpretando o sonho do rei Nabucodonosor, sob título promissor, “O sonho da grande árvore”.
Ei-lo, o relato do rei: “Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa, prosperando em meu palácio. Tive um sonho, e ele me assustou; devaneios sobre meu leito, e as visões do meu espírito me atormentaram. Dei ordem de introduzir em minha presença os sábios de Babilônia, para que me fizessem conhecer a interpretação do sonho. Então, entraram os magos, os feiticeiros, os caldeus e os adivinhos; narrei o sonho em sua presença, mas eles não me deram a conhecer sua interpretação. Finalmente, entrou Daniel […] Narrei o sonho em sua presença: […] Nas visões de meu espírito sobre meu leito, eu via, e eis uma árvore, no meio da terra, cuja altura era imensa. A árvore tornou-se grande e forte; sua altura chegava até o céu, e sua imagem, até as extremidades da terra. Sua folhagem era bela e seus frutos, abundantes; havia nela alimento para todos. Sob ela se abrigavam os animais dos campos, nas suas ramagens pousavam os pássaros do céu, e dela se alimentava toda a carne. Eu via, nas visões de meu espírito, no meu leito, e eis que descia do céu um Vigilante, um Santo. Ele gritou com voz forte: “Derrubai a árvore e cortai sua ramagem! Despojai-a de sua folhagem e espalhai seus frutos! Que os animais fujam debaixo dela, e os pássaros de sua ramagem! Mas, a cepa de suas raízes, deixai-a na terra, e acorrentada com ferro e bronze, na vegetação do campo! Ela será banhada pelo orvalho do céu, e terá como herança a erva da terra com os animais. Seu coração será mudado para que não seja mais um coração de homem, e lhe será dado um coração de animal. Depois, sete períodos passarão sobre ela. A sentença se dá por decreto dos Vigilantes, e a questão por ordem dos Santos, para que os viventes reconheçam que o Altíssimo é soberano da realeza dos homens, que ele a dá a quem quer e exalta o mais humilde dos homens. Tal é o sonho que tive, eu, o rei Nabucodonosor. Quanto a ti, (Daniel) […] dá sua interpretação” (DANIEL, 4, 1-15, 2015).
Ao que Daniel instado a interpretar, aterrorizado, responde: “Meu Senhor, que o sonho seja para teus inimigos, e sua interpretação para teus adversários! A árvore que viste, que se tornou grande e forte, cuja altura chegava ao céu e a aparência, à terra inteira, cuja folhagem era bela e os frutos abundantes, e na qual havia alimentos para todos: sob a qual habitavam os animais dos campos e em cuja folhagem se aninhavam os pássaros do céu: és tu, ó rei! Porque te tornastes grande e forte; tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e tua soberania, às extremidades da terra. […] Tal é a interpretação, ó rei! Tu serás expulso de entre os homens; terás tua morada com os animais dos campos; serás alimentado com ervas como os bois e serás banhado com o orvalho do céu; e sete períodos passarão sobre ti, até que reconheças que o Altíssimo é o soberano da realeza dos homens e que ele a dá a quem quer” (DANIEL, 4, 21-22, 2015) [x].
Ao delito de abuso do poder, a punição divina regridiu o rei à animalidade, sem esperança de algum sinal de humanidade de sua parte. Metaforicamente, a árvore gigantesca ceifada reduz-se a um toco acorrentado, que não mais poderá suplantar sua nova condição.
4.
Retida de uma passagem do livro Revelação, o Apocalipse de João, referido por Marx em nota de rodapé nos Grundrisse, ao analisar a passagem do dinheiro ao capital, que parece ilustrar, salvo anacronismo, um passo da situação política daquele momento. João o escrevera desde a ilha de Patmos, no Mar Egeu, por volta de 64 d.C, cumprindo a condenação imposta por Nero. Imperador que teve Sêneca como preceptor, a quem dedicara Da Clemência, considerada a obra inaugural do gênero specula principum.
Contudo, pouco resultou da tentativa de espelhar padrões morais, e Seneca suicidou, para aquém da motivação de sua firmeza estoica, sob ordem do Imperador. Todavia, João alegorizou o fim da autocracia de Nero, identificado como a Besta em o Apocalipse, sem prescindir da radicalização do espírito profético judaico, em que se lê: “Ela (a besta, Hataninin) realiza grandes prodígios que lhe foi concedido realizar, a ponto de fazer descer fogo do céu sobre a terra, à vista de todos. […] Faz também com todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na fronte. E ninguém mais poderá comprar ou vender, se não tiver a marca, o nome da besta ou o número do seu nome” (Revelação de João, Apocalipse, 13, 13, 15-17, 2015).
Não obstante, na visão de mundo judaica, antiga, economia e religiosidade não se separavam, antes, a economia era um elemento do sagrado. A ponto de as riquezas serem guardadas no templo. De estilo alegórico, qual metáfora continuada, esticando a compreensão para o tempo presente, pode-se ilustrar com o que se passa nos quatro cantos do mundo industrial avançado e em desenvolvimento: autocratas dando as cartas da ação política, sob as marcas do capital movidas pela redução de tudo a mercadorias, mas sob a expropriação travada de mais-valia. Ao menos nos países periféricos da ordem mundial.
Entanto, ocorre que a partir do século XVII, a terra que, havida como herança de Deus, transformou-se em propriedade privada. Locke teorizara a respeito. Assim, a noção de “morada comum” parece passar ao largo do princípio basilar do liberalismo. Segundo Marcuse, von Mises grafou “liberalismo é propriedade”, antecipando o neoliberalismo corrente, em décadas. [xi] (MARCUSE, 1997, p. 53). Passo seguinte, seria o de entender o fenômeno do fascismo, entendido como revolução dentro da ordem (BERNARDO, 2022, p. 17) [xii]. Assunto sem margem, incircunscrito, por isto mais relevante que o problema do neoliberalismo. O fascismo oculta-se, abaixo do horizonte, sob fachada, dissimuladamente, inconsistente, contudo, autocrática, demolidora da civilização e dos direitos.
5.
Penso que a política, a grande política, implica de antemão a escolha e / ou a criação do regime político adequado para o cumprimento de tais desígnios apontados por um e outro. Na tradição ocidental, desde os Romanos Antigos, o regime republicano se mostrou como o regime político por excelência, embora capaz de promover a estabilidade política, sob tensão. Sobretudo, porque conseguia explicitar os conflitos sociais, que são naturais, resultantes da diferença de humor, segundo Maquiavel, entre o humor dos ricos e o dos pobres. A ponto de incorporar e assimilar a representação política da Plebe, na forma tribunos da Plebe, que não detinham poder de criar leis, mas o de barrar as leis engendradas pelos senadores, representantes de patrícios e de aristocratas (MACHIAVELLI, I, v. 2, X, 1999).
Ressalvado que a República estável ou o regime misto, segundo Aristóteles, subsistiu apesar da tensão constante e de lutas intestinas. Além de contar com uma religião criada pelo rei Numa Pompílio, a figurar como “instrumento da política”, sólido cimento de coesão social, a compor parte do poder real de controle em tempos pré-republicanos. Pois, os homens obedeciam, verdadeiramente, os princípios religiosos, sob juramento, nem tanto aos civis sob a mesma condição (SGANZERLA, 2004). A República Romana perdurou por sete séculos, contados em linha reta, ao passo que a democracia grega, praticamente, cem anos.
Ora o espírito republicano romano sofreu um processo de temporização por Maquiavel, como se lê nos Discorsi. O criador da filosofia política moderna modulou e pautou o que viria a ser a tônica republicana da Idade Moderna. Ao que Jonas, de certa forma, tangencia Maquiavel, aproximando-se mais de O Príncipe, ao imaginar o papel do estadista capaz de ajustar a grande política às demandas éticas de preservação da natureza e de arredores de suas consequências e de implicações.
Em O Princípio Responsabilidade, o modelo de estadista sugerido deve construir para si a virtù necessária para as decisões viris imprescindíveis, em vista do Bem Comum, melhor se renomeado de Bem Público. À sua vez, Max Weber também se inspirara em Maquiavel para projetar a ética de responsabilidade e a de compromisso, ao escalpo da dominação de classe. A primeira votada à ação política ampla e ao domínio das decisões do universo público. A outra, ao circuito das interações de caráter privado, advindo de valores familiares, religiosos, das relações de amizade, mas equivocadas e temerárias se aplicadas ao campo político, o campo da vida pública. Jonas não se esquivou do problema, mas, não considerou a necessidade de definição de um regime político apropriado aos desígnios da ética da responsabilidade.
Ademais, o passo adiante deu-se com a concepção de cidadão (VALVERDE; BRAGA, 2020), com direitos no sentido amplo e com deveres no restrito, segundo Pufendorf, sob a capa do liberalismo em construção, de par com a fundação da democracia, demarcada por uma classe social, a burguesa, assimilada e expandida pelas nações do Ocidente, atualizadas historicamente. Logo, não por todas as nações do Planeta.
Contudo, dialeticamente, uma força se levantou e se organizou à medida que as relações sociais de produção se complexificaram, a partir do século XIX. Forçando a emergência do socialismo (HONNET, 2022, p. 23-51) [xiii], deveras superior a concepção anterior de ordem social, enquanto regime político-econômico, tendo por horizonte o cumprimento da justiça distributiva dos bens produzidos, das riquezas da natureza, desde a coletivização dos meios de produção, a par de promover a dignidade humana. De modo a suplantar os princípios liberais, através de seu viés imanente.
Afinal, os princípios liberais: liberdade econômica, liberdade política e liberdade de expressão, segundo Herbert Marcuse, já cumpriram suas premissas. (MARCUSE, 1964) [xiv]. Ainda que o liberalismo siga compondo, fortemente, o teto ideológico mais geral, projetado tal uma cortina de fumaça a embaçar a compreensão do que se passa na base material da sociedade. Se as premissas se cumpriram, sobretudo nas sociedades industriais avançadas, pensando, hegelianamente, mostra-se urgente reinventar a liberdade social, a um ponto que seja possível eliminar a forma política tal como tem sido entendida e praticada.
Por hipótese, nenhum outro regime se apresenta de modo superior à democracia inventada pela burguesia revolucionária, que o socialismo de matriz autogestionária, a invenção política dos de baixo, dos trabalhadores extorquidos, expropriados pela mais-valia (mais valor) em todos os setores da produção e da reprodução, tal qual a dos professores e dos médicos em situação de proletarização e de outras categorias profissionais liberais.
De par com a constatação de que a democracia, no sentido forte do termo, regime político em que o povo detém a hegemonia do poder, não se efetiva em nenhum lugar do mundo. Salvo em rarefeitos momentos históricos, por instalações rapidamente sufocadas. Como as mais significativas faíscas do tempo presente, contrariamente, pela oportunidade de ser negada.
Assim, penso que, para obtenção da materialidade necessária à discussão política, seja o regime socialista de timbre autogestionário, o mais capaz de reinvenção da liberdade social,[xv] que se ponha como primeira opção. Aos moldes do realizado – por brevíssimo tempo – pela Comuna de Paris, de 1871. Primeira opção para superar o cataclisma do sorvedouro político em que as sociedades nacional e mundial se encontram, na atualidade. Seguida do modelo de organização econômico-social praticada pelos socialistas libertários durante a Guerra Civil Espanhola (SANTILLÁN, 1978).
Para tanto será oportuno liquidar as fossilizações conservadoras e reacionárias acerca do socialismo, vez que o regime voou alto ao imaginar perspectivas e horizontes, como quer Axel Honneth desde a sua emergência. Em consequência, a proposição do Frankfurtiano move-se para um experimentalismo socialista, consideradas as pequenas iniciativas de produzir e consumir de modo coletivizado e autonomizado. Escapando do mote teleológico de aguardar o fim histórico do modo de produção capitalista para provocar a ascensão do novo modelo socialista de viver (HONNETH, 2022, p. 89-122).
Assim, se atualizados todos os nortes do problema político, a sociedade socialista poderá organizar-se pautada pela autogestão social de toda produção e reprodução material e espiritual. Organizada por conselhos autogestionários para cada instância de produção e de reprodução da vida social. E por representantes dos conselhos para as decisões coletivas, sob a forma federação em âmbito nacional. Modelo conhecido desde meados do século XIX. Redivivo com o ocorrido no Chile, recentemente, a ilustrar a força da organização social pela base, fundada na ação política autogestionária.
Em consequência, uma das metas de um novo regime político deverá ser o fim do Estado, mantenedor da ordem e dos interesses do capital e de classe. Agravado sob as determinações da ideologia materializada pela forma neoliberalismo. Destarte, um passo adiante poderá vir-a-ser o cumprimento da “determinação ontonegativa da politicidade”, principiada pela destruição do Estado, segundo Marx, interpretada, no detalhe, por Chasin (CHASIN, 2000, p. 129-161). A cumprir a demanda urgente da pauta de reivindicações sociais, para além das lamentações e dos fracassos frente a inamovível indisponibilidade do Estado, de par com a ação política contemporânea, negativista de modo geral.
Pois, subsiste a necessidade urgente da sociedade livrar-se das amarras castradoras da liberdade social, operadas e concatenadas pela reduzida democracia liberal desde seus fins e pelo Estado, representante dos interesses, em largo espectro, da burguesia.
6.
De outra passagem do Apocalipse de João, se estendida a metaforização do profetismo, pode mostrar-se rediviva, e, aparentemente, sem resolução política imediata. Acima, lembrada a passagem de João em nota de rodapé marxiana, elucidativa do milagre de transformação do dinheiro em capital, antes comentada por Engels. A apropriação da expressão joanina sob a forma de ligação direta não tem valor, a não ser se entendida como alegoria, metáfora continuada para o tempo presente, em que o regime democrático se auto sufoca sob a maré autocrática da política.
No Brasil e em quase todas as partes do mundo, figura a Besta se interpondo por sobre os direitos civis. Contra a Besta, organizada e dissimulada desde o capital e recorrida ao Estado, de cima para baixo da escala social, não parece haver outra alternativa que o regime socialista, pautado pela autogestão social. Fora disto, barbárie. E da barbárie anti civilizacional, como antecipara Vico, dado o excesso de racionalidade em curso, inaugurado da matriz cartesiana.
Barbárie é regressividade no tempo, que está de volta à cena mundial. Qual antídoto sociopolítico poderá se apresentar como superior ao socialismo autogestionário? Às margens do modo de organização social de vida de indígenas ameríndios. Em que o cacique aconselha, sem nada impor. E o xamã reorganiza o tempo na linha da conciliação do homem com a natureza.
Porque pensar a política é, antes de nada, pensar o regime político capaz de suplantar e de efetivar o avanço social, para além das premissas cumpridas do liberalismo. Na linha do superar conservando o que de melhor o regime republicano democrático colocou em cena, mesmo que através de contradições, sob ordens variadas.
Assim, os pensamentos de Jonas e de Francisco acerca das mazelas ambientais gravíssimas, para ambos, e da excessiva pobreza para o segundo, poderão quiçá almejar algum horizonte de negação das condições sociais e econômicas? Fora disto, reiteram-se, cumulativamente, a barbárie e a luta pela sobrevivência de todos os seres, humanos, animais, vegetais. Porém, sem o regime político necessário e adequado, cai-se no vazio repetitivo e demagógico da parolagem dos discursos políticos.
Para a possível materialização das concepções de Francisco e de Jonas, acerca da morada comum e da preservação da natureza, torna-se necessário um novo regime econômico-político. Não há conserto, nem concerto, em regime político fundado no liberalismo, que cumpriu as suas premissas, sob o modo de produção capitalista. Afinal, urge olhar com olhos livres, aos moldes de Rosa Luxemburgo ao registar: “Quem não se movimenta, não sente as correntes que o prendem”. Rosa, a primeira a discutir o comunismo dos primeiros cristãos, em O socialismo e as Igrejas: o comunismo dos primeiros cristãos, de 1905 (LUXEMBURGO, 2015). Tema desaparecido das encíclicas, antes incluso pela negativa. Todavia, Salvador Dalí extrapolara a noção de olhar livre com a expressão de distinção entre “ver e enxergar”.
Em verdade, e de certa forma, o ensaio em tela inspira-se em parte na Laudato Si’, parágrafo 111, em que se lê: “A cultura ecológica não se pode reduzir a uma série de respostas urgentes e parciais para os problemas que vão surgindo à volta da degradação ambiental do esgotamento das reservas naturais e da poluição.” Passagem preparatória para a inspiração pelos termos: “Deveria ser um olhar diferente, um pensamento, uma política [xvi], um programa educativo, um estilo de vida e uma espiritualidade que oponham resistência ao avanço do paradigma tecnocrático”.
Porque caso contrário, afirma Francisco, “até as melhores iniciativas ecologistas podem acabar bloqueadas na mesma lógica globalizada.” Vez que buscar “apenas um remédio técnico para cada problema ambiental que aparece, é isolar coisas que, na realidade, estão interligadas e esconder os problemas verdadeiros e mais profundos do sistema mundial” (FRANCISCO, 2015, § 111).
A premissa do olhar livre, invade o parágrafo 112, em que Francisco arma o foco e registra: “Todavia é possível voltar a ampliar o olhar [xvii] e a liberdade humana é (sic) sendo capaz de limitar a técnica, orientá-la e colocá-la ao serviço de outro tipo de progresso, mais saudável, mais humano, mais social, mais integral” [xviii].
Ao que adita sob provável linha de autogestão da produção: “De fato verifica-se a libertação do paradigma tecnocrático em algumas ocasiões. Por exemplo, quando comunidades de pequenos produtores optam por sistemas de produção menos poluente, defendendo um modelo não consumista de vida. Ou quando a técnica tem em vista, prioritariamente, resolver os problemas concretos dos outros, com o compromisso de os ajudar a viver com mais dignidade e menor sofrimento”.
Em concessão estética vivencial, registra que “ainda quando a busca criadora do belo e a sua contemplação conseguem superar o poder objetivador numa espécie de salvação, que acontece na beleza e na pessoa que a contempla” (FRANCISCO, 2015, § 112).
Ora, o modelo de agricultura coletivizada remonta à tradição da “mir” [xix], praticada pelos camponeses russos, durante o século XIX, entrado o XX, porém, desmobilizados por Stalin, sob a voracidade dos planos quinquenais, que findaram por esgotar o solo russo cultivável. A ser resgatado, quiçá, pela ação da economia solidária e pelo incipiente movimento da chamada “economia de Francisco”.
Ao final, a Encíclica deriva para considerações acerca da “necessidade de defender o trabalho”. A suplantar a mensagem de 1891, de a Rerum Novarum, que aconselhava a reforma do modo de produção capitalista e a participação nos lucros da empresa pelos trabalhadores, na linha da justiça distributiva. Atualizando também a Laborens Exercens, de João Paulo II, 1981.
7.
Contudo, para cumprimento da perspectiva socialista autogestionária haverá a premência filosófica de fundação de um novo Aufklärung, calcada em afetos e não mais na racionalidade, filha do Esclarecimento. Por certo, em processo de falência. Mas, tendo o afeto esperança à testa, como pensa Ernst Bloch (BLOCH, I, 2005).
A um tempo, em que “um homem sem qualidades é feito de qualidades sem homem”. Robert Musil alegorizara, antecipadamente, o andamento ético jonasiano ao asseverar que “hoje […] a responsabilidade já não tem seu centro de gravidade no homem, mas em contextos objetivos. Não notaram que as vivências agora independem das pessoas?” Ao que arrematara: “E na medida em que hoje as vivências não se situam no trabalho, ficam no ar; quem ainda pode dizer, hoje em dia, que sua raiva é realmente sua raiva, quando tantas pessoas se metem no assunto e entendem mais do que ela? Surgiu um mundo de qualidades sem homem, de vivências sem quem as vive, e quase parece que, num caso ideal, o ser humano já não vive mais nada pessoalmente, e o amável peso da responsabilidade pessoal se dilui num sistema de fórmulas de significados possíveis. Provavelmente a diluição do comportamento antropocêntrico que julgou o homem centro do universo, mas há séculos está desaparecendo, por fim chegou ao próprio eu; pois a crença de que o mais importante na vivência é que se viva, e na ação o mais importante é que aja, começa parecer ingenuidade para a maioria das pessoas (MUSIL, 2015, p. 160)”.
Se Kant pensou a necessidade de refundar, metafisicamente, o dever, Jonas ousou transfigurar o dever em responsabilidade. Ambos, dever e responsabilidade mostram-se preexistentes no universo dos costumes, de onde toda ética deve progredir e firmar-se. Sucede que, por vezes, dever e responsabilidade parecem não compor fortemente os costumes internalizados, logo com pouca possibilidade de ultrapassar a pulverização dos valores morais ao tempo presente. Ocorre interrogar: o que se pode esperar sob o modo de produção capitalista e o teto da nova razão do mundo, a neoliberal, acerca do dever transfigurado em responsabilidade?
Afinal, se pensar é transgredir, a filosofia e a história da filosofia podem tornar-se ferramentas excelentes ao engendramento da transgressão do pensar fossilizado. Para não serem mais reproduzida, acriticamente. Observando a premissa de transformar o mundo, após séculos de acúmulo de interpretações filosóficas (do mundo). Ao contrário, tornou-se urgente “ver e enxergar com olhos livres!”. Ao dar adeus à parolagem política, quiçá principiará o movimento de abre-alas à autogestão social! Por certo, sem imaginar que esta seja um antídoto radical para as mazelas sociais, mas o possível alcançável no tempo presente, para além da parolagem política, do neoliberalismo e da face mais cruel do modo de produção capitalista, exibida desde a crise de 1974, a acumular escombros civilizatórios frente a emergência da barbárie contemporânea.
Referências
BACON, F., Novum Organum ou verdadeiras indicações acerca da interpretação da natureza, 2ª edição, tradução José Aluysio Reis de Andrade, São Paulo, Abril Cultural, 1979. (Col. “Os Pensadores”, Bacon).
BECKER, N. J. R., A agricultura soviética, Revista Brasileira de Economia, v. 18, n. 4, 1964, p. 129-159.
BERNARDO, J., O inimigo oculto: ensaio sobre a luta de classes. Manifesto anti-ecológico, Porto, Afrontamento, 1979.
________, O Labirinto do fascismo: na encruzilhada da ordem e da revolta, vol. I, São Paulo, Hedra, 2022. (06 volumes).
BÍBLIA (Tradução ecumênica), 2ª edição, São Paulo, Loyola, 2015.
BLOCH, E., O Princípio Esperança, v. I, tradução Nélio Schneider, Rio de Janeiro, Contraponto / EdUERJ, 2005.
_____, O Princípio Esperança, v. II, tradução Werner Fuchs, Rio de Janeiro, Contraponto / EdUERJ, 2006.
CHASIN, J., Marx – A determinação ontonegativa da politicidade, Ensaios Ad Hominem, tomo III – Política, Santo André, 2000, p. 129-161.
DARDOT, P.; LAVAL, C., Nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal, tradução Mariana Echalar, São Paulo, Boitempo, 2016.
DRUMMOND de ANDRADE, C., “As impurezas do branco”, In: ________, Poesia e prosa, volume único, Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 1979, p. 427-497.
FRANCISCO, Laudato Si’: sobre o cuidado da casa comum, São Paulo, Loyola / Paulus, 2015.
GUIMARÃES ROSA, J., Grande Sertão: Veredas, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 2006.
HOUAISS, A., Dicionário Houaiss da língua português, Rio de Janeiro, Objetiva, 2004.
HONNET, A., O direito da liberdade, tradução Saulo Krieger, São Paulo, Martins Fontes, 2015.
______, A ideia de socialismo: ensaio para uma atualização, tradução Saulo Krieger, São Paulo, Martins Fontes, 2022.
JONAS, H., O Princípio Responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica, tradução Marijane Lisboa e Luis Barros Montez, Rio de Janeiro, Contraponto / PUC-Rio, 2006. (JONAS, H., Das Prinzip Verantwortung: Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2003).
_____, O conceito de Deus após Auschwitz: uma voz judia, tradução Lillian Simone Godoy Fonseca, São Paulo, Paulus, 2016.
KOPENAWA, D. e ALBERT, B., A queda do céu: palavras de um xamã yanomami, tradução Beatriz Perrone-Moisés, São Paulo, Cia. das Letras, 2015.
LÖWY, M., O que é ecossocialismo? 2ª edição, São Paulo, Cortez, 2014.
LUXEMBURGO, R., O socialismo e as igrejas: o comunismo dos primeiros cristãos, São Paulo, Iskra, 2015.
MACHIAVELLI, N., “Libro Secondo – Discorsi sopra la prima deca de Tito Livio”, In: ___________, Opere I, v. 2, a cura di Rinaldo Rinaldi, Torino, UTET, 1999, p. 723-943.
MARAT, J-P., Les Chaînes de l’Esclavage, Paris, Union Générale d’Éditions, 1972.
MARCUSE, H., One-Dimensional Man: Studies in the ideology of Advanced Industrial Society, Boston, Beacon, 1964.
_______, “O Combate ao Liberalismo na Concepção Totalitária de Estado”, In: _______, Cultura e sociedade, tradução de Wolfgang Leo Maar et alii, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1997, p. 47-88.
MENDES, M., “A idade do serrote”, In: ______, Poesia completa e prosa, Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 1995, p. 893-975.
MUSIL, R., O homem sem qualidades, tradução Lya Luft; Carlos Abbenseth, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 2015.
SAITO, Kohei (2021), O ecossocialismo de Karl Marx: capitalismo, natureza e a crítica inacabada à economia política, tradução Pedro Davoglio, São Paulo, Boitempo.
SANTILLÁN. D. A., El Organismo Economico de la Revolución, Bilbao/Madrid, Zero/ZYX, 1978. – Diego Abbad Santillán, pseudônimo de Sinesio Baudillo Garcia Fernandez. (1897-1983).
SCHÖKEL, A.; SICRE, J. L., Profetas: II. Ezequiel – Doce Profetas Menores- Daniel – Baruc – Carta de ]eremias. Madrid, Cristandad, 1980.
SGANZERLA, A., Maquiavel, a religião como instrumento da política. Dissertação de Mestrado, PPG em Filosofia da PUC-SP, 2004.
TRAGTENBERG, M., A delinquência acadêmica: o poder sem saber e o saber sem poder, São Paulo, Rumo, 1979.
VALVERDE, A., A palavra cão não morde. Cognitio-Estudos, v. 17, n. 2, São Paulo, CEP/PUC-SP, julho-dezembro 2020, p. 314-337.
VALVERDE, A. J. R.; BRAGA, L. C. M., Direitos Humanos: por uma cidadania autogestionária, Aufklärung, v. 7, n. 3, João Pessoa, setembro-dezembro, 2020, p. 69-84.
Leia mais
- “Procuremos ser uma Igreja que encontra caminhos novos”. Entrevista com o Papa Francisco
- O Papa Francisco não é um nome mas um projeto de Igreja. Artigo de Leonardo Boff
- Igreja de São Francisco? Avaliando um papado e seu legado. Artigo de Massimo Faggioli
- “Papa Francisco, um pontificado em nome de Inácio”. Artigo de Antonio Spadaro
- Papa Francisco: sofrimento oferecido ao Senhor pela paz mundial e fraternidade dos povos
- A sucessão do Papa mergulha a Igreja na incerteza diante da onda ultraconservadora. Artigo de Jesús Bastante
- O Papa Francisco teve a coragem moral de defender a Terra e seus povos
- A passagem do Papa Francisco na Páscoa nos convida a encontrar Cristo no caminho da Galileia
- Francisco: uma humanidade transcendente. Artigo de Timothy Snyder
- Mundo ecumênico lamenta falecimento do Papa Francisco
- Papa Francisco: Há cheiro de saudade na tenda que abriste. Artigo de Mauro Nascimento
- Papa Francisco deixa legado de consciência ambiental para o mundo
- Teólogo africano diz que o Papa Francisco foi um papa pós-colonial
- Últimas horas do Papa Francisco: mensagem de Páscoa, saudação à multidão, derrame matinal
- Os ensinamentos magistrais do Papa Francisco, assim como a sua reverência pelo dom da criação, permanecerão vivos. Artigo de Michael Sean Winters
- O legado de Francisco permanece vivo enquanto mulher de destaque do Vaticano recebe convite acidental para reunião de cardeais
- Francisco: um dom do Espírito. Editorial de Settimana News
- São divulgadas as primeiras imagens do Papa Francisco no caixão
- Breves considerações sobre o Papa Francisco, por Tales Ab’Saber
- Papa Francisco assumiu a causa indígena, afirma Cimi
- “Francisco não é um papa de esquerda, nem reacionário”. Entrevista com Javier Cercas
- “Em Gaza só a morte vence, não há paz sem os dois estados. Por causa dos casais homossexuais me atacam, mas não temo um cisma”. Entrevista com o Papa Francisco
- Erdogan denuncia o “massacre” de Israel em Gaza em conversa com o Papa Francisco
- "Neste momento de doença, a guerra parece ainda mais absurda. É preciso desarmar a terra". Carta do Papa Francisco
- D. Paglia: “O uso da IA nas guerras preocupa o Papa, no G7 ele pedirá a intervenção dos governos”
- A guerra na Ucrânia: não tenham vergonha de negociar. Entrevista com Papa Francisco
- “A guerra é um crime contra a humanidade”, afirma o Papa Francisco
- Guerra na Ucrânia vs Cardeal Zuppi: por que a Europa não apoia a iniciativa de paz do Papa? Entrevista com Cardeal Matteo Zuppi
- “Nenhuma guerra vale as lágrimas de uma mãe”, diz o Papa Francisco
- “Sonho com uma Europa que apague os focos das guerras e acenda as luzes da esperança”. Discurso do Papa Francisco em Portugal
- “O neoliberalismo é um totalitarismo invertido”. Entrevista com Alain Caillé
- Convivialidade e decrescimento. Artigo de Serge Latouche. Cadernos IHU ideias, Nº. 166
- O decrescimento como condição de uma sociedade convivial. Artigo de Serge Latouche. Cadernos IHU ideias, Nº. 56
- ''O verdadeiro dom é oferecer ao outro a possibilidade de doar.'' Entrevista com Alain Caillé
- “O convivialismo, uma ideia nova para evitar a catástrofe”. Entrevista com Alain Caillé
- Por uma sociedade convivial. Entrevista com Alain Caillé
- Entre a extrema-direita e o conservadorismo radicalizado. Entrevista com Natascha Strobl
- “Milei é um populista de extrema direita, um louco ideológico”. Entrevista com Federico Finchelstein
- A ascensão da extrema direita. Artigo de Alejandro Pérez Polo
- Esquerda deve ter estratégias de comunicação para vencer extrema direita, diz pesquisadora
- Intelectuais alertam sobre o avanço da extrema direita
- Argentina. Mudança: consequências e questões. Artigo de Washington Uranga
- Um fascismo renovado percorre a Europa
- Um desafio para a Europa: Giorgia Meloni e seu partido de extrema-direita, Fratelli D’Italia
- O mapa mundi se povoou de ultradireitistas. De Le Pen e Salvini na Europa, passando por Duterte, nas Filipinas, até Bolsonaro, no Brasil
- “O neoliberalismo é um modo de totalitarismo”. A psicanalista Nora Merlin e o novo paradigma político