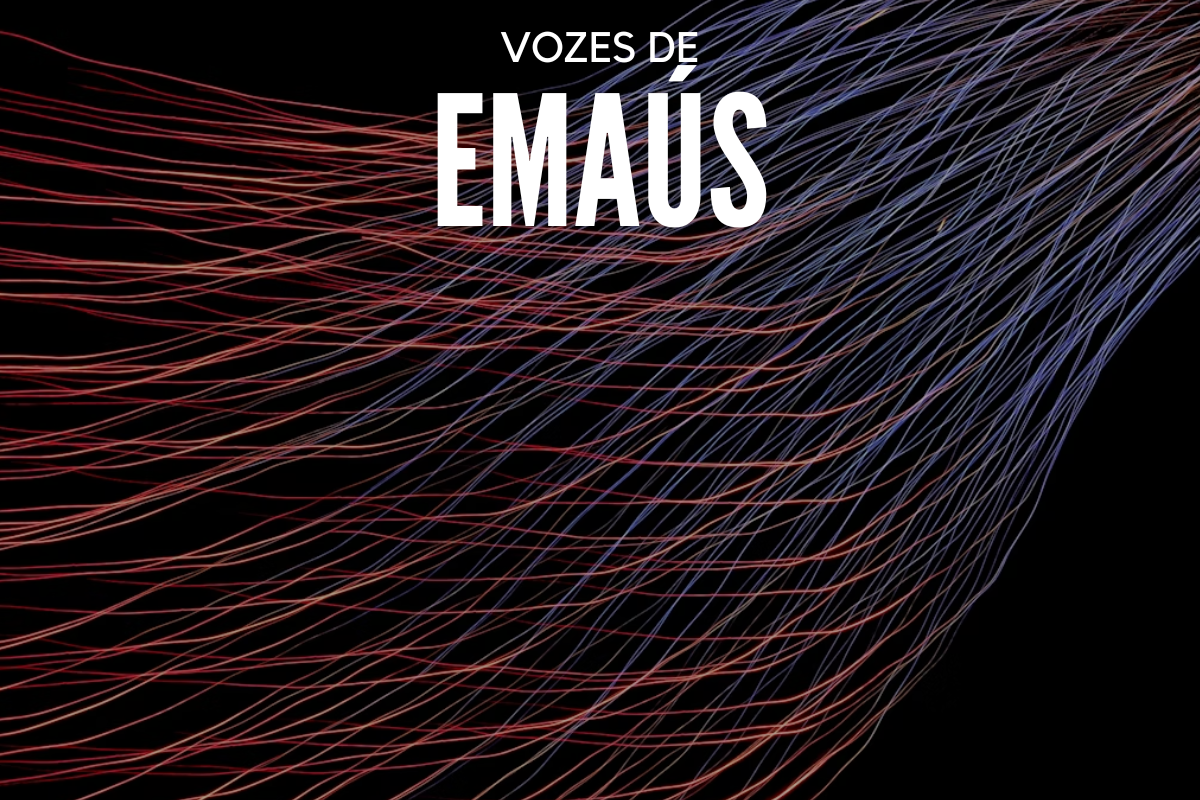30 Abril 2025
Parece que os famosos "freios e contrapesos" estão falhando. Ou, pelo menos, eles estão demorando para ativar. Seja como for, a separação de poderes manca diante de um poder executivo desencadeado.
O artigo é de Sebastiaan Faber, professor de Estudos Hispânicos no Oberlin College, publicado por Ctxt, 30-04-2025.
Eis o artigo.
Nos Estados Unidos, estamos em tumulto e perplexidade há cem dias. Vimos juízes detidos; cidadãos e residentes legais sequestrados por agentes de imigração encapuzados que os prendem e deportam sem proteção legal ou provas (muito menos a oportunidade de submetê-los a exame); agências federais – incluindo aquelas encarregadas de proteger os cidadãos de abusos bancários e corporativos, alimentos contaminados, toxinas ambientais ou doenças contagiosas – dizimadas ou abolidas, com milhares de funcionários demitidos; programas de desenvolvimento social e internacional cortados; bilhões de financiamento de pesquisa científica suspensos; tratados internacionais quebrados; alianças militares minadas; e advogados, mídia, jornalistas, universidades, professores e estudantes chantageados por um poder executivo que não hesita em instrumentalizar o Departamento de Justiça para perseguir dissidentes e inimigos políticos.
Não passa um dia sem expandir a lista de excessos perpetrados pelo governo Trump, cujas ações obedecem a uma combinação confusa de roteiros cuidadosamente preparados (Projeto 2025), os desejos ideológicos contraditórios dos conselheiros do presidente (do neocatólico J.D. Vance e o distópico tech bro Elon Musk ao supremacista branco Stephen Miller, o tributarista Peter Navarro e o antivaxxer R.F. Kennedy), o desleixo e a incompetência de outros membros de sua equipe ministerial (Pete Hegseth em Defesa e Pam Bondi em Justiça) e os reflexos da máfia e a impulsividade narcisista do próprio presidente. Juntos, eles mergulharam o país no caos e na insegurança.
Como foi possível infligir tanto dano em apenas cem dias? Parece que os famosos freios e contrapesos estão falhando. Ou, pelo menos, eles estão demorando para serem ativados. Seja como for, o Trias Político manca diante de um poder executivo desencadeado. O poder legislativo – apenas o Congresso pode remover o presidente por meio de impeachment – tomou uma posição. No Poder Judiciário, a luta é desigual. Enquanto Trump e sua equipe se deliciam em ignorar as regras, aqueles que se opõem a ele são forçados a segui-las escrupulosamente. Os tribunais, aos quais milhares de vítimas têm recorrido durante esses primeiros cem dias pela mão de sindicatos e organizações como a American Civil Liberties Union (ACLU), têm seus próprios ritmos. A verdade é que os juízes federais – incluindo aqueles nomeados por Trump e outros presidentes republicanos – estão fazendo seu trabalho. Cada vez mais casos e casos estão se aproximando da mesa da Suprema Corte, que em janeiro de 2024 fortaleceu a imunidade presidencial, mas em breve enfrentará um dos maiores testes de legitimidade de sua história.
Mesmo assim, nenhum desses fatores é suficiente para explicar a extensão do dano e a facilidade com que ele foi perpetrado. A verdade é que os impulsos destrutivos de Trump e sua equipe serviram para revelar fraquezas estruturais na república americana cujas causas remontam pelo menos a meados da década de 1990. Em uma inspeção mais detalhada, Trump e companhia se viram no terreno fertilizados por uma longa série de tendências, e nem todas realizadas pela direita.
Uma delas é a expansão do poder executivo às custas do Congresso. Embora a história americana tenha vários presidentes que expandiram seu poder a esse respeito – incluindo democratas como Franklin D. Roosevelt durante a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial e Bill Clinton, que depois de dois anos na Casa Branca teve que lidar com a obstrução de um Congresso republicano – foi George W. Bush quem, na esteira dos ataques de 11 de setembro de 2001, abriu o caminho para que seus sucessores tirassem proveito de um controle muito mais frouxo dos poderes legislativo e judiciário.
A expansão do poder presidencial desde 2001 não apenas restringiu o papel do Senado e da Câmara dos Representantes no controle do executivo. Também corroeu os direitos constitucionais da população, especialmente após a adoção do Patriot Act (outubro de 2001), que instrumentalizou a ameaça contínua do "terrorismo" para legitimar programas de vigilância massiva como os revelados por Edward Snowden em 2013, além da detenção, tortura, prisão por tempo indeterminado ou assassinato extralegal de suspeitos ignorando todas as garantias constitucionais.
O presidente Obama, eleito em 2008, não hesitou em aproveitar essa nova margem de movimento em sua política externa (incluindo a multiplicação de ataques de drones ou intervenção militar na Líbia) e, na esfera doméstica (por exemplo, na perseguição cruel de jornalistas que recebem vazamentos). E embora Obama tenha usado o instrumento de ordens executivas para proteger certas categorias de imigrantes indocumentados (como jovens indocumentados protegidos pelo DACA), isso não impediu que as deportações de migrantes condenados por crimes ou pegos tentando cruzar a fronteira ilegalmente aumentassem sob sua supervisão. (Por outro lado, a política de imigração de Obama continuou um processo de endurecimento iniciado por Bill Clinton.)
Há também tendências socioeconômicas de longo prazo que abriram caminho para Trump. Por exemplo, o enfraquecimento gradual do movimento sindical. Aqui, novamente, a política econômica de Bill Clinton – desindustrialização e livre comércio – foi fundamental, o que mais tarde foi reforçado por Bush, Obama e Trump. (Biden, nisso, foi uma exceção.) Quem acabou pagando o preço por essa traição à classe trabalhadora foi Hillary Clinton quando, em 2016 – duas décadas depois que seu marido assinou o Acordo de Livre Comercial dos EUA – ela perdeu eleitores importantes no Cinturão da Ferrugem.
Ao deixar o movimento trabalhista perder sua presença, o Partido Democrata cavou sua própria sepultura em estados como Ohio, Wisconsin e Michigan. Ao longo do século XX, os sindicatos foram a pedra angular da sociedade civil americana: não apenas porque ajudaram a aliviar a desigualdade econômica, mas porque funcionaram como veículos para a educação política. "O simples fato de pertencer a um sindicato demonstrou moldar a consciência política e reduzir a atração por partidos autoritários de extrema direita", disse-me o jornalista Dan Kaufman em 2018. "O declínio dos sindicatos como espaços de socialização contribuiu para a vitória de Trump."
Não é surpreendente, portanto, que a destruição do tecido sindical tenha sido por muitas décadas um objetivo explícito dos grandes think tanks e lobbies da direita americana, como o American Legislative Exchange Council (ALEC), que há quinze anos transformou o estado de Wisconsin em seu laboratório, começando com a destruição dos sindicatos de professores e funcionários públicos.
Como demonstra o caso de Wisconsin, foi no nível estadual que a erosão gradual da democracia americana foi mais flagrante. Nesta área, o Partido Republicano tem sido o principal culpado. Nas últimas duas décadas, sua política de gerrymandering - o redesenho dos distritos eleitorais para favorecer seus próprios candidatos - teve uma série de efeitos perversos que se reforçam mutuamente. Assim, possibilitou que o Partido Republicano alcançasse maiorias absolutas em ambas as casas e a liderança (a chamada trifeta) em 23 governos estaduais, em comparação com 13 para o Partido Democrata; governos que, por sua vez, controlam o desenho dos distritos eleitorais. Os governos estaduais também são responsáveis por áreas de competência, como política educacional, acesso ao aborto e infraestruturas eleitorais (incluindo, crucialmente, registro eleitoral e acesso às urnas nas eleições presidenciais). No governo federal, os efeitos do gerrymandering foram mais óbvios na Câmara dos Deputados, onde favoreceu candidatos mais radicais.
Os governos estaduais de maioria republicana são os que nos últimos dez anos se lançaram totalmente na guerra cultural no campo da educação primária, secundária e universitária, exigindo maior controle sobre o conteúdo curricular e o corpo docente. Essa guerra cultural foi travada, supostamente, para proteger alunos e estudantes contra uma série de espantalhos com nomes mutáveis: Politicamente Correto (PC); Teoria Crítica da Raça (CRT); acordou; marxismo cultural; cultura do cancelamento; o Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI). É um movimento que Trump avidamente aderiu no final de seu primeiro mandato – quando reagiu contra o Projeto 1619 do New York Times – e desde o primeiro dia de sua segunda passagem pela Casa Branca.
Apesar das advertências histéricas da direita americana e de alguns especialistas liberais, a "cultura do cancelamento" nunca representou uma ameaça séria à liberdade de expressão ou acadêmica. Em todo o caso, tem sido um perigo infinitamente menor do que as políticas que foram adoptadas com a desculpa de o atenuar. Estes serviram para minar a liberdade de ensino e a segurança no emprego do pessoal docente. No estado de Indiana – para dar apenas um exemplo entre muitos – as aulas universitárias agora são obrigadas a refletir um "equilíbrio" entre as visões políticas e os alunos são incentivados a denunciar professores suspeitos de transgredir a norma – ou de deixar a área de assunto de sua aula ou disciplina, o que também é proibido. As primeiras reclamações já estão sendo processadas. Uma lei semelhante acaba de ser adotada em Ohio.
Argumentar que a cultura woke é o que provocou ataques de direita ao mundo educacional é como culpar a Ucrânia pela invasão russa. Mesmo assim, chama a atenção que, em sua guerra cultural contra escolas e universidades, a direita tenha conseguido adotar as táticas da esquerda, voltadas para a vulnerabilidade dos estudantes, sem muita dificuldade. Assim, seu alarme com o suposto antissemitismo nas universidades (que hoje serve para justificar os ataques a Harvard, Columbia e outros centros privados) é alimentado pelo discurso dos direitos civis; sua proibição de abordar "conceitos divisivos" nas aulas invoca o "desconforto" que esses conceitos causariam nos alunos; e sua criação de novas leis que buscam regular o conteúdo do currículo refletem uma ingenuidade semelhante à que moveu uma certa esquerda universitária nas últimas décadas.
Como Laura Kipnis apontou com referência à gestão das relações sexuais nos campi universitários, uma coisa é lutar contra a discriminação ou o estupro; outra muito diferente é a ideia de que todos os conflitos e problemas sociais e políticos têm soluções burocráticas ou judiciais. A criação de cada vez mais regras, definições e protocolos, implementados por órgãos administrativos que também se encarregam de educar, julgar e punir a população universitária, acaba por infantilizar o corpo discente, em especial as mulheres, que delegam sua autonomia e agência – além de seus direitos – às autoridades de sua universidade, ao mesmo tempo em que aprendem a se enxergar como pessoas vulneráveis, sempre vítimas potenciais de traumas paralisantes. Para Kipnis, esta é uma regressão política que sacrifica grande parte das vitórias do feminismo.
São tendências como essas que explicam por que as universidades estão tão despreparadas para a guerra em que Trump as mergulhou. Por muitos anos, os líderes universitários subordinaram os valores éticos e acadêmicos que celebram retoricamente a outras necessidades práticas: proteger a marca, evitar má publicidade, cortejar doadores, controlar professores e alunos, simplificar a governança. Por outro lado, os ataques dos últimos meses estão ajudando as administrações universitárias a redescobrir um certo espírito de luta e solidariedade. Após as primeiras capitulações da Columbia – que, aliás, claramente prejudicaram sua marca – e a atitude muito mais desafiadora de Harvard (que sustentou seu prestígio), as universidades começaram a acordar e até se aliar umas às outras.
Um espírito de luta semelhante é visto no movimento sindical. Os professores de escolas públicas de Chicago, por exemplo, acabam de negociar um novo acordo que, além de um aumento salarial, incluiu proteções e recursos para estudantes e famílias indocumentados ou que precisam de moradia, bem como proteções à liberdade acadêmica (um direito que nos Estados Unidos, ao contrário da Espanha, geralmente não está associado ao ensino médio).
Também no judiciário parece haver um certo fechamento das fileiras sindicais, uma redescoberta de princípios. É impressionante, nesse sentido, que mesmo juízes conservadores nomeados por Trump e outros presidentes republicanos estejam escandalizados com as ações do atual governo federal. Ainda assim, se os últimos 100 dias mostraram alguma coisa, é que as regras e protocolos valem pouco para aqueles que estão dispostos a ignorá-los. Afinal, o judiciário não tem como executar suas sentenças, ainda mais na situação atual, onde a Suprema Corte manteve a imunidade do presidente e nem o procurador-geral nem o diretor do FBI se preocupam em manter a menor aparência de independência.
A chave, portanto, será o Congresso, que ainda demora a redescobrir os princípios de seu papel constitucional. Claro, está começando a haver movimento. Do lado esquerdo, alguns senadores e deputados começaram a se distanciar da passividade e desorientação da oposição democrata. À direita, os congressistas estão começando a sentir a pressão de seus próprios eleitores, cada vez mais descontentes com as políticas da Casa Branca. Resta saber se o Congresso será capaz de acordar antes das eleições de meio de mandato de novembro de 2026.
Leia mais
- Trump, o que está acontecendo com os Estados Unidos. Continuarão sendo uma democracia?
- “Trump quer que todos se curvem à sua vontade imperial”. Entrevista com Larry Diamond, sociólogo
- A Guerra de Trump
- EUA: Trump apoia o "plano da motosserra" de Musk em meio ao caos
- Os super-ricos no lugar do Estado: uma ameaça à democracia. Artigo de Stefano Zamagni
- Trump vem em socorro de Musk após renúncias do DOGE e o leva para sua primeira reunião de gabinete
- A emergência do autoritarismo reacionário e outras nove teses sobre a vitória de Trump. Artigo de Miguel Urbán Crespo
- O discurso inaugural de Trump é uma mistura de ego e pessimismo. Artigo de Michael Sean Winters
- Desfaçatez trumpista. Destaques da Semana
- Enquanto Trump contrata católicos, suas ações não refletem em nada a doutrina social católica. Artigo de Phyllis Zagano
- A democracia, uma prática política em declínio
- Encerramento da USAID: Vamos nos preparar urgentemente para um mundo mais sombrio
- Trump e o fantasma fascista. Artigo de Jorge Alemán
- Por trás de Musk e Trump: o surgimento de uma elite fora da lei. Artigo de Rubén Juste de Ancos
- O que é o DOGE de Musk e quem trabalha para ele?
- O pseudocristianismo de Trump é o resultado lógico do “Deus da América”. Artigo de Daniel Horan
- Revelações e tecnocracia. Artigo de Gloria Origgi
- Trump, o Estado e a Revolução. Artigo de Branko Milanovic
- Trump, Musk e o futuro da democracia. Artigo de Giuseppe Savagnone
- Regressão democrática e momento destituinte na América Latina. Artigo de Mario Ríos Fernández