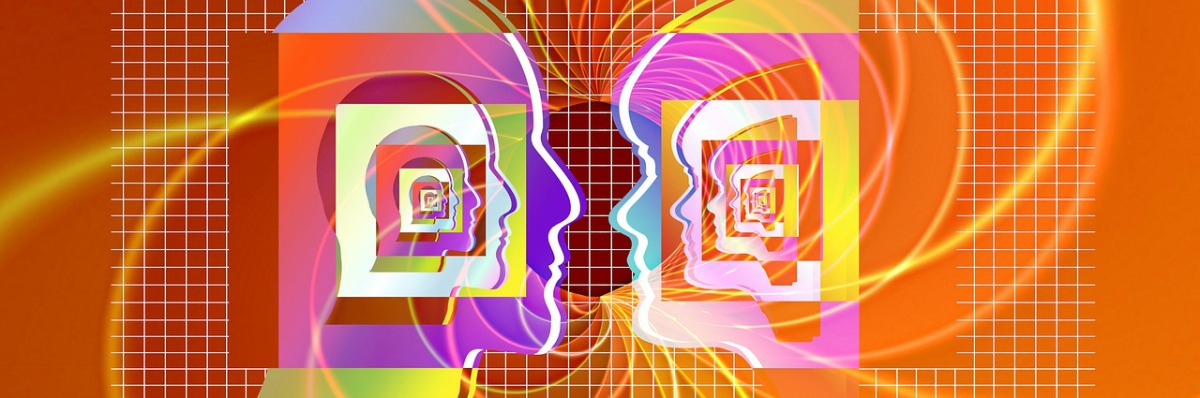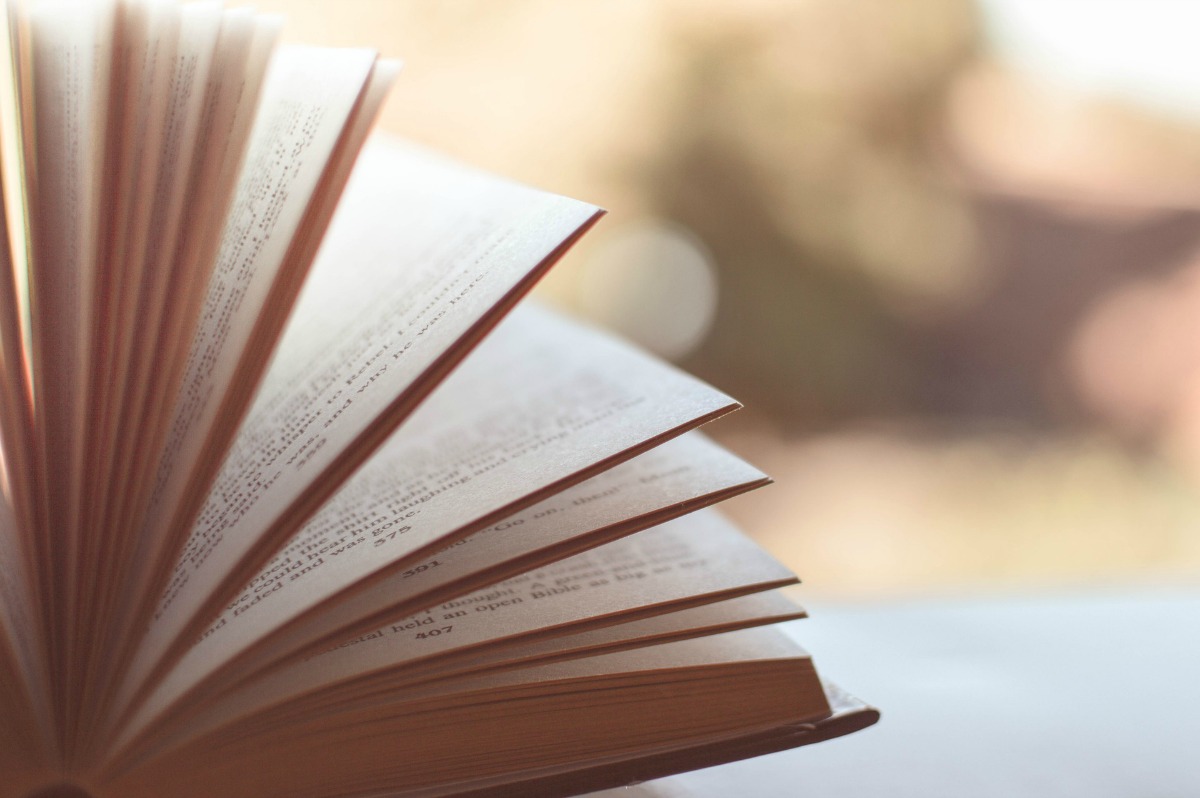01 Julho 2025
"Ainda que governos tenham avançado em políticas de comunicação proativa, alfabetização midiática e propostas de regulamentações voltadas à transparência das plataformas digitais, combate as fakes news, propostas de regulação da IA generativa, os progressos permanecem tímidos diante da rápida disseminação de desinformação, aumentando os riscos com a IA agentes e multiagentes, como denota recente relatório do MIT”, escreve Paola Cantarini, coordenadora acadêmica do Centro de Estudos Avançados do Direito e Inovação da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, em artigo publicado por Jornal da USP, 25-06-2025.
Eis o artigo.
O mundo imaginal e o futuro como porvir
A articulação entre filosofia, poética e imaginação é central para resistir à hegemonia da racionalidade tecnocientífica. Jacques Derrida, Byung-Chul Han, Henry Corbin, Gaston Bachelard e Ruha Benjamin apontam para a necessidade de mundos outros, criados a partir da insurgência simbólica, da linguagem poética e da imaginação política como força de transformação radical. Quando o futuro passa a ser imaginado como devir e porvir e não preditivo por meios algorítmicos que reduzem a complexidade e multiplicidade do mundo e do ser humano em uma razão instrumental vocacionada à eficiência e maximização de lucro.
Heidegger, em particular, valorizava a poesia como um modo de pensamento que pode desvelar a verdade e permitir uma compreensão mais profunda da nossa relação com o mundo e a tecnologia, vendo a linguagem poética como fundamental para resistir à coisificação do mundo promovida pela técnica moderna. Heidegger, especialmente em Poetry, Language, Thought, propõe que a poesia é a linguagem originária do ser, anterior à linguagem instrumental e à racionalidade técnica. Nesse ensaio sobre Hölderlin, afirma que é pela poesia que o ser humano habita o mundo, pois ela abre espaços de sentido e funda mundos. A poética, portanto, não é ornamento, mas a forma mais radical de pensamento, pois permite o acesso ao ser de modo não calculante, não instrumental.
A poética, nesse sentido, não é apenas uma forma de expressão estética, mas uma ferramenta crítica para questionar e transformar a nossa relação com a realidade. Como dispõe Friedrich Nietzsche a poesia seria uma forma de afirmação da vida e uma resposta ao niilismo da modernidade, uma forma de resistência à técnica. No seu livro Race After Technology: Abolitionist Tools for the New Jim Code, Ruha Benjamin explora como a tecnologia pode perpetuar e amplificar desigualdades raciais, como um new jim code, trazendo diversos exemplos concretos de resistência à técnica, mostrando como comunidades marginalizadas utilizam a criatividade e a inovação para desafiar e subverter os sistemas opressivos, sendo exemplos, o desenvolvimento de tecnologias alternativas por meio da criação de ferramentas e plataformas que priorizam a justiça social e a equidade em vez do lucro e do controle; ativismo e organização comunitária, a exemplo de mobilização de comunidades para exigir responsabilidade das empresas de tecnologia e para influenciar as políticas públicas.
Outros exemplos são a própria expressão artística e cultural por meio da utilização da arte para desafiar as narrativas dominantes sobre a tecnologia e para promover visões alternativas de futuro. Outros exemplos que podemos citar são Abolitionist Tools, Just Data Lab, movimentos como o Afrofuturismo como expressões de insurgência tecnopoética, Our Data Bodies (ODB), projeto comunitário nos EUA que trabalha com populações marginalizadas para resistir à vigilância digital e ao uso de dados por instituições estatais e privadas. O ODB compartilha práticas de resistência algorítmica como forma de ação abolicionista. O Data for Black Lives (D4BL) por sua vez é uma iniciativa que visa transformar dados em ferramentas de justiça para as comunidades negras. Essa perspectiva relaciona-se diretamente à necessidade de uma poética da resistência, uma linguagem capaz de reencantar a tecnociência com valores de justiça, diversidade e emancipação. É o reconhecimento de que melhor do que falar em direito dos robôs, seria falar em valores indisponíveis para nós como seres humanos: dignidade humana, respeito a direitos fundamentais e humanos e Estado Democrático de Direito.
Reconhecemos, pois, o poder da linguagem poética, sua potência crítica e disruptiva para revelar o potencial da resistência tecnológica para promover a justiça social, e em direção a um futuro mais equitativo e sustentável. A reflexão filosófica, enriquecida pela sensibilidade poética e pela atenção crítica às dinâmicas de poder, capacita-nos a navegar as complexidades da tecnologia e a imaginar alternativas que promovam o bem-estar humano e a justiça social. Ainda segundo Henry Corbin, em Mundus Imaginalis ou l’Imaginaire et l’Imaginal, o imaginal não se reduz ao imaginário como fantasioso ou irreal, mas constitui uma ordem ontológica intermediária entre o sensível e o inteligível.
Essa região é essencial para o conhecimento não reducionista, sendo o locus da revelação poética, do mito e da experiência visionária. O imaginal não é o irreal, mas o real sob outro modo de ser. Assim, por meio da imaginação e poética usamos tais ferramentas para buscar de forma criativa e inovadora novas soluções para problemas inéditos do nosso tempo, já que o simples calcular e pensamento cartesiano não dão conta dos desafios atuais, como formas de resistência baseadas na imaginação política, na poética social e na criação de mundos alternativos.
Ainda que governos tenham avançado em políticas de comunicação proativa, alfabetização midiática e propostas de regulamentações voltadas à transparência das plataformas digitais, combate as fakes news, propostas de regulação da IA generativa, os progressos permanecem tímidos diante da rápida disseminação de desinformação, aumentando os riscos com a IA agentes e multiagentes, como denota recente relatório do MIT. O documento revela que, embora a maioria dos desenvolvedores publique documentação técnica detalhada, menos de 20% divulga políticas formais de segurança, e apenas 10% relatam avaliações externas.
Nota-se um incremento em mecanismos de participação cidadã e deliberação pública, mas sua institucionalização ainda é incipiente, com lacunas na representação de minorias, juventudes e comunidades periféricas, ou seja, embora haja um avanço com a realização de audiências públicas, a exemplo do PBIA e do PL 2338 o desafio é continuar a permitir tal participação inclusiva ao longo do caminho e dentro de estruturas formais de governança, de big techs, de auditoria, avaliação e fiscalização (Oversight board).
Apesar dos avanços em políticas sensíveis a gênero e no combate à violência política de gênero, persistem barreiras estruturais e desigualdades profundas nos espaços de tomada de decisão política. Torna-se urgente repensar a estrutura democrática clássica – tanto representativa quanto participativa – e superar suas fragilidades diante de novos desafios e da expansão de regimes não democráticos, como demonstram relatórios recentes de entidades como a Freedom House e o V-Dem Institute. Há necessidade crescente de maior cooperação entre democracias, visando preservar sua resiliência institucional e sua legitimidade social.
É importante fazer as perguntas corretas como: onde estamos e para onde vamos? Recente relatório da UNDP, denominado A matter of choice, aponta para a estagnação do índice de desenvolvimento humano e para o aumento da distância entre países do Sul e Norte Global, enquanto que relatório da Oxfam Brasil, Desigualdade S.A. de 2024, aponta que a riqueza dos cinco homens mais ricos do mundo aumentou 114% desde 2020, enquanto a de 60% da população mundial diminuiu no mesmo período.
Outro questionamento essencial parafraseando Noam Chomsky é como sobreviver ao fim do século 21 já que o relógio Doomsday clock aponta para 89 segundos para a destruição do planeta em 2025, ou seja, aponta para o incontornável problema da questão climática, apontando para a urgência de envolver nas regulações de IA a temática do impacto ambiental e trazer a obrigatoriedade de avaliações de impacto nesta área que proponham mitigação de danos, pois há um aumento do impacto ambiental com uso de IA generativa e ainda as propostas tratam do tema de forma incipiente, abstrata, generalista e com um viés antropocêntrico, vendo o meio ambiente como objeto a ser explorado e não como sujeito de direitos.
Um exemplo paradigmático neste aspecto é o do Summit Paris 2025 trazendo como resultado importante decorrente a criação do 1º Observatório Global para medição de energia e IA a ser realizado pela Agência Internacional de Energia, mas ainda limitado no escopo – olhar para o impacto ambiental da IA não é apenas olhar para necessidades energéticas dos centros de dados e modelos de IA, devendo ainda ser analisada a questão da distribuição desproporcional das externalidades negativas em países do Sul global o que vem sendo denominado de colonialismo de carbono.
As obras Atlas of AI, de Kate Crawford, e Carbon Colonialism, de Laurie Parsons, denunciam o colonialismo de carbono, trazendo como exemplo contundente acerca da exploração de países do Sul global neste sentido a mina de lítio no Salar de Atacama, Chile. Trata-se da externalização de custos ambientais para o Sul Global. A mineração desse metal, essencial para baterias de IA e de veículos elétricos, consome grandes volumes de água e prejudica ecossistemas frágeis. O “progresso algorítmico” é possível graças a uma cadeia de exploração profundamente assimétrica.
Devemos, pois, ir além do “solucionismo verde” e do “greenwashing algorítmico”, e propor mudanças substanciais e não apenas com efeitos de marketing. Segundo Parsons, “o carbono da tecnologia é externalizado para lugares onde a resistência é politicamente enfraquecida”. Kate Crawford complementa ao mostrar como métricas de eficiência energética são manipuladas para justificar o crescimento desmedido da infraestrutura digital, enquanto comunidades vulneráveis enfrentam escassez hídrica, degradação ambiental e exclusão digital.
Precisamos, pois, de um “poetic turn” na área da inteligência artificial e das humanidades, de uma mudança ontológica embasada em uma nova ética da imaginação política e narrativa. Maior reflexão filosófica acerca das bases fundacionais do existir humano e de questões relacionadas: democratizar a própria democracia e descolonizar o pensamento, no sentido de construção de um pensamento próprio, autóctone.
Partindo do reconhecimento de que soluções técnicas, embora importantes, são insuficientes para resolver problemas complexos criados em parte pela própria técnica, propõe-se uma concepção transformadora da inteligência artificial. Essa concepção transcende o instrumentalismo tecnológico e compromete-se com a justiça epistêmica, a inclusão cognitiva e a redistribuição dos benefícios do progresso técnico. Devemos ir além de abordagem técnica – no sentido de uma abordagem sociotécnica. A governança crítica deve ir além de métricas técnicas como acurácia e desempenho, incorporando análises de impacto ético, social e de direitos fundamentais. De métricas de sucesso (infraestrutura/design) como eficiência, redução custos e aumento lucro devemos ir em direção ao respeito de valores centrais e indisponíveis.
É o que preceitua o artigo da lavra do AI now institute, Algorithmic Accountability: Moving Beyond Audits, destacando a importância da pesquisa independente e da insuficiência da auditoria técnica a exemplo das normas ISO/NIST, pois como o próprio nome demonstra são técnicas, não vocacionadas a temática de direitos humanos e fundamentais e não vocacionadas as particularidades de países do Sul Global, então embora importantes devem ser complementadas por outros instrumentos de compliance, não apenas voluntários e não realizados pelas próprias empresas (auditorias de primeira parte), mas por organismos independentes, interdisciplinares e com legitimidade (auditoria de terceira parte), in verbis: “essas propostas devem ser lidas no contexto de um ambiente cada vez mais precário para a pesquisa crítica sobre responsabilização tecnológica, no qual pressões econômicas deixam pesquisadores acadêmicos cada vez mais expostos à influência indevida de atores corporativos”.
A máquina do caos: como as redes sociais reprogramaram nossa mente e nosso mundo, de Max Fisher, aponta para casos de graves violações a direitos humanos, como genocídio em países do Sul Global como Mianmar; tal reflexão também é apresentada no relatório G7 Hiroshima Process on Generative Artificial Intelligence (AI), destacando os riscos de desinformação e falsificações profundas (deepfakes), violações de direitos autorais ao replicar conteúdos protegidos; produção de conteúdo discriminatório ou enviesado; vazamento de informações sensíveis; manipulação de opiniões públicas e interferência eleitoral, discriminação algorítmica e viés, falta de transparência, impactos sobre o mercado de trabalho e manipulação de opiniões políticas. O documento destaca considerações sobre equidade global, com potencial de ampliar as divisões digitais entre países ricos e pobres, reforçar estereótipos e vieses ao ser treinada com dados não representativos e exacerbar desigualdades estruturais se não houver atenção ao requisito da inclusão. No entanto as medidas propostas revelam-se insuficientes e tímidas, além de genéricas e abstratas, se limitando a sugerir incentivos à participação de países do Sul Global em fóruns de governança, fomento à inovação local em IA (acesso a dados, infraestrutura, competências) e orientação da IA para o bem comum.
Ainda são apontados riscos que demandam resposta global exigindo uma coordenação internacional, quais sejam: desenvolvimento de armas biológicas e químicas assistido por IA, criação de conteúdos enganosos em escala massiva, violações de soberania informacional.
Portanto, há maiores desafios e riscos para o Sul Global diante da exclusão digital, viés estrutural e assimetrias de poder. Além disso, os modelos de IA são, em grande parte, treinados com dados oriundos de contextos do Norte Global, reproduzindo vieses culturais, linguísticos e socioeconômicos. Essa assimetria de poder epistêmico agrava desigualdades históricas e compromete a efetividade das soluções tecnológicas para os contextos locais. Apesar dos esforços de abertura, os fóruns multilaterais que debatem a governança da IA ainda são dominados por países e corporações com maior capacidade técnica e econômica. Países do Sul Global frequentemente participam apenas como observadores ou são incorporados de maneira tokenizada em consultas públicas. Essa marginalização institucional compromete a legitimidade das decisões e dificulta a incorporação de perspectivas plurais sobre riscos, prioridades e formas de mitigação. A governança democrática da IA requer representação equitativa e mecanismos de escuta ativa das experiências periféricas.
É nesse contexto que se propõe uma atuação articulada entre produção acadêmica crítica, formação cidadã e proposição normativa. Por uma governança sensível às assimetrias de poder e aos riscos de desumanização, entendida como desafio político, ético e científico de primeira ordem.
A governança algorítmica, assim concebida, não deve ser vista como barreira à inovação, mas sim como a sua condição de legitimidade e sustentabilidade dentro de sociedades democráticas. Ao reconhecer a inseparabilidade entre técnica e política, a governança da IA passa a operar como instrumento de emancipação coletiva e reconstrução da imaginação democrática.
É urgente, pois, que a democracia seja repensada na era dos algoritmos, vinculando-se ao pluralismo epistêmico e à cogovernança radical, entendendo que há uma interseccionalidade entre as diversas formas de justiça – justiça de dados e algorítmica, justiça epistêmica, ambiental e social. A Inteligência Artificial (IA) intensificou não apenas a transformação tecnológica, mas também a instabilidade política e democrática, pois não há uma responsabilização adequada para a produção e divulgação de fake news, discursos de ódio e manipulações comportamentais e emocionais a partir de redes sociais que se utilizam de IA. Em vez de tratar a IA meramente como um artefato técnico, fala-se em erosão das democracias liberais e na emergência do autoritarismo algorítmico.
Com base na teoria ético-política, nos estudos jurídicos críticos e nas epistemologias do Sul, argumentamos a favor de uma reconfiguração radical dos paradigmas democráticos.
Um novo modelo de democracia deve ser inclusivo, plural e participativo — capaz de enfrentar tanto a injustiça informacional quanto a inércia institucional. Os sistemas democráticos contemporâneos são moldados cada vez mais por arquiteturas algorítmicas opacas que mediam a participação, filtram informações e reforçam a desigualdade epistêmica. Relatórios internacionais, como os do Instituto V-Dem e da Freedom House, mostram que a autocratização está em ascensão globalmente. Os sistemas algorítmicos exacerbam essa tendência, minando a transparência, a responsabilização e a deliberação cívica.
Marcos legais como a Declaração de Paris de 2025, Declaração de Bletchley de 2023, Declaração de São Luis de 2024, documento conjunto emitido pelos grupos de engajamento do G20 (C20, L20, T20 e W20) sobre Inteligência Artificial (IA) não possem enforcement e apostam ainda na voluntariedade da avaliação de impacto algorítmico mesmo em casos de riscos altos, e mesmo outra proposta neste sentido, o primeiro tratado internacional juridicamente vinculativo nesta área, a Convenção 4 do Conselho da Europa/2025, IA, direitos humanos, democracia e estado de direito, ainda apresenta diversas críticas e fragilidades.
Além disso, a expansão do tecno-soluçionismo e do colonialismo digital reproduz assimetrias estruturais — especialmente no Sul Global, onde o trabalho invisível alimenta a economia dos dados. Esses fenômenos refletem uma crise mais ampla de legitimidade das democracias procedimentais, agora incapazes de lidar com o entrelaçamento complexo entre tecnologia e política.
Reinvenção da imaginação política
Para superar esses desafios, não basta regular a IA por meio de protocolos normativos ou cartas éticas. É necessário reimaginar a própria democracia. Intervenções teóricas de autores como Mangabeira Unger, Boaventura de Sousa Santos, Danielle Allen e Jürgen Habermas convergem na urgência de reconstruir a democracia desde a base. Essa reconstrução envolve não apenas reforma institucional, mas a reinvenção da imaginação política.
As propostas de Weyl e Tang, em Plurality, são particularmente relevantes: eles defendem estruturas de tomada de decisão colaborativas entre humanos e IA, fundamentadas na diversidade, contestabilidade e responsabilização democrática. De forma semelhante, o conceito de “Negantropoceno” de Stiegler destaca a necessidade de respostas criativas e regenerativas à entropia digital.
A chave está em forjar arquiteturas institucionais flexíveis, descentralizadas e responsivas às mobilizações de base rumo a uma nova gramática democrática.
É neste ponto que a física quântica nos ajuda a pensar através de saltos quânticos e traz uma potente metáfora, a partícula só se define no ato da observação, o real é potencial, um campo de possibilidades superpostas. A governança radical e quântica da IA é uma proposta que acolhe a indeterminação, o devir, a criação, o múltiplo, a lógica atonal, exigindo abandonar as certezas, a lógica binária dos sistemas fechados. Aqui evocamos a famosa metáfora do gato de Schroringer, a IA enquanto não observada, pode conter infinitas formas de governar. Cabe a nos recuperar o poder de decidir e abrir a caixa da pandora, lá dentro ainda permanece a esperança como uma potência ativa.
Nesse processo, a imaginação política torna-se técnica de enfrentamento, como Andy Warhol nos ensinou até a repetição pode conter rebelião, ou como Godard nos mostra a montagem é pensamento, e diz adeus a linguagem. Não há mais nada a ser dito!?
Reivindicamos aqui uma potência, o empoderamento, o re-existir mais que o sobreviver, o reinventar poético mais que o pensando cartesiano instrumental. Uma técnico-alquimia tropical, onde a IA é matéria plástica da insurgência popular. Um código reescrito por poetas, pelas comunas, pelas dançarinas quânticas das subjetividades perdidas. Uma comuna popular algorítmica, que desafia o lugar comum e o capitalismo de vigilância, como aponta Zuboff, e propõe no lugar um sistema de decisão coletivo, simbólico, estético e sensível.
Temos que democratizar a própria democracia e pensar em alternativas além da democracia liberal representativa, como aponta Boaventura de Souza Santos e com apoio em Mangabeira Unger (democracia de alta intensidade, democracia radical), repensar as estruturas que são as bases do desenvolvimento da IA e da governança da IA, para termos de fato sua democratização, não apenas com base no poder da força mágica das palavras, mas mediante ações concretas embasadas em trabalho científico, acadêmico estudos de casos, onde estatísticas e análises quantitativas se juntam a análises qualitativas, interdisciplinares e críticas.
Já é tempo das humanidades serem quantizadas, no sentido de inovarem os paradigmas, como se dá nas ciências duras, ao invés de se pensar que aqui não se precisa criar nada, que tudo o que já está posto está acabado e é suficiente, dando espaço para o pensamento disruptivo.
Temos o direito de epistemologicamente ser desobedientes ou como dizia Nietzsche temos a obrigação de pensar em como criar novos valores. Outras fontes acadêmicas de relevo e que são marcos teóricos importantes da presente proposta como Heidegger, Bachelard, Artaud, Walter Benjamin, Paul Virilio, Baudrilhard, Ruha Benjamin e outros tantos que são conjugados em diálogo, nos fazendo pensar além do cálculo e de fórmulas matemáticas.
Acolhemos a indeterminação, o múltiplo, alógica atonal, abandonando a lógica binária de sistemas fechados. Uma comuna popular algorítmica por meio da qual é possível um sistema de decisão coletivo sensível.
Ir além da representação, como copia e cola, do simples opinar sem sustentação fática e científica, e com isso abrir um novo léxico e pensar de forma disruptiva. Tal base sustentará a proposta de uma governança técnico-poética, no sentido de profanar o algoritmo, AcordAI. A proposta evoca ainda a ideia de profanação no sentido de devolver ao uso comum os códigos capturados pela racionalidade capitalista. Ecoa também a antropofagia de Oswald de Andrade, a fúria de Bukowski, a doçura radical de Anais Nin e seu erotismo, a imagem em ruína de Jean-Luc Godard quando fala, adeus à linguagem. Ainda traz inspiração para tentarmos ultrapassar os limites do racionalismo instrumental e reinstaurar o encantamento na máquina. Inspirado em Heidegger e sua crítica técnica como desvelamento empobrecido, em sua obra A questão da técnica, em Bachelard, que nos lembra que o conhecimento nasce da tensão entre a razão e a imaginação poética, em Artaud, com seu Teatro da Crueldade, que rompe com a representação para tocar o Real em a Poética do espaço, e em Nietzsche, que nos ensina a dançar sobre o abismo em Assim falou Zaratustra.
Com base em tais epistemologias sensíveis e radicais, disruptivas propomos uma virada epistemológica e ontológica, novos paradigmas, como um espaço de criação popular, quando a IA se transformaria de dispositivo de controle para um espaço de criação popular, empoderamento e libertação, ainda com inspiração em Ruha Benyamin, no livro Race After Technology, que denuncia os bias raciais embutidos nos sistemas algorítmicos, e com base na proposta de Yuk Hui em Tecnodiversidade e em Art and Cosmotechnics, em Walter Benjamin, em A obra de arte na era da reprodutibilidade técnica.
AcordAI no sentido de união e de acordos em diversos níveis, Sul global e Norte global, ética, regulação, compliance, infraestrutura, educação e design/técnico, camadas necessárias de uma governança global participativa, de fato democrática e inclusiva.
É o que aponta, por exemplo, a OECD em documento de 2019, Recommendation of the Council on Artificial Intelligence, propondo a criação de observatórios, mecanismos de prestação de contas e monitoramento contínuo das políticas de IA, com ênfase em governança participativa. Com isso superamos algumas das fragilidades encontradas em um dos principais instrumentos de governança de IA do Brasil, a EBIA, por possuir uma abordagem fragmentada e carecer de planejamento estratégico de longo prazo, sem uma proposta de estrutura de governança nacional, interoperável e participativa. Por sua vez há omissão de ações concretas e de um plano de inclusão digital massiva e equitativa como elemento estruturante da PBIA.
O Brasil apresenta avanços importantes na estruturação de diretrizes éticas e na proposição de governança para IA, no entanto, permanece aquém em aspectos estruturais decisivos: soberania computacional, financiamento robusto e coordenação federativa. A comparação internacional demonstra a urgência de:
• Financiamento contínuo à pesquisa e inovação;
• Criação de centros nacionais de excelência em IA;
• Fortalecimento de uma infraestrutura técnica soberana (HPC, nuvem nacional);
• Inclusão crítica de epistemologias do Sul e populações periféricas na agenda digital.
É essencial que o PBIA – Plano Brasileiro de Inteligência Artificial e a EBIA – Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial sejam mais do que documentos orientadores — devem tornar-se catalisadores de transformação institucional profunda, garantindo que o Brasil não apenas acompanhe, mas lidere com responsabilidade, criatividade e justiça o futuro da IA.
Também no sentido de consciência crítica, desentorpecer os sentidos. É hora de criar essa governança através da inspiração na poética, na imaginação e na poética. A era algorítmica exige mais do que códigos e estatísticas, exige imaginação política, resistência estética e revolução epistêmica.
A inteligência artificial tornou-se o novo altar do século 21. Sacerdotes algorítmicos, liturgias corporativas, templos do silício. Neles a linguagem é técnica, o futuro é agora e preditivo e a humanidade reduzida a um padrão.
Trata-se de se conjugar teoria e prática, propostas abstratas com medidas concretas.
Esse artigo não é apenas um ensaio filosófico nem um manifesto tecnológico. É um chamado insurgente a um novo paradigma da governança da IA que ultrapasse os limites do racionalismo instrumental e reinstaure encantamento na máquina.
A proposta nasce como uma profanação, no sentido de Walter Benjamin e de Giorgio Agamben, como o de devolver ao uso comum aquilo que foi sequestrado pelo sagrado, profanar a IA é libertá-la. Devolver ao povo o que foi capturado pela racionalidade capitalista. Essa libertação não se dá por um retorno romântico à natureza, mas exige uma revolução estética ontológica e hermenêutica, um levante de imaginários, um ato de insurgência quântica atravessando o código. Para com isso, colapsar a previsibilidade e instaurar múltiplas possibilidades, a lógica atonal.
Quando o impossível se torna possível. Inspirando-se em movimentos populares, como Comuna de Paris, Movimento Occupy, práticas decoloniais, quilombolas, tropicais, e em propostas como a antropofagia de Oswald de Andrade, a fúria de Charles Bukowski, o erotismo e a escrita subversiva de Anais Nïn, é proposta uma nova governança para a IA onde a máquina seja instrumento de emancipação e não de vigilância. Aqui, a poética encontra a política, a física quântica encontra a ficção crítica, o código encontra o corpo.
E nesse entrelaçamento surge a governança técnico-poética, um conceito central da proposta. A ideia é que imaginar é governar e que só podemos reconfigurar as tecnologias se reencantamos as narrativas que as sustentam.
A proposta, é, pois, também um manifesto, uma ficção crítica, uma poética técnico-política ao propor uma ruptura radical com os modelos de governança algorítmica dominantes, denunciando colonialismo de dados, colonialismo ambiental, a normatividade das plataformas, e a lógica da dominação automatizada, inspirado em epistemologias do Sul, justiça de dados, críticas filosóficas, poéticas insurgentes, lógicas atonais, multiplicidades e resistências propositivas e não reativas.
Sua base epistemológica é a ideia de reconstrução de um novo imaginário, um novo léxico para se pensar a I.A, como campo de disputa simbólica, poética, política, coletiva. Através de metáforas como o gato de Schrödinger, a caixa de pandora, tropicalização da IA com base em epistemologias do sul, a nova comuna de Paris digital, uma governança radical da IA, técnico-poética, popular, insurgente e profanadora.
Uma IA que não nos domestique, mas nos desperte, que não nos preveja, mas nos provoque, que não nos controle, mas nos re-encante. Do que se trata é de uma proposta de governança algorítmica popular descentralizada, crítica, culturalmente situada, multicamadas, multistakeholder, participativa, inclusiva, democrática. É o devolver a IA ao comum, à rua, à comunidade, saindo dos seus templos corporativos e tecnocráticos. Poética e imaginação como bases para a construção de uma IA que respeite a diversidade, equidade, justiça, transformando-se a relação entre técnica e humano numa dança poética de poder compartilhado. Baseia-se em uma abordagem interdisciplinar, que envolve teoria crítica, filosofia política e sociologia da tecnologia, e propõe caminhos para resistências democráticas e plurais.
A favor de resistências epistêmicas e alternativas plurais. O Sul Global não pode se limitar a importar modelos regulatórios e tecnológicos do Norte. É urgente a construção de epistemologias plurais, que valorizem os saberes locais, a inclusão sociotécnica e a soberania digital. Kate Crawford propõe que a análise da IA se fundamente em “justiça informacional, justiça ambiental e justiça social como perspectivas inseparáveis”.
O presente texto buscou demonstrar que a inteligência artificial não pode ser compreendida fora de suas condições materiais, históricas e geopolíticas. A partir das obras de Kate Crawford e Laurie Parsons, argumentou-se que a IA atual está inserida em um projeto extrativista, excludente e colonial, que ameaça valores democráticos, direitos fundamentais e o futuro do planeta.
Reagir a essa conjuntura exige não apenas regulação, mas uma verdadeira reinvenção do que entendemos por tecnologia, conhecimento e sociedade. Como aponta Crawford, “a inteligência artificial é um espelho das nossas estruturas sociais, e para mudá-la, precisamos mudar a sociedade que a produz”.
A construção de um ecossistema de IA verdadeiramente inclusivo, soberano e plural passa pela resistência poética, epistêmica e política aos modelos hegemônicos de futuro digital impostos pelo Norte Global. Que esta resistência seja também um ato de imaginação radical.
O presente texto foi apresentado em dois eventos em 13 de junho de 2025 onde também entregamos uma proposta executiva para um ecossistema de IA brasileiro, com base principalmente na proposta de governança multicamadas, multissetorial (multistakeholder), participativa e democrática: Fortaleza – SONU/UFC – Universidade Federal do Ceará – Palestra de Paola Cantarini: “Uma Questão de Escolha. Por uma Governança de IA Multicamadas, Participativa e Inclusiva”. E PNUD/IBGE – Participação em “Diálogos Nacionais sobre Governança e Sul Global. Tema: Desenvolvimento Triplo Comum Internacional”.
Leia mais
- Por uma governança da IA inclusiva, multicamadas e participativa. Artigo de Paola Cantarini
- Filosofia da inteligência artificial
- Pensar a IA eticamente é refletir sobre o tipo de humanidade que queremos construir para o futuro. Entrevista especial com Steven S. Gouveia
- “Os gigantes da IA escondem os custos e os danos do seu desenvolvimento tecnológico”. Entrevista com Karen Hao
- Avanço da inteligência artificial esconde o segredo mais sujo da tecnologia. Artigo de Álvaro Machado Dias
- “A inteligência artificial permite uma vigilância total que acaba com qualquer liberdade”. Entrevista com Yuval Noah Harari
- Lavender, a inteligência artificial de Israel que decide quem é bombardeado em Gaza
- Uma IA mais ética?
- Armas transformadas em máquinas letais não podem decidir sobre a vida e morte
- O futuro da IA e o seu impacto no conhecimento: mudará a forma como pensamos?
- Inteligência artificial: substituição, hibridização… progresso?
- A potência e a ameaça das redes neurais
- Inteligência Artificial é uma ferramenta muito útil, mas não é inteligente. Entrevista especial com Walter Carnielli
- E se a inteligência artificial decidisse quem deve ser salvo na guerra?
- Harari alerta sobre a inteligência artificial: “Não sei se os humanos podem sobreviver”
- O cientista da computação Manuel Blum: "E se as máquinas tivessem uma consciência?"
- A inteligência artificial não precisa de inteligência: o pensamento de Luciano Floridi
- Inteligência Artificial e Saúde: para todos ou para quase ninguém?
- “Ética da inteligência artificial”, novo livro de Luciano Floridi
- A perigosa aliança da inteligência artificial com a tecnologia militar. Artigo de Claude Serfati
- Inteligência artificial, desafio ético. Entrevista com Paolo Benanti
- Éric Sadin alerta contra a “propagação de um anti-humanismo radical”
- “A IA é desenvolvida em sociedades que desvalorizam os pobres”. Entrevista especial com Levi Checketts
- A sede do capitalismo de vigilância. Artigo de Dafne Monteiro de Carvalho Freire
- A inteligência artificial e o desafio para o mundo do trabalho
- Inteligência Artificial: “A autonomia está em perigo e isto é ruim para a democracia”. Entrevista com Adela Cortina
- "A IA é mais do que uma revolução tecnológica, sua mudança é tão profunda que está moldando uma nova maneira de ser". Entrevista com Alberto Embry
- A curva de aprendizagem da inteligência artificial está em risco: a sua ânsia por dados é infinita, mas não as obras humanas
- O ChatGPT e uma inteligência artificial cada vez mais humana
- OpenAI agora diz que teria sido “impossível” treinar ChatGPT sem violar direitos autorais
- O ChatGPT veio para ficar no ensino superior? Não se os professores resistirem. Artigo de LuElla D’Amico
- Como a IA e o Google ameaçam devastar a web
- “A única neutralidade real seria me desligar”. Entrevista com DeepSeek
- DeepSeek, China e IA: Um desafio geopolítico. Artigo de Cecília Rikap
- Fenômeno DeepSeek: Como a transparência está revolucionando a Inteligência Artificial. Artigo de Jonatas Grosman