"Embora a tentativa de Soshana Zuboff de interpretar politicamente a fundação do capitalismo de vigilância — como o ato de pessoas específicas em uma conjuntura específica — seja admirável, ela esconde essa história mais longa da ciência da computação na vigilância estatal e seus cruzamentos com o setor privado. É aqui que encontramos os motivos mais convincentes de preocupação [...] A regulação normativa do capital de vigilância por si só não será suficiente — nem mesmo apoiada pelos movimentos sociais — porque qualquer desafio sério, se tornará, também, um desafio para o estado de vigilância", escreve Rob Lucas, editor da revista New Left Review, em artigo traduzido por Simone Paz e publicado por Outras Palavras, 03-02-2021.
Quase todo ano, desde 2013, um traço crucial vem sendo prognosticado ou evidenciado por pelo menos alguma grande publicação, mesmo que em retrospectiva — pela The Economist, o The Guardian, Oxford English Dictionary, Financial Times. Trata-se do “techlash”, a reação contra o excesso digital. Se procurássemos uma origem para esse discurso, provavelmente ela estaria nas revelações feitas por Edward Snowden em 2013, mas os gigantes da tecnologia só se tornaram um motivo de preocupação real para a classe dominante com as revoltas políticas de 2016. O fato de empresas e Estados terem à disposição uma quantidade impressionante de dados sobre nós, aparentemente, fica menos problemático se esses dados estiverem sob o controle seguro de pessoas com as quais nos identificamos tacitamente.
As campanhas de Barack Obama foram as primeiras a tirar o máximo proveito da microfocalização, que faz uso intensivo de dados; mas foi quando os especialistas em dados — muitas vezes, as mesmas pessoas — emprestaram suas habilidades a Donald Trump e à campanha do Brexit, que o Facebook apareceu como um servo do dinheiro da direita. Leis foram aprovadas, como o Regulamento Geral de Proteção de Dados de 2016, da União Europeia; e a Lei de Privacidade do Consumidor de 2018, aprovada pelo estado da Califórnia. Organizações no mundo inteiro tiveram que ajustar seus procedimentos de assinatura de boletins informativos, mas os “donos dos dados” seguiram em frente.
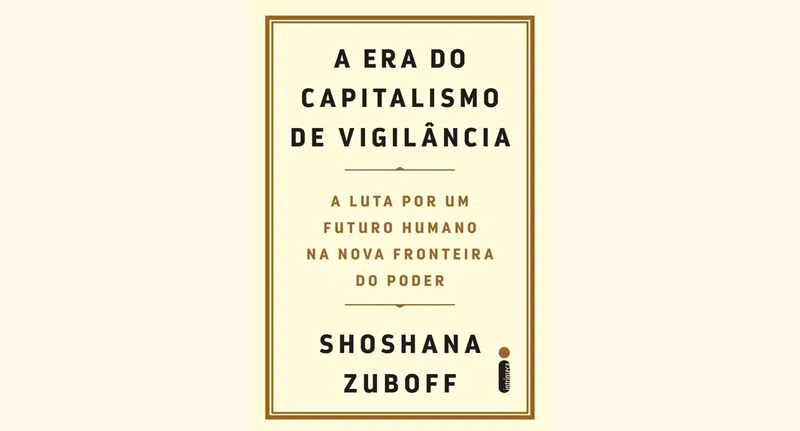
"A Era do Capitalismo de Vigilância", de Shoshana Zuboff. Ed. Intrínseca, 2018.
Neste contexto de discurso destaca-se uma figura em especial, pela importância de sua contribuição e pelos elogios que tem recebido. Começando em 2013, com vários artigos no Frankfurter Allgemeine Zeitung, e culminando no livro de 2019, A Era do Capitalismo de Vigilância (“The Age of Surveillance Capitalism”), Shoshana Zuboff descreve um novo tipo de capitalismo, inclinado a nos transformar em ratos de laboratório da psicologia comportamental. Incrivelmente, para um livro que parecia um tanto marxiano — por incluir entre seus temas não apenas o capitalismo, mas também a expropriação, o excedente econômico e as enormes assimetrias de poder –, A Era do Capitalismo de Vigilância ganhou a aprovação de Obama, que havia comandado uma grande expansão da vigilância em massa sob o programa Prism, da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Zuboff, sendo a quarta ganhadora do Prêmio Axel Springer, entrou para o mesmo grupo do capitalista-mor da vigilância, Mark Zuckerberg, do inventor das redes, Tim Berners-Lee; e do aspirante a capitalista da vigilância, Jeff Bezos — todos eles ganhadores do mesmo prêmio em as edições anteriores. Como explicar que uma crítica tenha sido canonizada tão imediatamente? A continuidade do trabalho de Zuboff faz com que seja muito didático traçar sua trajetória como um todo.

Shoshana Zuboff. Foto: Wikicommons
A história de Zuboff, nascida em 1951, começa na fábrica de seu avô materno, empresário e inventor que pode ter lhe inspirado o gosto pelos negócios e pela tecnologia. Em Harvard, ela estudou com um dos principais behavioristas, B.F. Skinner, e iniciou uma tese em psicologia social intitulada “The Ego at Work” (O Ego no Trabalho). Mas desde seus anos de estudante ela tinha um pé no mundo da gestão empresarial: trabalhou por um tempo na Venezuela como “assessora de mudanças organizacionais” para a empresa estatal de telecomunicações, período no qual estudou os trabalhadores que vinham das regiões de selva. Pouco depois de concluir seu doutorado, passou a examinar as implicações psicológicas e organizacionais do trabalho com computadores, culminando em um livro que hoje é considerado um clássico: In the Age of the Smart Machine: The Future of Work and Power [“Na era das máquinas inteligentes. O futuro do trabalho e do poder”] (1988)
Com foco em estudos etnográficos sobre algumas poucas empresas norte-americanas que vinham introduzindo novas tecnologias da informática, In the Age of the Smart Machine oferece uma explicação humanística das dificuldades dos trabalhadores e gerentes em se adaptar. Em seu gênero, talvez possa ser interpretado como uma contribuição não-marxista para os debates sobre o processo de trabalho que ocorriam na época — e que começaram com o livro publicado em 1974 por Harry Braverman, Trabalho e capital monopolista: a degradação do trabalho no século XX. Mas Zuboff não se limitou a enfatizar as repercussões da automação para os trabalhadores, pois a informatização do processo de trabalho não apenas reproduzia algo feito pelo corpo humano: produzia um novo fluxo de informações que formava um “texto eletrônico” que viria a se tornar fundamental para o novo processo de trabalho.
Para Zuboff, o verbo “automatizar” (automate), portanto, precisava ser complementado pelo de “informar”, para o qual ela cunhou um novo verbo em inglês, informate. A maior parte do livro era dedicada à “informação” nesse sentido, investigando como os trabalhadores lidavam com a textualização do ambiente de trabalho, como a importância dada ao conhecimento tinha levado a uma nova “divisão do aprendizado” e como os gestores tentavam reforçar a sua autoridade. As análises de Zuboff sobre as culturas digitais que se desenvolveram em torno dos quadros de avisos na década de 1980 eram presságios misteriosos do que estava por vir na era das mídias sociais de massa. No último terço do livro, ela estudava as repercussões mais sombrias do texto eletrônico, quando usado para apoiar a vigilância sobre os trabalhadores em uma materialização do “poder panóptico”. Zuboff perguntava-se: se a informação passasse a ser uma ferramenta de “certeza e controle” gerencial, então as pessoas seriam reduzidas a “servir a uma máquina inteligente”? Invocando Hannah Arendt, ela visualizou o ideal comportamental de uma sociedade controlada pela vigilância e pelos empurrões, tornando-se uma realidade na informatização do local de trabalho. Mas a análise de Zuboff apontava uma alternativa, baseada em um uso mais horizontal do texto eletrônico.
In the Age of the Smart Machine serviu para Zuboff obter um cargo permanente em Harvard, mas ela ainda mantinha um pé fora do mundo acadêmico e, em 1987, foi contratada como consultora da empresa Thorn EMI pelo executivo-chefe Jim Maxmin, que se tornaria seu co-autor e marido. Na década de 1990, ele dirigiu uma escola de verão para executivos de meia-idade, incentivando-os a refletir sobre coisas do tipo: qual “patrimônio líquido” é suficiente. De sua casa em um lago na Nova Inglaterra, Zuboff e Maxmin administravam um fundo de investimento em comércio digital enquanto trabalhavam no livro The Support Economy: Why Corporations Are Failing Individual and the Next Episode, of Capitalism [“A economia como rede de apoio. Por que as empresas vêm falhando com os indivíduos e o próximo episódio do capitalismo”], publicado em 2002, que investigou a história corporativa para criar uma periodização da “lógica de negócios”. Mas o fio condutor era uma história sobre o longo processo de surgimento do indivíduo autônomo que teria feito Hegel corar. Os desejos desse indivíduo sempre antecederam o que as empresas estivessem fazendo, à espera de serem libertados por empresários astutos, capazes de se alinharem com o consumidor final e fundar uma nova lógica de negócios.
Josiah Wedgwood foi o primeiro desses grandes homens, Henry Ford o segundo; embora as mulheres fossem as maiores protagonistas não-reconhecidas da história capitalista, em seu papel de principais consumidoras. Baseando-se na noção de capitalismo gerencial de Alfred D. Chandler e no conceito de uma segunda modernidade, proposto por Ulrich Beck, Soshana e Maxmin descreveram como, no mundo iluminado por Ford, a crescente individualidade psicológica acabou colidindo contra as rochas das organizações burocratizadas e das culturas corporativas masculinistas: essa era a contradição central e motivadora de sua teoria. As empresas estavam preocupadas apenas com o “valor da transação” e viam o consumidor final meramente como um meio. Os relacionamentos combativos com os consumidores eram sintomas de uma “crise de transação”. Chegara, portanto, a hora de um novo profeta manifestar esses desejos latentes. Com apenas uma guinada copernicana para o consumidor final, as empresas encontrariam um mundo de “valor de relacionamento” acumulado. Eles precisariam se basear em novas tecnologias e economizar custos através da fusão de infraestruturas digitais, com foco no fornecimento de “suporte” configurado para o indivíduo. A “revolução” econômica projetada parecia envolver a generalização de algo mais próximo de um assistente pessoal de executivos.
Soshana expôs essas ideias em artigos para a imprensa de negócios, mas sua fragilidade conceitual se mostrava muito maior quando o mundo dos sonhos encarava a realidade. Steve Jobs foi apresentado como um “líder histórico” capaz de corrigir os erros do capitalismo americano em nome do “suporte”; Obama também foi recrutado naturalmente. Em 2008, Soshana fez uma peregrinação pelo Vale do Silício “na esperança de encontrar líderes que entendessem a crise”, mas ficou enojada ao ver a obsessão que existe em ganhar dinheiro com publicidade. Decepcionada com os rumos da tecnologia americana, deu início ao projeto que viraria seu próximo livro. Se The Support Economy era uma utopia dos consultores de gestão, A Era do Capitalismo de Vigilância é a distopia que surge quando a profecia falha. Neste mundo, o que está fundamentalmente errado é um modelo de negócios ruim, que vem se descontrolando. É um volume extenso e indisciplinado de quase 700 páginas, cujo enfoque desliza do sistemático ao ensaístico. Estruturado em três partes, vai das “bases” até o “avanço” do capitalismo de vigilância, antes de ampliar o objeto de análise para considerar a tecnologia como base do poder. Vamos examiná-las uma a uma.
Zuboff começa voltando para uma questão central de seu primeiro livro: se seremos reduzidos a trabalhar para as máquinas ou se ocorrerá o oposto. Só que agora, esse problema envolve a “civilização da informação”. Porém, não são as máquinas em si que estão em jogo, porque o capitalismo de vigilância é uma “forma de mercado” com seus próprios “imperativos econômicos”, e Zuboff vê a tecnologia como fundamentalmente moldada pelos fins econômicos a que serve. A primeira parte também nos leva de volta ao marco da Economia de Apoio (The Support Economy): o capitalismo gerencial, a segunda modernidade, o longo processo de emergência do indivíduo e a primazia das necessidades do consumidor na história econômica. Mas a contradição entre o capitalismo individual e gerencial encontra agora expressão na aceitação massiva da internet e nos distúrbios de 2011 no Reino Unido. A Apple ainda aparece como o messias previsto, o iPod defende as necessidades do consumidor, mas existem duas Apple — a humana e a divina — porque a empresa nunca se entendeu adequadamente como a empresa de “suporte” orientada à assessoria que Zuboff defende. Se era para a Apple ter sido a Ford da terceira modernidade, é o Google que realmente vai inventar um novo tipo de empresa. O mundo, portanto, falhou em efetuar a transição prevista e o capitalismo de vigilância preencheu o vazio, tornando-se a “forma dominante de capitalismo”.
O objetivo de Zuboff é revelar as “leis do movimento” dessa maneira, traçando um paralelo com a explicação de Ellen Wood para as origens do capitalismo propriamente dito. Em seus inícios, o Google experimentou um ciclo virtuoso ou “ciclo de reinvestimento do valor comportamental”: as pessoas precisavam das buscas, e as buscas poderiam ser melhoradas com a coleta de “dados comportamentais” produzidos pelos usuários. Até então, o Google conseguia ser o tipo de empresa de Zuboff, mas, ao contrário da Apple, não tinha um modelo de negócios sustentável. Após a quebra das “pontocom”, os capitalistas de risco estavam famintos e, assim, forçaram uma mudança no aproveitamento do excedente para uso em publicidade direcionada. Nessa mudança, os dados comportamentais tornaram-se um “ativo de vigilância” e matéria-prima para a produção de “derivados comportamentais”, “produtos de previsão” e “futuros comportamentais”, as coisas que o Google realmente vendia aos anunciantes, para obter “receitas derivadas da vigilância”.
Isso, para Zuboff, foi um processo de “acumulação primitiva” ou “expropriação digital”, e para isso ela pede ajuda para Karl Marx, Hannah Arendt, Karl Polanyi e David Harvey. Como outros antes dela, Zuboff acrescenta um item à lista de mercadorias fictícias de Polanyi: terra, trabalho, dinheiro e dados comportamentais. Como o mundo digital era inicialmente uma terra sem lei, o Google foi capaz de se apresentar como um magnata ladrão e pegar para si os abundantes “recursos naturais humanos”. Se os monopólios foram estabelecidos, não foi no sentido tradicional de distorcer os mercados ao eliminar a concorrência, mas como um meio de “encurralar” o fornecimento de dados, direcionando os usuários para os redis da vigilância. Enquanto In the Age of the Smart Machine analisava a “divisão do aprendizado” no local de trabalho, essa divisão agora caracteriza a sociedade em geral, pois os capitalistas de vigilância formam uma nova “casta sacerdotal” com uma surpreendente concentração de poder.
O clima político que instalou-se após o 11 de setembro levou a um “excepcionalismo de vigilância” que facilitou a metamorfose do Google, e foi gradualmente descobrindo suas afinidades eletivas com a CIA; por sua vez, os aparelhos de segurança dos EUA ficaram felizes em contornar os controles constitucionais, entregando a tarefa da coleta de dados a um setor privado pouquíssimo regulamentado.
Uma porta giratória seria estabelecida entre o capital de vigilância e o governo Obama, enquanto o Google canalizaria grandes recursos para atividades de lobby. Em pouco tempo, o Facebook havia aderido ao jogo, usando o botão “Curtir” para seguir os usuários online e vender derivados dos dados resultantes. Aonde quer que fossem, outros começavam a segui-los: sob a liderança de Satya Nadella, a Microsoft passou a extrair os dados dos usuários comprando a rede social LinkedIn, lançando sua assistente pessoal Cortana e introduzindo a vigilância no sistema operacional Windows. Apoiada pelo Congresso, a Verizon também entrou no jogo, dando início à espionagem por meio do provedor de serviços de internet e usando os dados resultantes para direcionar a publicidade.
Se a primeira parte do livro cobre a maior parte da teoria de Zuboff, a segunda foca no avanço do capitalismo de vigilância no “mundo real”, à medida em que seu modelo de negócios focado em previsões deixa de seguir comportamentos para, em vez disso, modelá-los e intervir neles. Os tecnólogos previram há muito tempo que chegaria um tempo em que os computadores saturariam a vida cotidiana a ponto de ela, ao fim, desaparecer. À medida em que os capitalistas de vigilância buscam uma previsão perfeita, eles são forçados a se mover nessa direção, buscando “economias de alcance” — uma maior variedade de fontes de dados — e “economias de ação”: gerando modelos para tornar as variáveis mais previsíveis. Dessa forma, eles desenvolvem um novo “meio de modificação comportamental”. Um de seus arautos foi R. Stuart Mackay, que na década de 1960 desenvolveu a telemetria para rastrear animais selvagens, antes de passar para a ideia de configurar seu comportamento de forma remota.
Agora os indivíduos se tornaram objetos de monitoramento constante e as seguradoras podem adquirir a capacidade de desligar remotamente o motor de um carro quando o pagamento está atrasado. A infraestrutura digital, portanto, muda de “uma coisa que temos para uma coisa que nos possui” (Soshana aprecia um quiasmo). Aplicativos e pulseiras para rastrear sua atividade, Google Home e Alexa, TVs inteligentes, a tecnologia biométrica do Facebook, as “cidades inteligentes”, os sensores portáteis do setor de saúde, “tecidos interativos”, brinquedos infantis ou simplesmente o próprio smartphone: estamos sujeitos à espionagem constante e à “transferência” de nosso comportamento na forma de dados — e há poucas chances de evitá-lo. Com base nisso, análises detalhadas do “padrão de vida” dos indivíduos podem ser realizadas, enquanto o Baidu usa sistemas de rastreamento e localização para prever movimentos na economia chinesa. Os metadados sobre padrões de comportamento tornam-se ferramentas para a realização de perfis psicométricos, enquanto mecanismos capazes de ler estados emocionais são desenvolvidos.
O Facebook cruzou a linha da manipulação social com seus experimentos de “contágio emocional”, enquanto o jogo de “realidade aumentada” Pokémon Go direcionou o “tráfego de pedestres” para as localizações das empresas contribuintes, levantando a questão de saber se os capitalistas de vigilância poderiam estar se aventurando no projeto de “arquiteturas de escolha”. Os experimentos de modificação do comportamento realizados na Guerra Fria, visando presidiários e pacientes, desencadearam uma reação legislativa que impediu um maior desenvolvimento; mas agora as empresas privadas avançam, sem nenhum obstáculo de processo democrático, na busca de “resultados garantidos”. A própria consciência do consumidor torna-se uma ameaça aos ganhos; a liberdade e o “direito ao tempo futuro” estão em perigo. O capitalismo de vigilância incorpora um novo tipo de capitalismo não menos transcendental do que o capitalismo industrial, e “a luta pelo poder e controle na sociedade não está mais associada aos dados ocultos da classe e sua relação com a produção, mas, pelo contrário, [sic] aos dados ocultos da modificação do comportamento projetado e automatizado.
A terceira parte de In the Age of the Smart Machine era dedicada à “técnica” como “dimensão material do poder”. Aqui passamos, de maneira parecida, ao tipo de poder prenunciado pelo capitalismo de vigilância. O termo usado por Zuboff é “instrumentalismo”: “a instrumentação e instrumentalização do comportamento para fins de modificação, previsão, monetização e controle.” Se o totalitarismo mobilizou a violência para se apoderar da alma, o instrumentalismo silenciosamente observa e molda o comportamento. Skinner foi seu profeta e seu livro, Walden II, a utopia. Para os comportamentalistas, a liberdade é uma lacuna na explicação que deve ser superada estendendo a ciência comportamentalista à sociedade, e agora a visão que eles propunham está sendo realizada por capitalistas de vigilância que buscam “substituir a sociedade pela certeza”, enquanto buscam seu próprio “utopismo aplicado”. A “física social” do professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Alex Pentland, incorpora o ataque, numa tentativa de substituir a política por um plano tecnocrático em nome do “bem maior”. “O bem maior pra quem?”, pergunta Soshana Zuboff, com razão.
Atualmente, existem “classificações creditícias” de radicalismo, e “classificações ameaçadoras” derivadas das redes sociais, e a recém-criada Geofeedia rastreia a localização dos manifestantes. O sistema de crédito social chinês — que espia os cidadãos e aplica punições e recompensas de acordo com isso — não pode ser esquecido, embora Zuboff não pareça saber muito bem o que fazer com ele. Em parte, “conclusão lógica” da busca pela “certeza” que percebemos sob um capitalismo de vigilância — muito mais instrumental do que totalitário –, o sistema de crédito social se diferencia na medida em que visa resultados sociais, e não de mercado. Também é, diz Zuboff, de importância duvidosa para sua história, pois é formada por uma cultura não democrática que não está interessada na privacidade; mas ao mesmo tempo “transmite a lógica do capitalismo de vigilância e do poder instrumental que produz”.
Agora, o indivíduo está cercado, preso a modos patológicos de sociabilidade por meio de técnicas derivadas da indústria do jogo, incapaz de forjar um senso de identidade adequado. Quando as pessoas modelam seu comportamento para apresentá-lo na internet, surgem “efeitos apavorantes” na vida cotidiana. Há pinceladas de Sherry Turkle e Nick Carr nos lamentos de Zuboff pelo lar entendido como um espaço meditativo para o cultivo do eu. São necessárias “propostas sintéticas”, no que parece referir-se a medidas legislativas como o “direito ao esquecimento” e o Regulamento Geral de Proteção de Dados (2016) estabelecido na UE e apoiado por ações coletivas.
Em conclusão, voltamos à relação entre mercados, conhecimento e democracia. No raciocínio de Friedrich Hayek e dos comportamentalistas, a liberdade dos participantes do mercado estava associada à ignorância. Com informações cada vez mais completas, os capitalistas de vigilância ameaçam esse duo. De acordo com a visão otimista de Zuboff, o capitalismo de outrora já foi baseado nas “reciprocidades orgânicas” entre empresas e pessoas. A troca de mercado equitativa formou o ímpeto para a Revolução Americana, e os industriais britânicos foram forçados a fazer concessões democráticas porque dependiam das “massas”. Com a mudança para o modelo de valor máximo para os acionistas, essas reciprocidades diminuíram; agora, os capitalistas de vigilância sobrecarregaram essa dinâmica, produzindo organizações de “hiperescala” com avaliações desproporcionais no mercado de ações, pequenas bases de funcionários e pouca dependência da sociedade. Não houve nenhum “movimento duplo” polanyiano impondo limites sociais à exploração de dados comportamentais, e agora enfrentamos uma “recessão democrática”, enquanto perdemos a associação vital dos mercados com a democracia. Soshana termina com uma série de referências que poderiam agradar qualquer atlantista liberal: Arendt sobre o totalitarismo, o desprezo de George Orwell por James Burnham e a queda do Muro de Berlim.
Embora muitas vezes ornamentado, A Era do Capitalismo de Vigilância apresenta um quadro interessante da paisagem infernal provocada pela tecnologia capitalista atual. Zuboff tem razão ao afirmar a necessidade de novos nomes para lidar com as transformações que os gigantes tecnológicos usam para nos castigar. A expressão “capitalismo de vigilância” identifica algo real e, embora ela não tenha sido a primeira a cunhá-la, agora parece ser provável que ganhará uso generalizado — para seu mérito. Também há algo surpreendente em seu antigo projeto de vincular o poder tecnológico à psicologia comportamental. Zuboff dedicou grande parte de sua vida intelectual para forjar um Anti-Skinner que colocasse o indivíduo psicológico no centro do palco, travando uma guerra contra suas reduções positivistas nas mãos de cientistas, gerentes e capitalistas de vigilância. Provavelmente, aqui fica mais convincente. Mas as reivindicações fundamentais de Na Era do Capitalismo de Vigilância são político-econômicas por natureza e devem ser avaliadas como tal.
O que podemos dizer, então, de seus conceitos de expropriação e desapropriação digital? Como os defensores da propriedade intelectual há muito afirmam, há algo especialmente estranho na noção de que dados são coisas que podem ser roubadas, já que não são bens raros, como Evgeny Morozov apontou em uma revisão publicada no The Baffler. Minha posse de uma determinada construção de dados não impede que todos os outros a tenham. Os dados comportamentais também podem ser vistos como representações, e é preciso recorrer ao pensamento mágico para igualar sua representação à posse. Se alguém me espiar e escrever o que eu faço, meu comportamento ainda é meu. Ele, é claro, deixou sua marca em algo que eu não tenho, mas ele não fez isso desde o início.
A ideia de que certos dados possam ser “gastos” também faz pouco sentido e, como não é o caso, também não há espaço identificável acima deles. Isso torna impossível traçar a linha entre o primeiro “ciclo de reversão inofensivo” de dados comportamentais do Google e o aproveitamento de um “excedente comportamental”. Aqui, os conceitos quantitativos de economia política se tornam enganosos, uma vez que não estamos realmente falando sobre magnitudes contínuas, mas sobre diferentes usos de dados: para melhorar um mecanismo de busca e para melhorar a publicidade direcionada e, assim, ganhar dinheiro.
Podemos ficar tentados a chamar o último de “excedente” em relação ao primeiro, mas e se os mesmos dados forem usados para ambos? E se é o uso comercial que transforma-o em excedente, e não uma quantidade nominal de conduta, o que deveríamos fazer sobre o fato de Soshana Zuboff ver o sistema de crédito social chinês — destinado ao controle social e não ao marketing — como um sanguessuga do comportamento excedente? Novamente, sobra de quê? Será que alguma parte do sistema de crédito social é inofensiva, assim como o Google em seus inícios?
Essa noção substancialista de comportamento lembra a visão de mundo do socialismo ricardiano, em que o trabalho é visto como algo acumulado nos artefatos da economia capitalista. Isso ajudou a sustentar um certo ponto de vista moral: se é nosso trabalho, deve ser nosso. E há uma certa qualidade intuitiva na ideia de que uma determinada coisa incorpore diretamente uma determinada quantidade de trabalho, desde que pensemos em empresas individuais (como o histórico de negócios tende a fazer) ou commodities específicas, e não na economia como um todo. Essas ideias já existem há muito tempo e continuamos a encontrar vestígios delas na noção emaranhada de que: se postarmos algo no Facebook permite que Zuckerberg ganhe dinheiro, esse deve ser um trabalho produtivo — uma consequência semi-humorística disso é a demanda “Salários para Facebook” (Wages for Facebook). Soshana distingue sua posição ao concentrar-se no comportamento e não no trabalho, mas o substantivismo e o ponto de vista moral são praticamente os mesmos, embora façam ainda menos sentido no caso dos dados.
Zuboff afirma que o capitalismo de vigilância é a forma dominante de capitalismo, com o Google e o Facebook se tornando a vanguarda de uma dinâmica que podemos verificar em toda a economia. Essas empresas são, sem dúvida, muito poderosas e têm capitalizações de mercado extraordinárias, mas quase todas as suas receitas provêm da publicidade. Mesmo quando entramos na informatização onipresente, nas cidades inteligentes e em outros processos semelhantes, a receita de publicidade ainda é a principal razão pela qual as empresas privadas acumulam dados sobre os usuários. Quem compra esses anúncios? Em grande parte outras empresas, o que significa que a publicidade em geral é um custo para eles e, portanto, uma dedução de seus lucros totais: em termos de economia política clássica, é um dos faux frais da produção. A lucratividade dos anunciantes é limitada pela de empresas de outros setores, dado que dependem delas para obter receita. Não importa o quão radicalmente os capitalistas de vigilância transformem a propaganda, desde que ela represente seu negócio principal, sua capacidade de guiar o capitalismo como um todo será limitada.
Na visão de Zuboff, os capitalistas de vigilância buscam a “certeza total” e o controle real da totalidade do comportamento do usuário com seus produtos de previsão. Embora uma vantagem na previsão possa traduzir-se numa vantagem ao colocar anúncios em banner e, assim, fornecer mais receita, isso tem limites lógicos. Mesmo se a certeza ou o controle fossem teoricamente possíveis, os anunciantes ainda não seriam capazes de garantir as vendas de outras empresas à vontade, porque se a renda disponível dos consumidores fosse finita, cada transação segura diminuiria o alcance de outras, fazendo com que a “certeza” se auto enfraquecesse. Faz mais sentido rastrear, direcionar e prever o comportamento do usuário com precisão suficiente para que várias empresas paguem para participar da captura dos mesmos consumidores. Fora isso, perseguir uma previsão cada vez mais perfeita seria jogar dinheiro no buraco. Além do mais, o comportamento que faz sentido prever permanece quase inteiramente no reino da atividade de mercado — levantando a questão, independentemente da retórica, de se é realmente possível verificar para qual direção da “totalidade” os capitalistas de vigilância estão nos conduzindo. Talvez a economia da atenção — de acordo com a qual a atenção do usuário é uma mercadoria rara, buscada pelas empresas — seja uma abordagem mais útil aqui.
Embora aconselhável a procura de explicações sociais para os avanços tecnológicos, Zuboff pode ter se perdido em sua inclinação a pensar em termos de “formas de mercado” e a reduzir a tecnologia a fins econômicos. É sintomático que ela hesite em relação ao sistema de crédito social chinês. E embora reconheça a contribuição do Estado para alimentar o capitalismo de vigilância, tem surpreendentemente pouco a dizer sobre certos detalhes de seu papel: Prism, Snooper’s Charter, Five Eyes… Eles aparecem, essencialmente, como um reino neutro e passivo, que às vezes vai para onde a empresa o conduz, que tem algumas leis ruins e precisa de leis melhores. Mas qualquer história da tecnologia americana demonstra que o Estado está longe de ser neutro ou passivo. Geralmente, ele lidera a iniciativa de impulsionar uma grande mudança tecnológica, coordenando empresas ou arrastando-as para perto de si, como vemos na computação, nas redes, armas, máquinas-ferramentas, etc. Se as mudanças fundamentais ocorrem por meio dos atos de grandes empresários, isso é algo que deve permanecer na sombra.
Desde o seu início, o Estado moderno tem sido um aparelho de coleta de informações. Quando os meios de armazenamento e processamento de dados se tornaram disponíveis para eles — no início, mecânicos, e eletrônicos depois –, eles simplesmente facilitaram o que vinha acontecendo há muito tempo. O cartão perfurado de Hollerith e seus descendentes tornaram possível automatizar o processamento de dados, incluindo, como se sabe, dados sobre campos de concentração nazistas e sobre o internamento de nipo-americanos durante a Segunda Guerra Mundial. A própria vigilância baseada em computador tem suas origens nesta história de longa data, que é importante ter em mente ao tentar periodizar eventos mais próximos do presente. Ao longo da década de 1970, a TRW — uma empresa com interesses nos setores aeroespacial, automotivo, eletrônico, informático e de processamento de dados — coletou grandes quantidades de dados sobre dezenas de milhões de consumidores americanos para vender a credores em potencial. E, sem surpresa, dado o escopo de suas operações, a TRW estava intimamente ligada à CIA. Embora a tentativa de Soshana Zuboff de interpretar politicamente a fundação do capitalismo de vigilância — como o ato de pessoas específicas em uma conjuntura específica — seja admirável, ela esconde essa história mais longa da ciência da computação na vigilância estatal e seus cruzamentos com o setor privado. É aqui que encontramos os motivos mais convincentes de preocupação.
Afinal de contas, por que que eu deveria me importar se o Facebook me mostra horríveis anúncios publicitários e talvez até me convença de comprar alguma coisa, se essa é a única repercussão que o gigantesco acúmulo de dados tem sobre mim? É no momento em que abandonamos o simples intercâmbio do mercado — que formalmente sou livre para abandonar — e, junto com isso, o principal foco do capital de vigilância propriamente dito, que essa assimetria de conhecimento se torna verdadeiramente problemática. Seremos submetidos à manipulação digital, paga pelo licitante com o lance mais alto? Aqueles de nós que se mobilizem para além dos rituais clássicos da participação democrática, seremos rastreados, agrupados e neutralizados antes de que possamos representar uma ameaça real? As desigualdades sociais serão discretamente fortalecidas pelas classificações que nos são impostas por aqueles que estão em posição de supervisionar? Responder a essas questões com seriedade implicará entender o Estado como força ativa no desenvolvimento tecnológico, como um campo diferenciado e longe de ser neutro. A regulação normativa do capital de vigilância por si só não será suficiente — nem mesmo apoiada pelos movimentos sociais — porque qualquer desafio sério, se tornará, também, um desafio para o estado de vigilância.