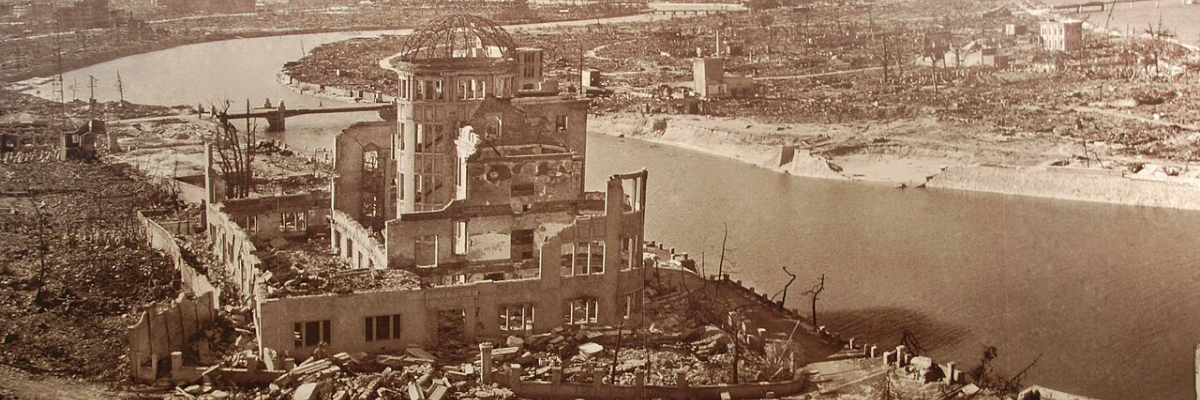24 Mai 2025
"Como se pode ver, a inter e a transdisciplinaridade tem emergido de modo recorrente nos debates teológicos dos últimos anos, ampliando as possibilidades da reflexão teológica, levando, como disse Francisco no Congresso de dezembro de 2024, a teologia a ser fermentada e tornando-a fermento que ajude a 'repensar o pensamento', ajudando as pessoas em busca da verdade a verem a vida e o mundo sob uma nova luz, a que brota da luz que é Cristo", escreve Geraldo Luiz De Mori, SJ, professor e pesquisador no Departamento de Teologia da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia.
Eis o artigo.
Em fins de janeiro de 2018, o Papa Francisco propôs, no Proêmio da Constituição Apostólica Veritatis Gaudium, quatro critérios para a “renovação e o relançamento da contribuição dos estudos eclesiásticos para uma Igreja em saída missionária”: (1) a “contemplação e a introdução espiritual, intelectual e existencial no coração do querigma”; (2) o “diálogo sem reservas”; (3) a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade; (4) a “necessidade urgente de “criar rede” entre instituições que cultivam e promovem os estudos eclesiásticos” (cf. VG, n. 4 a, b, c, d). Até então as instituições católicas de ensino superior de teologia tinham como referência na organização de seus currículos a Constituição Apostólica Sapientia Christiana, sobre as universidades e faculdades eclesiásticas, de 1979, e a Constituição Apostólica Ex Corde Eclesiae, sobre as universidades católicas, de 1990, ambas do pontificado de João Paulo II.
O que chamava a atenção no texto de 2018 era a disparidade entre o Proêmio, bastante inspirador e aberto, e a parte legislativa do texto, que retomava o que estava previsto na Sapientia Christiana, Constituição que efetivamente estava sendo substituída pela Veritatis Gaudium. Não é o caso aqui de apontar todas as contradições que emergem da comparação entre os quatro critérios propostos no Proêmio e a parte legislativa, mas de trazer o caminho feito no interior da teologia com relação ao terceiro critério, o da inter e transdisciplinaridade. Para isso, gostaria de apresentar brevemente uma iniciativa de 2024, proposta pelo Dicastério para a Cultura e a Educação, do Vaticano, que ajuda a entender os “desafios e possibilidades da transdisciplinaridade”, tema proposto para esta conferência. Minha fala terá duas partes: na primeira, apresentarei os dois eventos organizados pelo Dicastério e a proposta de trabalho que se deu entre os dois; na segunda, mostrarei como o tema da transdisciplinaridade tem sido trabalhado na teologia do Brasil, apontando as dinâmicas que subjazem ao processo.
Um caminho “sinodal” de “recepção” do Proêmio da Veritatis Gaudium
Após a promulgação da Veritatis Gaudium, a então Congregação para a Educação Católica organizou encontros em vários continentes com orientações sobre sua aplicação pelas faculdades eclesiásticas de teologia. Embora não ignorasse o Proêmio, os organizadores desses encontros deram ênfase, sobretutdo, a seus aspectos jurídicos, ou seja, às disciplinas a serem acrescentadas ou tiradas. Como a própria Constituição havia criado certo divórcio entre o Proêmio e a parte legislativa, era como se o processo de recepção se reduzisse a essas pequenas adaptações. Avançava, porém, no Vaticano o documento que daria a nova formatação à Cúria Romana, já com várias versões, culminando na Constituição Apostólica Praedicate Evangelium, sobre a Cúria Romana e seu serviço à Igreja no mundo, promulgada em 2022. Esse documento trazia mudanças significativas na organização dos organismos da Cúria, como a junção, no Dicastério para a Cultura e a Educação, do Pontifício Conselho para a Cultura e da Congregação para a Educação Católica. No início de 2024, o então secretário para a seção da educação do Dicastério, Cesare Pagazzi, convidou, em nome do Prefeito, Cardeal Dom José Tolentino de Mendonça, um grupo de teólogos/as de vários continentes para comporem a Comissão Científica do “Seminário de Estudos sobre o Ensino da Teologia nos Institutos Superiores de Teologia”, realizado na sede do Dicastério, nos dias 6-7/05/2024, e o Congresso Internacional “O futuro da teologia: herança e imaginação”, que aconteceu na Pontifícia Universidade Lateranense, nos dias 9-10/12/2024 [1]. Entre o Seminário de maio e o Congresso de dezembro, foram formados alguns grupos: o da organização da programação do Congresso; o que deveria propor um esboço de currículo de primeiro ciclo (“Sonhar o primeiro ciclo de teologia”)[2]. Foi decidido ainda que as faculdades eclesiásticas de teologia não só deveriam enviar representantes para o Congresso, mas também apresentarem possíveis maneiras de transformar o currículo vigente, para que de fato correspondessem ao que propõem os critérios do Proêmio da Veritatis Gaudium.
Os dois eventos organizados em 2024 pelo Dicastério para a Cultura e a Educação e a proposta apresentada ao mesmo Dicastério para uma reforma do currículo do primeiro ciclo ofereceram pistas interessantes para se pensar a mudança de época e o fazer teológico hoje. Apresento a seguir, de modo bastante panorâmico, o que foi discutido no Seminário de maio, passando, em seguida, para a proposta elaborada pelo grupo encarregado de “sonhar o primeiro ciclo de teologia”, para, finalmente, trazer os grandes eixos a partir dos quais foi organizado o Congresso realizado em dezembro 2024.
O Seminário reuniu cerca de 40 participantes, a maioria do próprio Dicastério e de outros Dicastérios que deverão ser implicados numa reforma do currículo dos estudos eclesiásticos, além dos membros do Conselho Científico e de outros convidados. Após a abertura, foram propostos dois painéis. O primeiro, com três intervenções, ofereceu, nas duas primeiras, uma reflexão sobre a relação entre filosofia e teologia, com as apresentações de Andrea Toniolo: “’Quanto mais se teologiza, mais se filosofa’. Sobre a circularidade entre filosofia e teologia”, e de Geraldo De Mori: “Filosofia e Teologia. De onde viemos, onde estamos, para onde vamos?”, e na terceira, uma apresentação dos desafios da hermenêutica teológica hoje, com a fala de Gilles Routhier: “Uma teologia para interpretar evangelicamente a vida, o mundo e os seres humanos”; o segundo painel, com duas intervenções, abordou a questão da relação entre as normas vigentes na Igreja hoje e as exigências internacionais do mundo acadêmico, com as contribuições de Mathias Ambros: “O estudo da teologia entre a normativa vigente e as novas exigências”, e Melanie Rosenbaum: “A Igreja como “global player” na educação (superior)”.
A função dos dois painéis era a de provocar a reflexão dos participantes, o que aconteceu durante toda a tarde do primeiro dia, a partir do método da “conversação no espírito”, realizado em seis grupos. Duas questões nortearam essa reflexão: (1) O que seria o novo “paradigma” dos estudos teológicos à luz da reflexão teológica e filosófica contemporânea e do ensino do magistério, do Concílio Vaticano II e da Veritatis Gaudium? ; (2) Congruência entre a teologia que se necessita e as normativas vigentes.
Partindo do primeiro critério, o da centralidade do querigma, e o do segundo, o diálogo sem reservas, foram postas em evidência duas afirmações do primeiro painel: a da teologia como “interpretação profética do presente” e a da teologia como “hermenêutica da vida do mundo e dos seres humanos”. O diálogo entre filosofia e teologia foi valorizado, mostrando a circularidade que existe entre o querigma, o contexto histórico, a comunidade eclesial, a missão evangelizadora e inculturadora e a filosofia. Reconheceu-se a necessidade da filosofia no fazer teológico, sobretudo no plano epistemológico e contextual. De fato, a filosofia é, por um lado, a condição epistemológica de autoverificação crítida da racionalidade teológica pois obriga a teologia a pensar-se como parcial, como um “fragmento” conectado relacionalmente e “poliedricamente” com outros saberes, como um saber não absoluto, de “passagem”, na circularidade entre o querigma e o mundo. Por otro lado, a filosofia convida a teologia a levar a sério o valor hermenêutico das demandas humanas, o valor cognitivo elaborado pelas diversas culturas, levando esses valores a confrontarem-se com a pretensão de verdade da crença e das representações simbólicas, dos modelos sociais e culturais historicamente implementados, dos saberes científicos e antropológicos, mantendo-se aberta à escuta crítica e autocrítica dos sinais dos tempos e da autoconsciência humana. Por isso, não se pode pensar a relação entre filosofia e teologia a partir do modelo “ancilar”, de linearidade propedêutica ou na forma de separação esquizofrênica, mas como dinâmica aberta e circular de um diálogo crítico, mas tenso e fecundo para ambas.
Para o terceiro critério, o da inter e transdisciplinaridade, parte-se da constatação de que a relação histórica entre filosofia e teologia pôs em evidência a evolução da noção disciplinar. A filosofia conhece hoje um enorme pluralismo e tende a se expressar como interrogação e interpretação crítica da complexidade dos saberes científicos (ciências humanas e ciências naturais) e das linguagens artísticas e simbólicas. Nesses dois âmbitos, a crescente especialização, por um lado, amplia o próprio potencial cognitivo e expressivo, e, por outro, traz consigo o risco da fragmentação do saber num complexo desagregado de dispositivos especializados, mas incapazes de darem resposta à necessidade de sentido, própria da busca da verdade. O poder performativo de manipulação da natureza, da sociedade e do ser humano pode, porém, se tornar o critério normativo e econômico dos saberes, e a produção artística pode ser fagocitada pela lógica do mercado, degradando a ciência e a técnica e transformando a ideia da verdade em uma ilusão do passado. Frente a essas derivas niilistas, a teologia e a filosofia se aliam na defesa de uma ideia de verdade vista como critério normativo e regulativo da racionalidade, que, ao mesmo tempo, seja transversal às múltiplas formas de discurso e de linguagens, e capaz de fundar uma noção teórica e prática da dignidade humana. O papel da filosofia, enquanto interlocutor privilegiado da teologia, ganha outro sentido. O modo como ela dialoga com as ciências naturais e humanas e com a linguagem artística se torna parte integrante do seu diálogo com a teologia, levando o saber da fé a uma inter e transdisciplinaridade crescente, a uma acolhida hospitaleira e crítica dos múltiplos saberes e das formas de expressão simbólica que potenciam sua capacidade de interpretação da sociedade, do presente e das várias formas de vida contemporânea.
A pluralização da racionalidade e sua recapitulação filosófica e teológica em uma busca da verdade inter e transdisciplinar transversal e normativamente unificadora, deve integrar ainda uma expansão e uma reformulação multi e transcultural que supere a estreiteza da tradição filosófica e teológica centrada na inculturação de perfil ocidental, pouco hospitaleira, no confronto com as culturas externas a ela, de outras formas de racionalidade, valores e sabedoria. A teologia deve contribuir nessa tomada de consciência eclesial da necessidade de abrir o processo da inculturação a uma real dinâmica de tradução, que produz, como manifestação da potência do Espírito, novas formas de dizer e viver a novidade do querigma. Uma teologia transdisciplinar deve, nesse sentido, desenvolver-se como teologia contextual e transcultural, colocando a racionalidade ocidental em diálogo com racionalidades e experiências históricas otras.
Os debates do Seminário mostraram ainda que o diálogo puramente intelectual, abstrato e teórico, com a filosofia, com os saberes científicos, com a linguagem artística e com a própria tradição na perspectiva da inculturação não é suficiente para garantir à teologia sua função de interpretação da verdade revelada através da cultura humana e de interpretação da vida humana através da verdade revelada. O diálogo entre saberes, racionalidades e culturas deve conjugar-se com o diálogo intra e intercomunitário, como partilha responsável e solidária de experiências de vida, na plena assunção da potência missionária e da paixão redentora do querigma. Se a vocação da teologia, segundo Santo Tomás, é a de contemplar tudo “sub ratione Dei” (ST I, q. 1, art. 7), conjugada em chave crítica e hermenêutica, esta vocação não significa afastar-se da dimensão existencial da fé como experiência de amor e comunhão fraterna. A teologia é, ao mesmo tempo, uma forma de vida contemplativa e ativa, nutrida de saber teórico e responsabilidade prática, de rigor doutrinal e sensibilidade sapiencial, sempre em tensão entre a liberdade pessoal do/a teólogo/a e sua responsabilidade comunitária. O/a teólogo/a interprea o próprio tempo à luz da Palavra de Deus e a Palavra de Deus à luz do próprio tempo, pois participa das demandas, penas, batalhas, sonhos, lutas e preocupações de seu povo. Quem faz, ensina e estuda teologia só pode dar corpo a esta vocação pastoral e missionária se está en plena relação sinodal com a comunidade eclesial, não pensando-se como um corpo separado, um órgão especializado, mas como intérprete de uma inteligência polifônica da fé, na diversidade convergente que emerge da pluralidade dos carismas e ministérios eclesiais, das exigências e tradições da Igreja local, das experiências dos fiéis de todo o mundo. Esta vocação eclesial da teologia se conjuga com uma vocação autenticamente social, de serviço à sociedade e a todos os seres humanos, na paixão pelo bem comum e na promoção da dignidade humana. Nesse sentido, a teologia é missionária se se torna teologia pública, ou seja, espaço de partilha cultural da verdade, da bondade e da beleza da fé que se faz dom não só para os crentes, mas para quem busca o sentido e a verdade.
Os demais pontos tratados dizem respeito ao quarto critério do Proêmio da Veritatis Gaudium, o da formação de redes. Enfatizou-se a necessidade de adequação entre o modo como se faz teologia na instituições eclesiais e os critérios universitários mais aceitos no mundo acadêmico. Vários riscos, relacionados aos quatro critérios foram também retomados, além de elementos de caráter pedagógico, como o da centralidade do estudante no processo de ensino-aprendizagem na teologia, a complementariedade entre os estudos científicos e a “salvaguarda canônica” da oferta formativa dos aspectos formais (jurídicos) e de conteúdos, o levar em conta as peculiaridades dos locais em que se faz teologia. O seminário apontou, enfim, algumas propostas de orientações práticas.
O grupo encarregado de elaborar uma proposta concreta para ser apresentada ao Dicastério, reuniu-se várias vezes entre maio e novembro de 2024. Após discussão das diferentes propostas apresentadas, o grupo redigiu um texto articulado em três partes. A primeira, dedicada à explicitação da finalidade e dos resultados do aprendizado da formação teológica, aponta como finalidade do primeiro ciclo fornecer os conteúdos e os instrumentos metodológicos de base para conhecer e interpretar a doutrina cristã em diálogo com a filosofia e as ciências humanas, além de oferecer ao estudante a capacidade de assumir sua existência pessoal e a realidade sociocultural na qual vive à luz da revelação. Os resultados almejados seriam: (1) conhecer a “linguagem e a gramática” da revelação e da fé cristã, articulando esse conhecimento com as próprias demandas existenciais e com as demandas que nascem dos “sinais dos tempos” dos homens e mulheres que testemunham sua própria fé; (2) saber dar “as razões da própria esperanaça” (1Pd 3,15) não só a quem compartilha a própria fé, mas também aos que compõem a sociedade na qual vive quem faz o primeiro ciclo e aos que atuam no ambiente acadêmico; (3) ter a capacidade de diálogo com as diversas visões de mundo, da vida e do ser humano; (4) saber fazer dos contextos existenciais da fé cristã o início de um processo pessoal de assimilação no próprio coração, para integrar a fé com a vida.
A segunda parte do projeto propõe alguns critérios que deveriam orientar o projeto global formativo em âmbito teológico, a saber: (1) a necessidade de se pensar juntos o primeiro e o segundo ciclos, para dar coerência ao percurso global; (2) uma formação teológica na qual participem leigos/as, religiosos/as e futuros ministros ordenados; (3) o equilíbrio entre diferenciação e homogeneidade nas instituições das diversas partes do mundo que oferecem formação teológica; (4) a passagem de um ensino centrado em temas e doutrina a um ensino atento aos processos de aprendizagem e assimilação, que seja personalizado, reflexivo, contextual; (5) o caráter iniciático do primeiro ciclo com relação ao segundo e ao terceiro; (6) a oportunidade de um percurso mais breve, para adequar os estudos teológicos aos percursos estatais, e facilitar a participação de leigos/as; (7) a necessidade de integrar a filosofia no percurso, evitando um biênio propedêutico e criando contemporaneidade e integração entre filosofia e teologia, e distribuindo o ensino filosófico ao longo do percurso; (8) a centralidade do estudo das Escrituras como alma da teologia e da vida; (9) a necessidade de prever, além do conhecimento filosófico, o estudo de ciências humanas, biologia, neurociências, inteligência artificial, ciências naturais, literatura, arte e a cultura local.
A terceira parte do projeto apresenta uma proposta de percurso que articule o primeiro e o segundo ciclo da teologia, pensados juntos, em cinco anos, três para o primeiro ciclo e dois para o segundo. O primeiro ciclo teria um caráter iniciático, com um viés filosófico-teológico. No centro da proposta deveriam ser asseguradas: uma introdução ao estudo da teologia em perspectiva interdisciplinar, no diálogo com a filosofia e as outras ciências; uma iniciação às Sagradas Escrituras; uma iniciação à teologia sistemática; uma iniciação à teologia moral; uma iniciação ao direito canônico; uma iniciação aos padres da Igreja e à história da teologia; uma iniciação à história da igreja. Após esta abordagem iniciática, seriam estudados os diferentes temas ligados à vida do ser humano e da história, em perspectiva interdisciplinar, com uma atenção especial para a relação com a filosofia, articulando filosofia ética e teologia moral, filosofia da religião e teologia fundamental, metafísica e teologia trinitária, antropologia filosófica e antropologia teológica. O segundo ciclo poderia assumir duas direções fundamentais: (1) a primeira se concentraria na formação para os candidatos ao ministério ordenado na Igreja, ou na direção pedagógica, para quem vai se dedicar ao ensino, à catequese ou à educação; (2) a segunda poderia interessar-se por temas como: doutrina social, diálogo inter-religioso, ou questões teológico-morais ou sistemáticas.
O Congresso, que, como foi assinalado, teve como tema “O futuro da teologia: herança e imaginação”, foi organizado ao redor de três questões: onde, como e por que? Antes de apresentar de forma sintética esses três momentos, é importante trazer aqui o Discurso do Papa Francisco aos cerca de 500 participantes do Congresso. Ele começou dizendo que quando pensava na teologia lhe vinha à mente a luz. Graças a ela, “a realidade sai da escuridão, os rostos revelam o seus contornos, as formas e as cores do mundo finalmente aparecem”. A beleza da luz é que ela faz aparecer a realidade sem se exibir, pois ela é discreta e gentil, como a teologia, que faz um “trabalho escondido e humilde, para que sobressaia a luz de Cristo e do seu Evangelho”. Desta constatação, diz o Papa, deriva um caminho, o de “procurar a graça e permanecer na graça da amizade com Cristo, verdadeira luz que veio a este mundo. Toda a teologia nasce da amizade com Cristo e do amor pelos seus irmãos e irmãs, pelo mundo: este mundo, dramático e ao mesmo tempo magnífico, cheio de dor, mas também de beleza comovedora”[3]. Recordando os eixos do Congresso, Francisco levanta as perguntas: “teologia, onde estás? Com quem andas? O que fazes pela humanidade?” Segundo ele, as reflexões que seriam feitas naqueles dias, deveriam levar à pergunta pelo legado teológico do passado. Até que ponto ele ainda diz algo frente aos desafios de hoje? Até que ponto ele ajuda a pensar o futuro? O Papa recorda o encontro do manuscrito no templo, narrado em 2Rs 22,14-20. Ninguém o compreendia, somente uma mulher, Culda. Há coisas, diz ele, “que só as mulheres intuem e a teologia precisa de sua contribuição”. Ele passa em seguida a manifestar um desejo e um convite. O desejo, “que a teologia ajude a repensar o pensamento”. Um pensamento “retraído, fechado e medíocre, dificilmente pode gerar criatividade e coragem”. Para repensar o pensamento, é preciso evitar a simplificação que, como a ideologia, “mata a realidade, mata o pensamento, mata a comunidade”, pois tende a nivelar tudo numa única ideia, que depois repete de “modo obsessivo, instrumental, superficial, como os papagaios”. O antído para isso, diz Francisco, é indicado na Veritatis Gaudium, a inter e a transdisciplinaridade. Trata-se de fazer “fermentar conjuntamente a forma do pensamento teológico com a dos outros saberes: filosofia, literatura, artes, matemática, física, história, ciências jurídicas, políticas e econômicas”. A fermentação desses saberes funciona como os sentidos do corpo. Cada um tem sua especificidade, mas todos precisam uns dos outros. Nesse sentido, “Contribuindo para repensar o pensamento, a teologia voltará a resplandecer como merece, na Igreja e nas culturas, ajudanto todos e cada um na busca da verdade”[4]. Após expressar seu desejo, o Pontífice apresenta aos congressistas um convite: “que a teologia seja acessível a todos!” Muitas pessoas, diz ele, buscam aprofundar a fé, sobretudo pessoas de meia idade. E a teologia deve ser a “companheira de viagem” dessas pessoas, tornando-se para elas uma “casa aberta”, um lugar onde possam retomar um caminho, onde possam procurar, encontrar e voltar a investigar. Concluindo seu discurso, ele pede para se imaginar coisas novas nos currículos, “para que a teologia seja acessível a todos!”[5].
A dinâmica do Congresso também foi marcada pelo método da “conversação no espírito”. A tarde do primeiro dia, dedicada ao “Onde?”, após uma breve apresentação da finalidade, contou com seis apresentações sobre os “lugares” a partir dos quais se faz teologia hoje na Igreja: a África, com a Profa. Caroline Mbonu, da Nigéria; a Ásia, com o Prof. Ruben Mendoza, das Filipinas; a Oceania, com a Profa. Robyn Horner, da Austrália; a Europa, com o Prof. Michel Deneken, da França; a América do Norte, com a Profa. Nancy Pineda-Madrid, dos USA; a América do Sul, com o Prof. Carlo Galli, da Argentina; as Igrejas Orientais, com o Prof. Gabriel Hachem, do Líbano. No final do dia, os mais de trinta grupos apresentaram o resultado da conversação no espírito, que eles realizaram.
O segundo eixo, dedicado ao “Como?”, após duas breves introduções, contou com uma conferência-performance da Profa. Maeve Louise Heaney, que, além de teóloga, é músisista, mostrando como a música, em várias expressões, expressa a busca de sentido. Em seguida, o escritor Éric-Emmanuel Schmitt, da França, fez uma apresentação de como a questão da busca do sentido é abordada na arte de escrever romances. A terceira contribuição foi do Prof. Carlo Rovelli, físico, originário da Itália, mas professor na França, que apresentou as questões sobre o sentido suscitadas no mundo da física. Finalmente, a cineasta Alice Rohrwacher, da Itália, apontou como a busca de sentido foi trabalhada por ela em alguns de seus filmes. Após essas apresentações, foram feitas três reflexões, uma com Christoph Théobald, da França, outra com James Keenan, dos USA, outra com a Profa. Mary Jerome Obiorah, da Nigéria, sobre o que a escuta de lógicas não teológicas ensina à reflexão teológica. O último eixo, “Por que?”, voltou à escuta das vozes dos diferentes continentes, com o Prof. Agbonkhianmeghe Orobator, da Nigéria; a Profa. Stephanie Ann, das Filipinas; o Prof. Piero Coda, da Itália; o Prof. Mark Yenson, do Canadá; o Prof. Waldecir Gonzaga, do Brasil; e o Prof. Željko Paša, da Croácia.
O sobrevôo sobre o caminho feito pelo Dicastério para a Cultura e a Educação em 2024, tendo em vista uma melhor articulação entre o Proêmio da Veritatis Gaudium e sua parte normativa, dá uma ideia de como, o que se poderia chamar de “teologia oficial” da Igreja católica, tem assimilado a prática da inter e da transdisciplinaridade. A ousadia para pensar novos caminhos, aberta durante o pontificado de Francisco, está na origem desse processo, que, com sua morte, poderá ou não ser continuado. Para além, porém, da “teologia oficial”, a teologia tem sido fortemente fecundada nos últimos anos pelo apelo à inter e à transdisciplinaridade. É a isso que brevemente aludiremos a seguir.
A transdisciplinaridade e a teologia feita em contexto brasileiro
A teologia feita no Brasil ganhou certa cidadania após o Concílio Vaticano II, quando, parafraseando Henrique Cláudio de Lima Vaz, ela deixou de ser “reflexo” da teologia feita na Europa e tornou-se “fonte”, ou seja, passou a pensar com seus próprios recursos, dando ênfase ao lugar a partir do qual a fé cristã era vivida e pensada, o próprio país e o continente ao qual pertencia [6]. Esse percurso, como o de toda a teologia cristã, tinha como principal interlocutor o pensamento filosófico, com certa preferência para as correntes críticas, muitas delas em gestação na América Latina. Algumas dessas correntes já estabeleciam um diálogo importante com o pensamento social e político, como o que deu origem à teoria da dependência. Outras, partindo da experiência pastoral da Ação Católica, valorizavam todo o caminho pedagógico elaborado por Paulo Freire. As primeiras sínteses do que depois se tornou a teologia da libertação vão justamente privilegiar, para a compreensão da racionalidade crítica da fé, as ciências do social, então denominadas de socioanalíticas, com certa predominância para a sociologia, a ciência política e, em alguns casos, certas correntes filosóficas marxistas. Em parte, isso se deu num diálogo fecundo entre muitos intelectuais vindos das fileiras dos movimentos juvenis da Ação Católica. O caráter interdisciplinar da teologia, sobretudo a protestante, elaborada a partir do século XIX, a levava a recorrer aos saberes das ciências históricas nos estudos exegéticos e dogmáticos, além de ter como referência filosofias de caráter existencial, personalista e histórico. Algo parecido atravessou o processo de renovação que antecedeu o Vaticano II na teologia católica, que buscou dialogar com as ciências e as filosofias da época. O movimento desencadeado na América Latina fez com que outros saberes passassem a fazer parte da epistemologia teológica. O dialogo interdisciplinar tornou-se então não só uma prática recorrente, mas ganhou outros interlocutores. Nesse contexto nasceu, em 1985, a Sociedade de Teologia e Estudos da Religião (SOTER), um dos principais fóruns de debate teológico do Brasil, que tinha como uma de suas marcas principais o diálogo inter-disciplinar, cultivando sempre a perspectiva ecumênica e, nas últimas décadas, a perspectiva inter-religiosa.
Como a teologia não tinha reconhecimento civil no país, por conta da herança francesa da laicidade do Estado, todo o período que se seguiu ao Concílio, embora estremamente fecundo, por ter elaborado uma reflexão enraizada em solo nacional, pode ser caracterizado como o de uma teologia que tinha como principais “públicos”, como os denomina o teólogo norte-americano David Trace, a “Igreja” e a “sociedade”[7]. Nesse sentido, é compreensível que a interdisciplinaridade fosse realizada sobretudo com saberes que contribuíam para o anúncio da fé, como as ciências históricas e literárias no estudo da Sagrada Escritura, ou os estudos históricos relacionados ao dogma, no caso do “público Igreja”, e as ciências do “social”, para o “público sociedade”.
Esta situação começou a mudar em 1978, quando a PUC SP teve reconhecido seu curso de Ciência da Religião pela CAPES. Outras propostas similares foram aprovadas e algumas faculdades de teologia, que ofereciam cursos “livres” de graduação, mestrado e doutorado, como a PUC Rio, a PUC SP, o Centro de Estudos Superiores da Companhia de Jesus (CES), que se tornou em 2005 a FAJE, também começaram a solicitar junto à CAPES o credenciamento de seus cursos de pós-graduação. Alguns desses cursos foram reconhecidos, e, a partir daí, começou todo um processo de busca do reconhecimento civil da teologia também em nível de graduação, o que veio a acontecer de modo pleno com a homologação pela Resolução nº 4, do CNE/CES, de 16/09/2016, feita pelo Ministro da Educação e publicada pelo D.O.U em 08/09/2025. O reconhecimento da teologia pelo Estado brasileiro fez com que ela tivesse que levar em conta as exigências das várias instâncias do Ministério da Educação, como as que norteiam o Documento de Área na CAPES e as que orientam a Matriz Curricular dos cursos de graduação do CONAES/MEC.
A inter e a transcisciplinaridade são exigidas tanto no Projeto Pedagógico dos cursos de graduação, que devem pautar-se pelas orientações da Resolução que aprovou a Matriz Curricular do bacharelado civil da teologia no Brasil, quanto no Documento da Área 44, que é o que apresenta as grandes linhas para os cursos de mestrado e doutorado em Ciências da Religião e Teologia no país, fazendo com que o “público academia”, ganhe uma importância grande no fazer teológico das últimas décadas. Somente a título de ilustração, a preocupação com a inter e a transdisciplinaridade está presente no órgão regulador da pós-graduação no Brasil desde 2012, quando a CAPES organizou um encontro internacional para o qual convidou todos os coordenadores de programas de pós-graduação do país. Essa orientação passou a fazer parte dos processos avaliativos, tanto nos recredenciamentos dos cursos, quanto nas avaliações quadrienais da pós-graduação. Outros elementos também ganharam importância com o ingresso da teologia na academia, como a preocupação com a pesquisa e a disseminação dos seus resultados, feita através de congressos e de publicações, com ênfase nos periódicos, que passaram a ser avaliados, preocupando-se mais com a difusão de um saber que dialogue com a academia ou com a sociedade, diminuindo a presença da ênfase no público Igreja.
A multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade fazem parte da história da epistemologia da teologia. De fato, desde seu surgimento, a inteligência da fé buscou estabelecer diálogos entre o anúncio/querigma e os saberes dos quais dispunha para apresentá-lo aos diferentes públicos. Neste contexto nasceram os primeiros métodos exegéticos, já presentes na própria elaboração dos textos do Novo Testamento. Neste contexto igualmente nasceu a preocupação com a busca da verdade, pensada à luz da razão crítica, própria do saber filosófico e constitutiva das várias correntes teológicas que foram surgindo ao longo dos séculos. A perspectiva transdisciplinar ganhou importância nas últimas décadas. Um de seus teóricos, Basarab Nicolescu, afirma que o prefixo “trans” “diz respeito àquilo que está ao mesmo tempo entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de qualquer disciplina”[8], com o objetivo de compreender o mundo presente na unidade do conhecimento. Segundo Maria Lucia Rodrigues, a “transdisciplinaridade surge como possibilidade para o alargamento da compreensão do real, como renascimento do espírito e de uma nova consciência, de uma nova cultura para enfrentar os perigos e horrores desta época”. Ela busca colocar em conexão os conhecimenos e as capacidades de pensar para transformar a si mesmo e ao mundo[9].
Como efetivamente a inter e a transdisciplinaridade se expressam no âmbito de cursos de graduação e de pós-graduação em teologia no Brasil? A interdisciplinaridade é mais evidente, e emerge de muitas maneiras, seja nas abordagens das próprias disciplinas, que recorrem aos saberes elaborados por disciplinas de outras áreas para fazer avançar a própria reflexão e pesquisa, como, por exemplo, o mundo da pesquisa bíblica, que recorre a métodos de outras ciências, como a historiografia, as ciências literárias, a arqueologia etc. O mesmo se pode dizer dos temas de ética teológica, que se deixam enriquecer pelos estudos das ciências da saúde, da biologia, das ciências sociais, da psicologia, dos estudos de sexualidade, da psicanálise. As disciplinas sistemáticas igualmente necessitam de estabelecer uma série de diálogos com saberes diversos, intra e extra-teológicos. Algo parecido acontece ainda com as disciplinas que abordam questões relacionadas à vida litúrgica, aos sacramentos, à espiritualidade, à pastoral, ao direito. Essa dinâmica se encontra também nos grupos de pesquisa e nos enventos organizados por instituições e associações que reunem teólogos/as e cientistas da religião, espaço privilegiado de muita troca e aprendizado comum, e nos periódicos nos quais eles/as publicam os resultados das pesquisas que realizam em suas instituições.
Enquanto a interdisciplinaridade é aparentemente contemplada em muitos espaços, a transdisciplinaridade nem sempre é tão evidente, embora haja muitos esforços para torná-la uma prática real também no fazer teológico. Prova disso é a obrigatoriedade, para os cursos de graduação no Brasil, de incluir temas e disciplinas que contemplem as tradições dos povos originários e do mundo afrodescendente, estudadas por antropólogos, mas muitas vezes abordadas a partir do conhecimento empírico de contatos com comunidades e rituais religiosos próprios dessas culturas. É importante observar que mesmo antes que isso acontecesse, a teologia da América Latina conheceu vários esforços por deixar-se instruir pelos saberes indígenas e negras, que deram origem às teologias indígenas e afrodiaspóricas, com contribuições importantes de teólogos que trabalharam no Brasil, como Paulo Suess, para o diálogo com a teologia indígena, Pe. Antônio Aparecido da Silva, Ir. Francizka Rehbein e Pe. Heitor Frissoti, para o diálogo com as tradições africanas. Outros saberes igualmente têm sido assimilados em relação de transdisciplinaridade na teologia feita no país. É o caso do mundo das artes, que conheceu um desenvolvimento maior no diálogo entre teologia e literatura, com iniciativas interessantes, como a do periódico Teoliterária, da PUC SP, e, em nível latino-americano, a Associação Latino-Americana de Literatura e Teologia (ALALITE), sem contar o número importante de pesquisadores/as na área no país, e os Grupos de Trabalho presentes dos congressos da SOTER e da ANPTECRE. Uma interface nova, surgida nos últimos anos, é a inaugurada pelo Pe. Francys Silvestrini Adão, mostrando a relação entre teologia e gastronomia, numa perspectiva chamada de teogastronomia. Um outro âmbito, o do diálogo entre teologia e ecologia, embora muitas vezes visto como mais propício ao diálogo interdisciplinar, também tem dado origem a leituras transdisciplinares, sobretudo quando acolhe os saberes ancestrais dos povos originários.
Conclusão
Como se pode ver, a inter e a transdisciplinaridade tem emergido de modo recorrente nos debates teológicos dos últimos anos, ampliando as possibilidades da reflexão teológica, levando, como disse Francisco no Congresso de dezembro de 2024, a teologia a ser fermentada e tornando-a fermento que ajude a “repensar o pensamento”, ajudando as pessoas em busca da verdade a verem a vida e o mundo sob uma nova luz, a que brota da luz que é Cristo.
Notas
[1] - A Comissão era constituída por: Christoph Théobald, das Facultés Loyola Paris; Piero Coda, da Comissão Teológica Internacional e professor no Instituto Universitário Sophia de Loppiano; Michel Deneken, da Universidade de Estrasburgo; Maeve Louise Heaney, da Universidade Católica da Austrália e Presidente da INSEcT; Andrea Toniolo, da Faculdade Teológica do Triveneto; Benjamin Akotia, da Universidate Católica da África do Oeste; Geraldo Luiz De Mori, da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia (FAJE).
[2] - O grupo específico encarregado de apresentar uma proposta concreta de um currículo para a graduação era constituído por: Gianni Caliandro, do Seminário Regional Pugliese Pio XI de Molfetta; Benjamin Akotia; Francisco Ramirez, da Pontificia Universidad Comillas; Maeve Heaney; Séïde Martha, da Pontifícia Universidade de Ciência da Educação “Auxílium”; Jose Quilongquilong, do Ateneo de Manila University.
[3] - FRANCISCO, Papa. Discurso aos participantes no Congresso Internacional sobre o futuro da teologia organizado pelo Dicastério para a cultura e a educação. Leia aqui. Consulta: 20/04/2025.
[4] - Idem.
[5] - Ibidem.
[6] - VAZ, H. C. de Lima. Igreja reflexo vs Igreja-fonte. Cadernos Brasileiros, Rio de Janeiro, n. 46, p. 17-22.
[7] - Cf. TRACY, D. Retrato social do teólogo: os três públicos da teologia: sociedade, academia, igreja. In A imaginação analógica. A teologia cristã e a cultura do pluralismo. São Leopoldo: Unisinos, 2004, p. 19-72.
[8] - NICOLESCU, Basarab. O Manifesto da Transdisciplinaridade. São Paulo: TRIOM, 1999. p.35
[9] - RODRIGUES, Maria Lucia. Caminhos da transdisciplinaridade: fugindo a injunções lineares. Nemess Complex. São Paulo: PUC-SP.
Referências
Francisco, Papa. Constituição Apostólica Veritatis Gaudium, sobre as universidades e faculdades eclesiasticas. Leia aqui. Consulta: 20/04/2025.
FRANCISCO, Papa. Discurso aos participantes no Congresso Internacional sobre o futuro da teologia organizado pelo Dicastério para a cultura e a educação. Leia aqui. Consulta: 20/04/2025.
JOÃO PAULO II, Papa. Constituição Apostólica Sapientia Christiana, sobre as universidades e faculdades eclesiásticas. Roma: Libreria editrice vaticana, 1979. Leia aqui. Consulta: 20/04/2025
JOÃO PAULO II, Papa. Constituição Apostólica Ex Corde Ecclesiae, sobre as universidades católicas. Roma: Libreria editrice vaticana, 1990. Leia aqui. Consulta: 20/04/2025.
TRACY, D. Retrato social do teólogo: os três públicos da teologia: sociedade, academia, igreja. In A imaginação analógica. A teologia cristã e a cultura do pluralismo. São Leopoldo: Unisinos, 2004, p. 19-72
VAZ, H. C. de Lima. Igreja reflexo vs Igreja-fonte. Cadernos Brasileiros, Rio de Janeiro, n. 46, p. 17-22.
Leia mais
- IHU Cast – Fazer teologia hoje. Desafios e possibilidades da transdisciplinaridade
- Fazer teologia hoje. A passagem da sociedade da honra para a sociedade da dignidade. Artigo de Andrea Grillo
- Fazer teologia hoje: elementos de debate a partir das reflexões de Andrea Grillo. Artigo de Umberto Rosario Del Giudice
- Fazer teologia hoje. Notas de Severino Dianich
- Vaticano: caminhos teológicos. Artigo de Manuel António Teixeira
- Caminhos da Antropologia Teológica. Artigo de Eliseu Wisniewski
- Mudança de época e o fazer teológico hoje. Do silêncio dos teólogos à vocação universal da Teologia
- As palavras e as coisas, graças a Francisco e depois de Francisco. Artigo de Andrea Grillo
- A “teologia rápida” corrige a teologia rápida demais. Uma leitura invertida. Artigo de Andrea Grillo
- A teologia rápida como resposta à mudança de época. Entrevista com Antonio Spadaro
- É o tempo de mudanças turbulentas. É por isso que precisamos de uma teologia 'rápida'. Artigo de Antonio Spadaro
- A traição dos teólogos. Artigo de Severino Dianich
- Sobre a profissão dos teólogos e das teólogas. Artigo de Severino Dianich
- Papa Francisco critica “os nacionalismos fechados e agressivos” contra os migrantes
- Teologia, hoje: problemas práticos
- “O futuro é o cristianismo de Jesus, que faz nascer a esperança onde só existe escombro”. Entrevista especial com Dom Vicente de Paula Ferreira
- A teologia da “encarnação profunda”. Artigo de Paolo Trianni
- A graça da teologia: inquietação, questões, desejo. Artigo de Geraldo Luiz De Mori
- A teologia (sempre) é necessária. Artigo de Martino Rovetta
- “A ciência teológica deve ser concebida cada vez mais como sabedoria”, diz Staglianò, presidente da Pontifícia Academia de Teologia