29 Junho 2024
"Seria a dominação inata ao ser humano? Ou a “invenção” da propriedade privada a forjou? Filósofos como Hobbes e Rousseau tentaram entender as raízes patriarcais nos seis milênios de civilização. Mas, talvez, seja hora de outro olhar sobre a história da humanidade", escreve Antônio Sales Rios Neto, servidor público federal, estudioso da cultura patriarcal e das novas abordagens da Complexidade, coordenador, representando o Brasil, do projeto "La Emergencia de los Enfoques de la Complejidad en América Latina", em artigo publicado por Outros Palavras, 27-06-2024.
Eis o artigo.
“Três forças lutam, nos bastidores, pelo domínio do planeta.
Três forças com as quais a humanidade sempre conviveu,
porque estão no poder desde os primórdios dos tempos:
sacerdotes, generais e mercadores. (…)
Se continuarmos como estamos, estas três forças
destruir-se-ão umas às outras e, no processo, a humanidade.”
(Jacques Attali)
“Sempre fomos assim ou, em algum momento, algo deu muito errado?”
(Graeber e Wengrow)
As condições de convivencialidade e habitabilidade no mundo contemporâneo estão em um acelerado, e aparentemente irreversível, processo de conflagração e decomposição, muito embora este fenômeno esteja bem distante do alcance do senso comum, e até mesmo de uma considerável parcela da academia e de quem se ocupa de produzir Ciência. A percepção das massas, ao contrário, está, no caso da crescente maioria de precarizados (quando não, excluídos e abandonados à indigência e à criminalidade) do sistema-mundo capitalista, apenas direcionada a lutar pela sobrevivência, e, do lado da minoria inserida na inebriante lógica tecnoeconômica, ocupando-se das inesgotáveis distrações do vasto cardápio de desejos de consumo e entretenimento, ofertados pelo deus tecnomercado, principal eixo de desregulação e inviabilização da civilização na atualidade.
Nas sombras de uma aparente estabilidade e de um celebrado avanço civilizatório, proporcionados pelas inovações, comodidades e encantos do novo mundo high-tech, que se descortinou neste início do século XXI, estão em curso processos agônicos que vêm impactando profundamente os mais diversos aspectos da experiência humana, notadamente o geopolítico e o ambiental, sendo este último já visivelmente catastrófico.
É o que podemos observar, com crescente frequência, na pauta dos principais jornais, nos diversos meios de interação virtual e em manifestações de renomados pesquisadores e pensadores que se dedicam a compreender as convulsões globais do tempo presente. Para ficar em apenas dois exemplos deste tenebroso prognóstico sobre o mal-estar do mundo em que vivemos, dois livros publicados recentemente, um tratando do cada dia mais intolerante e belicoso cenário geopolítico atual, e o outro da premente e inadiável questão ecológica, são bem representativos desse fenômeno agônico contemporâneo. São eles:
1) O obra O naufrágio das civilizações (Vestígio, 2022; 1. ed. em 2019), do escritor líbano-francês Amin Maalouf, um dos quarenta imortais que integra a Academia Francesa desde 2011, na cadeira antes ocupada por Claude Lévi-Strauss. Fazendo alusão à tragédia do imponente e garboso transatlântico Titanic, que em abril de 1912 sucumbiu diante de um iceberg imperceptível, Maalouf antevê a possibilidade de a humanidade perecer em face do que ele considera as três chagas que hoje afligem nosso convulsionado mundo moderno: os conflitos identitários e nacionalistas, o islamismo radical e o ultraliberalismo.
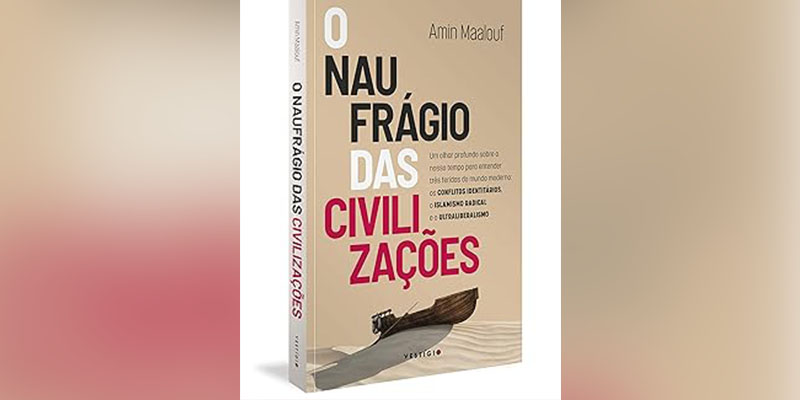
Livro de Maalouf (Foto: divulgação)
Todos eles despertados, simultaneamente, em conturbados eventos geopolíticos, deflagrados por volta dos anos 1970, muitos dos quais Maalouf foi testemunha ocular quando exercia sua atividade de jornalista. “É a humanidade inteira que se vê à pique”, diz ele. Daí o seu profundo pessimismo, ao perceber que “uma engrenagem está em curso, que ninguém a iniciou voluntariamente; que em suas roldanas estamos todos encaixados, à força; e que ela ameaça destruir nossas civilizações”.
Maalouf destaca como principal estopim da regressão civilizatória que vivenciamos no presente “a revolução islâmica proclamada pelo aiatolá Khomeini em fevereiro de 1979 e a revolução conservadora que se instalou no Reino Unido, pelas mãos da primeira-ministra Margaret Thatcher, em maio do mesmo ano”. Passados quase 50 anos, sem que houvesse quaisquer tratativas para cicatrizar e debelar essas “revoluções conservadoras” que se desdobraram a partir de 1979, “o ano da grande reviravolta”, a humanidade, sem perceber, terminou por incorporá-las.
Os principais líderes mundiais, sejam os governantes dos países desenvolvidos do Norte Global ou os magnatas das megacorporações transnacionais, agora parecem não enxergar, muito menos saber como se desviar da montanha de gelo que está bem à nossa frente. Segundo Maalouf, está posto o mais perturbador impasse geopolítico da história: “como convencer nossos contemporâneos de que, ao continuarem prisioneiros de concepções tribais de identidade, de nação e de religião, e ao seguir glorificando o egoísmo sagrado, eles engendram seus próprios filhos num futuro apocalíptico?”
2) O livro-dossiê O decênio decisivo: propostas para uma política de sobrevivência (Elefante, 2023), do persistente pesquisador da Unicamp, Luiz Marques, que conseguiu reunir, em mais de 600 páginas, evidências climáticas irrefutáveis, endossadas por várias entidades e cientistas especializados, dentre os quais estão os dois mais relevantes coletivos científicos da atualidade na área ambiental, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas - IPCC e o Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos – IPBES, ambos ligados à ONU.
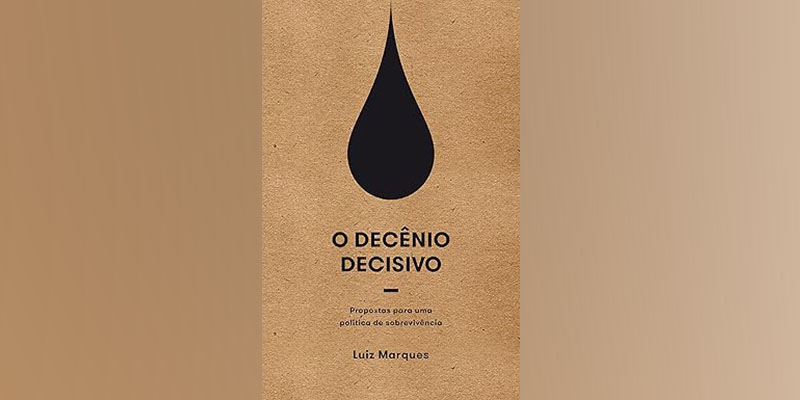
Livro de Marques (Foto: divulgação)
Esta obra, que na verdade é uma atualização de sua obra anterior (Capitalismo e colapso ambiental, Unicamp, 2018), proporciona a quem a lê um choque de realidade, na qual nos deparamos não só com provas inequívocas acerca do acelerado processo de colapso climático, já em andamento, mas com inúmeras conclusões convergentes de cunho existencial, como a do cientista sueco Johan Rockström, diretor do Instituto Potsdam para Pesquisa de Impacto Climático – PIK, sediado na Alemanha: “De acordo com a evidência que temos hoje, minha conclusão é de que o que fizermos entre 2020 e 2030 será decisivo para o futuro da humanidade na Terra”.
As percepções de Maalouf e Marques estão refletidas hoje sob o signo de duas principais agonias planetárias imbricadas:
1) a assustadora expectativa de escalada nuclear, resultante do choque entre a expansão insana da Organização do Tratado do Atlântico Norte – Otan e o avanço econômico-militar da aliança Rússia-China;
2) o acelerado processo de mudanças climáticas, refletido num aumento médio de temperatura já tendente a ultrapassar, antes de 2030, o perigoso patamar de 1,5ºC acima dos níveis pré-industriais (Relatório 2023 da Organização Meteorológica Mundial – OMM), sem qualquer perspectiva concreta de mitigação num horizonte próximo, configurando um claro risco existencial para humanidade.
Sempre houve uma tendência natural de situar as mazelas humanas a fatos e eventos históricos mais evidentes e próximos da conjuntura de crise que se está vivenciando. Tanto Maalouf quanto Marques atribuem os motivos que levaram a humanidade para esse estado de gravíssima vulnerabilidade, com potencial de nos arrastar a uma inaudita situação de colapso civilizatório, a contextos muito recentes. Do ponto de vista da experiência jornalística de Maalouf, os motivos são às duas “revoluções conservadoras” patrocinadas por Khomeini e Thatcher em 1979; segundo as evidências científicas monitoradas por Marques, seria a “Grande Aceleração” desenvolvimentista despertada a partir dos 30 anos gloriosos (1945-1975), que consolidaram a hegemonia e a globalização do sistema-mundo capitalista, período responsável pelos picos de crescimento exponencial da população e do consumo, ao custo de uma predação de recurso naturais sem precedentes na história. Eles estão certíssimos em seus diagnósticos. No entanto, podemos também incorporar um terceiro elemento motivador, bem mais sistêmico, que pode aprofundar ainda mais a dimensão da policrise terminal que vivemos.
Proponho aqui considerarmos a influência do componente chamado Cultura – no qual se assenta a Civilização e todo seu longo processo de formação –, e não apenas a indução por fatores conjunturais, como fazem Maalouf e Marques. Quando falo Cultura, refiro-me a capacidades adquiridas no sentido socioantropológico que esse termo comporta, o qual inclui valores, crenças, premissas, modelos, cosmovisões, teorias e concepções da Natureza, que comumente representamos pela noção de “mitos”, ou “ilusões”, usando uma categoria que Sigmund Freud adotou para compreender a desajustada interação entre o ser humano e a realidade que o cerca.
Inclusive, para Freud, as noções de Cultura e Civilização representavam a mesma coisa. “Recuso-me a separar cultura e civilização”, dizia ele. O mais recomendável seria, então, retrocedermos bastante no tempo histórico para compreendermos melhor como chegamos nesse estado de policrise planetária, aparentemente terminal.
Compreender a natureza do Homo sapiens moderno e sua tortuosa condição tem sido uma das principais inquietações ao longo da história, em especial nos sombrios dias atuais, em que a humanidade se depara, pela primeira vez, com dois grandes impasses de alcance planetário (escalada nuclear e perspectiva de colapso ambiental) com potencial de interromper a continuidade do projeto civilizatório, ainda neste século XXI. Portanto, sem uma ampliação temporal da investigação acerca da condição humana, estaremos apenas presos a uma lógica de pensamento recursiva que apenas replica as ilusões de uma cultura, ou de um modo de viver humano, a partir de supostas “soluções” cujos fundamentos estão amparados nas mesmas ilusões que sustentam a cultura dominante. Estamos falando do processo de autoconservação de uma cultura, sobre o qual abordaremos mais à frente.
O pensador genebrino Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) inicia uma de suas principais obras, O Contrato Social (1762), com a seguinte advertência, que é bem conhecida de seus admiradores: “O homem nasceu livre e em toda parte é posto a ferros. Quem se julga o senhor dos outros não deixa de ser tão escravo quanto eles. Como se produziu essa mudança? Ignoro. O que pode torná-la legítima? Acredito poder resolver essa questão”. Tentando honrar a sua promessa, Rousseau atribuiu a “queda” da humanidade ao desenvolvimento das sociedades (da civilização) amparado em relações de propriedade privada profundamente desiguais e aviltantes.
Porém, no tocante ao que “produziu essa mudança”, ou seja, os prováveis eventos ocorridos no passado que teriam ceifado irrecuperavelmente uma suposta liberdade humana, Rousseau parece ter sido bastante honesto em relação à ignorância que permeava, à sua época, esse tipo de abordagem sobre como e a partir de quando o animal humano ficou condicionado a um modo de viver antropocêntrico, hierarquizado, escravizante e, portanto, tão irremediavelmente conflitante.
Este foi o mesmo dilema que, bem antes de Rousseau, já havia ocupado o pensamento do jovem filósofo francês Étienne de La Boétie (1530-1563), que, ainda em tenra idade, elaborou o magistral texto-denúncia contra a tirania dos homens, o famoso Discurso da servidão voluntária (escrito entre 1552 e 1553). O que parecia inquietar La Boétie era ver os seres humanos não se reconhecerem como iguais e se acomodarem à vida sob as opressões e a miséria da tirania. “Uma coisa é claríssima na natureza”, dizia ele, “tão clara que a ninguém é permitido ser cego a tal respeito, e é o fato de a natureza, ministra de Deus e governanta dos homens, nos ter feito todos iguais, com igual forma, aparentemente num mesmo molde, de forma a que todos nos reconhecêssemos como companheiros ou mesmo irmãos”.
Sem compreender o que exatamente teria desencadeado essa contraditória relação de submissão e adoração entre os homens, La Boétie questionava: “a que azar, pois, se deverá que o homem, livre por natureza, tenha perdido a memória da sua condição e o desejo de a ela regressar? (…) temos de procurar saber como esse desejo teimoso de servir se foi enraizando a ponto de o amor à liberdade parecer coisa pouco natural”. Esta talvez seja a pergunta essencial, que, se algum dia for respondida e compreendida por aqueles que ditam os descaminhos da civilização – especialmente os “sacerdotes, generais e mercadores” –, poderá nos fornecer uma saída para lidar melhor com as pulsões de morte por trás de um comportamento humano, historicamente, tão conflitante e autodestrutivo.
Porém, talvez tenha sido o pai da psicanálise, Sigmund Freud (1856-1939), o responsável por consagrar definitivamente esse juízo tão negativo acerca da condição humana, ao chegar a conclusões como a de que “em todos os homens há tendências destrutivas, ou seja, antissociais e anticulturais, e que num grande número de pessoas elas são fortes o bastante para determinar seu comportamento na sociedade humana”. Para atestar esse triste veredicto, Freud vivenciou um dos momentos, talvez, mais tenebrosos da história: o sombrio período da corrida armamentista e as crises nos Bálcãs, nos estertores da Belle Époque (1871-1914), seguida da matança nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), que redundaram nas ondas nazifascistas alemã e italiana e no ímpeto imperialista japonês, deflagradores dos flagelos e genocídios da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), que ceifou entre 70 e 85 milhões de vidas humanas, o equivalente entre 3,0 a 3,7% da população mundial em 1939. Freud avançou bastante em relação à compreensão dos “desejos impulsionais” que geraram o conflito humano, porém tinha a mesma dúvida dos seus predecessores quanto ao momento da “queda”. Dizia ele: “as proibições que as (as privações que geram as frustrações humanas) instituíram deram início ao afastamento da cultura em relação ao estado animal primitivo, não sabemos exatamente há quantos milhares de anos”.
O fato é que o ato de questionar as origens e as razões que levaram o Homo sapiens moderno a viver como vive, de forma tão autodestrutiva, tem sido muito recorrente, até os dias atuais.
Assim como seus pares renascentistas, no caso de La Boétie, ou iluministas, no caso de Rousseau a Freud, – que viveram momentos históricos quando ainda se desbravava as novas fronteiras do que conhecemos hoje por Revolução Científica –, realmente não se tinha à disposição o imenso aporte de formulações, teorias, modelos e descobertas que se tem atualmente, sobretudo nos campos da antropologia, arqueologia, etnografia, linguística, dentre outros ramos afins, para poder responder satisfatoriamente esta que parece ser a questão basilar da intratável e tortuosa convivência humana: Como explicar um modo de viver humano tão enraizado numa relação de dominação e de guerra? Ainda assim, não é incomum ver esse mesmo questionamento de La Boétie, Rousseau e Freud, sem uma resposta satisfatória, em renomados autores contemporâneos, quando eles se dedicam a compreender as regressões civilizatórias observadas no nosso tempo. No entanto, com os novos aportes da Ciência, a partir da segunda metade do século XX, já dá para captar alguns sinais de que há avanços consideráveis nessa questão.
Superando o reducionismo ideológico Hobbes versus Rousseau
A visão predominante acerca da natureza humana, que pode ser facilmente constatada no curso da História, é a do filósofo político inglês Thomas Hobbes (1588-1679), para quem, desde sempre, o animal humano veio ao mundo naturalmente propenso a uma vida “solitária, pobre, sórdida, embrutecida e curta”, o que o levou a cunhar o nefasto veredicto de que “o homem é o lobo do homem”, afirmação oriunda da expressão latina “Lupus est homo homini lupus”, criada pelo dramaturgo romano Plauto (254-184 a.C.). Na compreensão de Hobbes, não deveríamos estranhar que “a natureza tenha assim dissociado os homens, tornando-os capazes de atacar-se e destruir-se uns aos outros”, um ser destinado a autodestruição, condição que só poderia ser remediada por meio da manutenção forçada da ordem, a cargo do poder soberano do Estado (o Leviatã) e de suas leis.
As visões de Hobbes e de Rousseau foram tão impactantes para a humanidade que, muito tempo depois, após a sangrenta Revolução Francesa (1789-1799) – época em que os regimes absolutistas medievais revelaram-se, sob as rédeas do cristianismo, incapazes de dar conta de viabilizar a continuidade do intratável e tortuoso projeto civilizador do Ocidente –, o modo de fazer política ficou limitado, até os dias atuais, numa espécie de fla-flu entre Rousseau e Hobbes, o que influenciou consideravelmente os dois principais ideários políticos da modernidade, em que, à direita se posicionaram os lobos hobbesianos, e à esquerda os cordeiros rousseaunianos, com suas muitas variantes e gradações dentro desse espectro político, o que só contribuiu para continuar escamoteando o problema de fundo da humanidade, o seu condicionamento à cultura de dominação europeia.
Como já é de conhecimento de quem tem alguma leitura razoável em teoria política, Hobbes, por meio da sua obra Leviatã (1651), justificou a necessidade de um ente acima dos homens, detentor de um poder soberano absoluto, para dar conta do “Bellum omnium contra omnes”, a inarredável “guerra de todos contra todos”, que, na sua visão, é a condição constituinte do estado primordial da nossa espécie Homo sapiens. Para Hobbes, sempre fomos e sempre seremos primatas com instintos agressivos e destrutivos. Cem anos depois, Rousseau, por meio do seu famoso Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens (1754), contrapôs-se a Hobbes afirmando ter havido sim um momento de ruptura que “produziu essa mudança” – a passagem de um “estado de natureza” para um estado dito civilizado –, causado por circunstâncias que ele “ignorava”, e que teria sido legitimada por relações de propriedade profundamente assimétricas.
Os dois tinham boas razões para descrever a realidade humana tal como a descreveram. As três passagens a seguir são bem representativas, e sintetizadoras, tanto do pensamento quanto do referencial de vida no qual estavam imersos, fortemente influenciados pela teologia, diga-se de passagem, que os levaram a associar o processo de formação do Estado soberano, bem como as relações mercantilistas, vigentes em suas épocas, com o suposto “estado de natureza” dos humanos:
“Do mesmo modo que tantas outras coisas, a natureza (a arte mediante a qual Deus fez e governa o mundo) é imitada pela arte dos homens também nisto: que lhe é possível fazer um animal artificial. (…) E a arte vai mais longe ainda, imitando aquela criatura racional, a mais excelente obra da natureza, o Homem. Porque pela arte é criado aquele grande Leviatã a que se chama Estado, ou Cidade (em latim Civitas), que não é senão um homem artificial, embora de maior estatura e força do que o homem natural, para cuja proteção e defesa foi projetado” (Hobbes, em Leviatã).
“Tal foi ou deve ter sido a origem da sociedade e das leis, que deram novos entraves ao fraco e novas forças ao rico, destruíram sem remédio a liberdade natural, fixaram para sempre a lei da propriedade e da desigualdade, de uma astuta usurpação fizeram um direito irrevogável, e, para proveito de alguns ambiciosos, sujeitaram para o futuro todo o gênero humano ao trabalho, à servidão e à miséria. (…) Se seguirmos o progresso da desigualdade nessas diferentes revoluções, veremos que o estabelecimento da lei e do direito de propriedade foi seu primeiro termo, a instituição da magistratura o segundo, e que o terceiro e último foi a mudança do poder legítimo em poder arbitrário. De sorte que a condição de rico e de pobre foi autorizada pela primeira época, a de poderoso e de fraco pela segunda, e pela terceira a de senhor e de escravo, que é o último grau de desigualdade, o termo ao qual chegam finalmente todos os outros, até que novas revoluções dissolvem completamente o governo, ou o aproximam da instituição legítima” (Rousseau, em Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens).
“Se considerasse apenas a força e o efeito que dela deriva, eu diria: quando um povo é obrigado a obedecer e obedece, ele faz bem; assim que pode sacudir o jugo e o sacode, faz melhor ainda; pois, ao recobrar sua liberdade pelo mesmo direito com que ela lhe foi tomada, esse povo ou tem razão de retomá-la, ou não havia razão alguma de tirá-la. A ordem social é um direito sagrado que serve de base a todos os outros. No entanto, esse direito não vem da natureza, ele está fundado sobre convenções. Trata-se, pois, de saber quais são essas convenções” (Rousseau, em O Contrato Social).
O que Hobbes fez no Leviatã foi descrever, a seu modo, a nossa cultura europeia de dominação milenar e os mecanismos que viabilizaram sua manutenção por tanto tempo, isto é, os sofisticados controles subjetivos para conter a essência autodestrutiva dessa cultura de dominação e dissociação da Natureza. É interessante notar que a frequência de algumas palavras, como “Deus” (1.417 vezes), “poder” (957), “lei” (953), “Cristo/cristão” (648), “homem” (631), “Estado” (609), “obediência/obedecer” (336), “razão” (295) e “igreja” (268), que aparentemente são as mais utilizadas por Hobbes em pouco mais de 300 páginas do seu Leviatã, é bastante reveladora. Demonstra o quanto a sua visão de mundo estava em sintonia com a cosmovisão predominante em sua época, em que uma civilização só seria viável estando sob o controle divino do Estado e suas leis, ungidos por Deus e consagrados pela Razão. Inclusive, há quem diga que o incessante estado de guerra entre os homens, percebido por Hobbes, reflete sua dolorosa experiência com a guerra civil inglesa (1642-1649), que o forçou a exilar-se em Paris.
Enquanto em Rousseau o conflito interno que devora o animal humano é antinatural, em Hobbes seria natural, daí a necessidade imprescindível de que haja um controle, cada vez mais aprimorado, para conter a agressividade humana, e, desse modo, foi criado o Leviatã, que governa a condição predadora do animal humano até os dias atuais. O que é importante destacar é que tanto Rousseau quanto Hobbes interpretavam a realidade a partir do seu referencial de vida e dos instrumentos cognitivos a sua disposição, que invariavelmente se dava pelas lentes da teologia, da teleologia ou da combinação de ambas, o que não está tão distante do que ocorre com renomados pensadores na contemporaneidade.
O fato é que os impactos desse maniqueísmo político-ideológico para a já difícil e intratável convivência humana foram (e continuam sendo) desastrosos. Só no trágico século XX, a disputa entre o projeto civilizatório dos capitalistas/liberais (mais à direita) e o dos socialistas/comunistas (mais à esquerda), estima-se que rendeu a dizimação de pelo menos 187 milhões de vidas (Brzezinski, 1993), o equivalente a algo em torno de 12% da população mundial em 1900. Neste início de século XXI, a inarredável vida hobbesiana, agora turbinada pela vigilância algorítmica das Big Techs, parece próxima do seu ápice de brutalidade e destruição. Portanto, está mais do que na hora de superarmos essa visão dicotômica altamente reducionista na condução da política e das relações entre os países, uma visão que nos impede de perceber como estamos inviabilizando perigosamente a construção de uma perspectiva de convivência global democrática e plural. E o que é mais emblemático, estamos comprometendo a manutenção da complexidade da teia da vida que nos sustentou por milhões e milhões de anos, hoje gravemente afetada.
Uma tentativa de propor “uma nova história da humanidade”
Um dos esforços mais recentes em tentar investigar e compreender a natureza humana, sob o aspecto Cultural e de uma perspectiva histórica em escala mais alongada, retornando alguns milênios atrás, e apropriando-se dos novos aportes das ciências ligadas ao estudo das culturas humanas, conquistados a partir do século XX, está condensado no trabalho de 10 anos de pesquisa do ativista anarquista e antropólogo estadunidense David Graeber (foi coorganizador do movimento Occupy Wall Street, tendo falecido precocemente em 2020), em parceria com o arqueólogo e antropólogo inglês David Wengrow, que redundou no livro O Despertar de Tudo: uma nova história da humanidade (Companhia das Letras, 2022). Trata-se de uma obra muito extensa (700 páginas) em que os autores colocam em dúvida todas as teorias que emergiram no século XVII sobre as origens das instituições que forjaram a civilização, tais como agricultura, propriedade, democracia, escravidão etc., destacando notadamente as “implicações políticas sinistras” exercida por Hobbes e Rousseau na política moderna.
Ao que parece, o trabalho de Graeber e Wengrow não se propõe a ser conclusivo, embora seja muito abrangente e rigoroso, traçando uma nova perspectiva para a história da humanidade, a partir de um grande volume de achados antropológicos e arqueológicos. No entanto, causa certa estranheza o fato de os autores prescindirem da interferência das religiões (as monoteístas, especialmente) no longo processo civilizador do Ocidente, como tão bem fizera o pai da psicanálise, Sigmund Freud, que dedicou uma de suas principais obras, O futuro de uma ilusão (1927), exclusivamente para ressaltar “aquela que talvez seja a parcela mais significativa do inventário psíquico de uma cultura”, as “ideias religiosas”, que o levou a uma de suas mais notórias conclusões sobre os impulsos conflitantes dos humanos: “a religião seria”, segundo Freud, “a neurose obsessiva universal da humanidade”.
Uma das premissas do trabalho de Graeber e Wengrow é a de que “toda a história – nossa metanarrativa histórica convencional sobre o progresso ambivalente da civilização humana, em que se perderam as liberdades à medida que as sociedades se tornam maiores e mais complexas – foi em ampla medida inventada a fim de neutralizar a ameaça da crítica indígena”. Os autores se referem especificamente ao “ataque moral e intelectual sistemático à sociedade europeia” feito pelo chefe ameríndio huroriano Kondiaronk (chefe estrategista do povo nativo americano Wendat), registrados em livros publicados pelo seu amigo de campanhas e expedições exploratórias, o escritor francês barão Louis-Armand de Lom d’Arce, conhecido por Lahontan. “Para os públicos europeus, a crítica indígena foi como um choque no sistema”, dizem Graeber e Wengrow, o que teria ameaçado o status quo das estruturas da sociedade europeia, desencadeando “todo um corpo teórico destinado especificamente a refutá-las”.
Do começo ao fim de sua obra, Graeber e Wengrow ficam presos à pergunta sobre as origens da perda das liberdades humanas (eles apontam três tipos: “de ir embora ou se estabelecer noutro lugar”, “de ignorar ou desobedecer ordens” e “de moldar realidades sociais novas”), para a qual eles não vislumbram uma resposta convincente, o que parece inquietar a ambos. Logo na introdução há o questionamento se “sempre fomos assim ou, em algum momento, algo deu muito errado?”, que perpassa toda a pesquisa. Já quase no final, eles continuam com suas indagações: “Como isso ocorreu? Como acabamos aprisionados? E exatamente até que ponto estamos de fato presos?”
Destaquei estas três perguntas por duas razões. Primeiro porque penso que o grande mérito da obra de Graeber e Wengrow está em formulá-las, pois o grande impasse da humanidade resume-se a essas três questões, sobre as quais normalmente se adota uma postura negligenciadora e conformadora, e segundo porque são elas que nortearão, doravante, este breve artigo. Abordarei também dois aspectos basilares que Graeber e Wengrow trataram apenas tangencialmente em suas longas pesquisas: o primeiro foi o impacto cultural das sucessivas ondas invasoras kurgan (pág. 238), ocorridas na Antiga Europa, no longuíssimo período que se estendeu de 4300 a 2800 a.C., e o segundo está relacionado à característica mais relevante de uma Cultura que é a sua imensa capacidade de autoconservação. Esses dois fatores, provavelmente, foram determinantes para moldar toda o conflituoso processo civilizatório do Ocidente, conforme abordaremos em um próximo texto.
Leia mais
- A perigosa agonia do mundo patriarcal. Artigo de Antônio Sales Rios Neto
- O mundo entre o apocalipse e o resgate do humano. Artigo de Antônio Sales Rios Neto
- Poderá a técnica salvar o patriarcado? Artigo de Antônio Sales Rios Neto
- Capitalismo de vigilância e o novo ser-patriarcal. Artigo de Antônio Sales Rios Neto
- Como o patriarcado engole a democracia. Artigo de Antônio Sales Rios Neto
- A democracia e a nossa grande bifurcação cultural. Artigo de Antônio Sales Rios Neto
- A crise planetária e o resgate da democracia. Artigo de Antônio Sales Rios Neto
- O avanço chinês, num mundo à beira da conflagração. O controverso despertar do Império do Meio. Artigo de Antônio Sales Rios Neto
- A agonia de uma civilização forjada no patriarcado. Artigo de Antônio Sales Rios Neto
- Capitalismo de vigilância. Artigo de Antônio Sales Rios Neto






