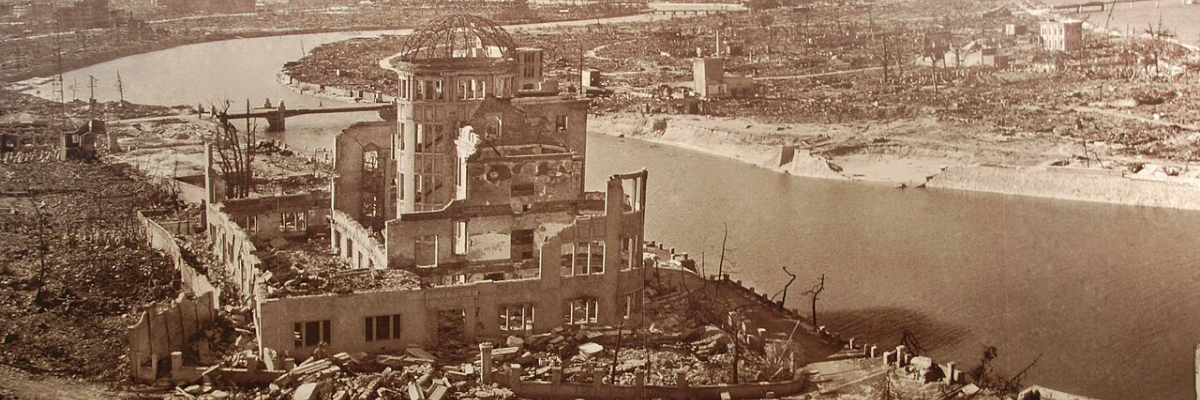26 Abril 2025
Um papa tão simples e afetuoso, um líder tão coerente e decente, um ser humano tão capaz de bom senso foi uma revolução radical nos tempos em que vivemos. Isso evidencia o vazio e o deserto de insensatez, incoerência, indecência e negacionismo presentes na realidade contemporânea. Que outra pessoa de visibilidade internacional hoje está à altura do legado humano e cristão de Francisco?
O comentário é de Moisés Sbardelotto, professor da PUC Minas.
Eis o texto.
Em seu testamento, o Papa Francisco desejou que seu túmulo esteja “na terra; simples, sem decoração particular e com a única inscrição: Franciscus”.
Na verdade, foram 12 anos de um papado sempre com os pés na terra, simples, sem decorações particulares. Mas com um diferencial histórico: justamente o nome papal assumido, com sua profunda simbologia na história da Igreja e seu significado exigente. Mas o primeiro pontífice latino-americano e jesuíta de todos os tempos esteve à altura desse desafio, seguindo os passos de São Francisco de Assis, que “semeou paz por toda a parte e andou junto dos pobres, abandonados, doentes, descartados, dos últimos” (Fratelli tutti, n. 2).
Se os jesuítas são popularmente conhecidos por articularem seu pensamento sempre em três pontos, Francisco não fugiu à regra. Ficaram famosos os seus três T's (terra, teto e trabalho) como “direitos sagrados” defendidos nos encontros com os movimentos populares do mundo inteiro. Ou ainda os três I's indicados aos jesuítas redatores da La Civiltà Cattolica (incompletude, inquietação e imaginação) que sintetizam a “visão original, vital, dinâmica, não óbvia” que o papa desejava aos escritores e jornalistas da revista.
Aqui, como memória, homenagem e tentativa de síntese – sempre incompleta, insuficiente e talvez até injusta – do legado do papado de Francisco, proponho outras três letras: três Ps.
Povo
Desde sua primeira aparição pública – ao pedir que as pessoas reunidas na Praça São Pedro rezassem por ele antes de conceder sua primeira bênção pontifícia – Francisco foi um papa estreitamente próximo das pessoas. Em seu pontificado, foi sempre um papa do povo e com o povo.
Sorria, abraçava, beijava as pessoas como nenhum outro pontífice antes. Esse contato tão carinhoso e frequente se devia a “razões psiquiátricas”, como o próprio papa costumava brincar, ao explicar sua decisão de ir morar na Casa Santa Marta, onde podia conviver normalmente com outros hóspedes. Como pastor, sabia que devia “pôr-se à escuta do povo, para descobrir aquilo que os fiéis precisam de ouvir” (Evangelii gaudium, n. 154).
Não foi um “papa pop”, em que predominasse o espetáculo e a teatralidade. Foi, sim, um papa profundamente popular, de gestos espontâneos e falas improvisadas, de olhares atentos e silêncios carregados de sentido, a fim de se fazer próximo de cada pessoas e de “todos, todos, todos”. Por isso, convidava a sonhar “como uma única humanidade, como caminhantes da mesma carne humana, como filhos desta mesma terra que nos alberga a todos, cada qual com a riqueza da sua fé ou das suas convicções, cada qual com a própria voz, mas todos irmãos” (FT 8). Manifestava um “prazer espiritual de ser povo” (EG 268), tendo sempre o “cheiro das ovelhas” (EG 24).
De tão “normal” como ser humano, Francisco era considerado anormal para os padrões eclesiásticos. De tão “comum” como religioso, era considerado incomum para os padrões vaticanos. Exaltava a “classe média da santidade”, os “santos ao pé da porta”, os “santos da porta ao lado”, os “sinais de santidade que o Senhor nos apresenta através dos membros mais humildes deste povo” (GE 8), a santidade dos pequenos gestos, do cotidiano vivido com ternura, muitas vezes às margens da visibilidade social.
Foi muito distante de certas tradições clericais e estratégias populistas que fragmentam e manipulam o mundo religioso e político. Contrariou o desejo de alguns membros da Igreja de voltar a um passado eclesiástico glorioso e desconstruiu a ambição de fabricar uma suposta neocristandade. Pelo contrário, quis uma comunidade de irmãs e irmãos que caminhassem juntos – em sinodalidade – a fim de ajudar a humanidade a escrever o futuro em tempos incertos. “É maravilhoso ser povo fiel de Deus” (EG 274).
Mais do que uma instituição hierárquica e muito menos do que um grupo de elite, a Igreja “é, antes de tudo, um povo que peregrina para Deus” (EG 111). Em sua encarnação, Deus mesmo quis entrar numa dinâmica popular: “Ninguém se salva sozinho, como indivíduo isolado, mas Deus atrai-nos tendo em conta a complexa rede de relações interpessoais que se estabelecem na comunidade humana” (Gaudete et exsultate, n. 6). Para Francisco, o povo de Deus tem muitos rostos e se encarna em muitas culturas. À luz da encarnação de Deus, denunciava a injustiça de pensar em um “cristianismo monocultural e monocórdio” (EG 117).
Teologicamente, sua ênfase no “santo povo fiel de Deus” reitera essa centralidade da experiência popular no próprio desígnio divino. Para Francisco, o Espírito atua em todos os membros desse povo, “desde o primeiro ao último”, e, por isso, é “infalível ‘in credendo’, ou seja, ao crer, não pode enganar-se, ainda que não encontre palavras para explicar a sua fé” (EG 119).
Dessa forma, Francisco remodelou – talvez sem volta atrás – a práxis da autoridade papal: não superiora e intocável, mas servidora e próxima. Uma autoridade “que é sempre um serviço ao povo” (EG 104).
Os diversos encontros com os movimentos populares são um testemunho disso. Pela primeira vez na história um papa convocou ao Vaticano “papeleiros, recicladores, vendedores ambulantes, costureiros, artesãos, pescadores, camponeses, pedreiros, mineiros, operários de empresas recuperadas, membros de cooperativas de todos os tipos e pessoas com as profissões mais comuns”, nomeados por ele no primeiro desses encontros em 2014. Mais do que isso, na presença deles, também afirmou: “Hoje desejo unir a minha voz à de vocês e acompanhá-los na luta”.
Pobres
Francisco também foi o papa de uma “Igreja pobre para os pobres” (EG 198). Nisso, ele seguia os passos do carpinteiro de Nazaré e de seu santo homônimo, o Pobrezinho de Assis. Despojou-se das insígnias de poder papal e promoveu inúmeras e significativas reformas da Igreja, para que ela abandonasse toda tentação de prepotência e se tornasse “instrumento de Deus ao serviço da libertação e promoção dos pobres” (EG 187).
O então cardeal Bergoglio, recém-eleito, ainda na Capela Sistina, assumiu seu nome pontifício justamente para “não se esquecer dos pobres”, como lhe sugeriu o falecido cardeal brasileiro Dom Cláudio Hummes. E encerra seu pontificado, antes do sepultamento, recebendo suas últimas homenagens justamente de um grupo de pessoas pobres e necessitadas nas escadas da Basílica de Santa Maria Maior.
A partir do exemplo de Francisco de Assis, Francisco de Roma quis uma Igreja despojada, itinerante, peregrina, livre dos excessos do clericalismo. Entendeu a pobreza não apenas como uma condição material, mas também como uma disposição interior: uma Igreja que acolhe, escuta, não julga, faz-se frágil com os frágeis.
Ao instituir no calendário da Igreja um Dia Mundial dos Pobres, celebrado desde 2017, convidou a vê-los como a própria “carne sofrida de Cristo”. “Se realmente queremos encontrar Cristo, é preciso que toquemos o seu corpo no corpo chagado dos pobres, como resposta à comunhão sacramental recebida na Eucaristia”, afirmou em sua primeira mensagem para essa data.
Sua crítica à “mundanidade espiritual” revelou que a verdadeira pobreza eclesial está na liberdade diante do poder, da glória humana e do bem-estar pessoal (cf. EG 93). É uma Igreja chamada não ao brilho das cortes, mas ao serviço das dores do mundo, vencendo as tentações do “cuidado exibicionista da liturgia, da doutrina e do prestígio da Igreja”, das “dinâmicas de autoestima e de realização autorreferencial”, do “funcionalismo empresarial” (EG 95).
Enfrentar o poder da Cúria Romana, com suas estruturas historicamente arraigadas e intimamente ligadas aos poderes políticos e financeiros, não é nada fácil. Mas Francisco o fez, identificando e denunciando elementos antievangélicos – elencados corajosamente em seu célebre discurso sobre as “15 doenças da Cúria” – onde os burocratas eclesiásticos percebiam apenas imutáveis “tradições” religiosas ou culturais.
A radicalidade de Francisco se mede pela coragem de voltar aos Evangelhos em sua nudez e despojamento total e de convocar a Igreja a fazer o mesmo, “para ficarmos cada vez mais convictos de que partilhar com os pobres permite-nos compreender o Evangelho na sua verdade mais profunda”, como também afirmou na mensagem ao primeiro Dia Mundial dos Pobres.
Com a “consciência de uma origem comum, de uma recíproca pertença e de um futuro partilhado por todos” (FT 202), Francisco afirmou que “entre os pobres mais abandonados e maltratados, conta-se a nossa terra oprimida e devastada” (n. 2). E denunciou as “dramáticas consequências da degradação ambiental na vida dos mais pobres do mundo” (LS 13) e “a relação íntima entre os pobres e a fragilidade do planeta” (LS 16). Defendendo uma ecologia integral, afirmou de forma histórica: “Hoje, não podemos deixar de reconhecer que uma verdadeira abordagem ecológica sempre se torna uma abordagem social, que deve integrar a justiça nos debates sobre o meio ambiente, para ouvir tanto o clamor da terra como o clamor dos pobres” (LS 49).
Periferias
Francisco também foi um papa das periferias. Nascido, crescido e formado em uma periferia eclesial como a Igreja argentina e latino-americana, “quase no fim do mundo”, mostrou com sua vida e prática que aquilo que é central é mais bem percebido e vivido a partir das margens. Como dissera aos jesuítas da revista La Civiltà Cattolica, “não caiam na tentação de domesticar as fronteiras: é preciso partir rumo às fronteiras, e não trazer as fronteiras para casa, para envernizá-las um pouco e domesticá-las”.
A “Igreja em saída” desejada por ele é aquela justamente capaz de “sair da própria comodidade e ter a coragem de alcançar todas as periferias que precisam da luz do Evangelho” (EG 20). Para ser profética, a Igreja precisa sair das Jerusaléns contemporâneas, habitadas pelos poderes centrais deste mundo, e voltar para a periférica Galileia, onde o próprio Ressuscitado deseja ser encontrado (cf. Mt 28,1-10).
Ele abriu seu pontificado com uma viagem à periferia do Mediterrâneo, a ilha de Lampedusa, Itália, marcada por inúmeros imigrantes mortos afogados, em “barcos que em vez de ser uma rota de esperança, foram uma rota de morte”, como disse na ocasião. E sua última viagem, em dezembro de 2024, foi a outra periferia europeia, Ajaccio, na Córsega, França, para um congresso sobre religiosidade popular, onde afirmou: “No centro não estou eu, mas Deus, o Senhor. E digo isto porque há um perigo no mundanismo, um perigo que é a vaidade. Ser ‘pavão’. Olhar muito para si próprio. A vaidade! E a vaidade é um vício feio e com mau cheiro”.
No pensamento de Francisco, a “descentralização” é sempre salutar (cf. EG 16): o papa não deve ser central na vida da Igreja, assim como o “eu” não deve ser central na vida humana. Segundo ele, é por meio do encontro com o amor de Deus (este, sim, central) que “somos resgatados da nossa consciência isolada e da autorreferencialidade” (EG 8).
Por isso, Francisco “descentralizou” principalmente a burocracia vaticana, como os próprios cardeais já haviam solicitado nos debates pré-conclave em 2013. A reforma da Cúria Romana foi uma das iniciativas centrais de seu pontificado, concretizada sobretudo com a promulgação da constituição apostólica Prædicate Evangelium, em 2022, que coloca as próprias instâncias curiais em “conversão missionária”. Inverte-se a lógica piramidal, com a abertura para que leigos e leigas possam presidir dicastérios e com o fortalecimento do papel do Sínodo como expressão de uma Igreja mais participativa.
Em tudo isso, Francisco também tirou da “periferia eclesial” o próprio Concílio Vaticano II, reafirmando com insistência sua centralidade como bússola e horizonte da Igreja no tempo presente. O Concílio foi a base teológica e pastoral de sua visão eclesial, especialmente em temas como a escuta e o diálogo com o mundo contemporâneo e a prioridade da misericórdia sobre o rigorismo doutrinário. A sinodalidade, que emerge como um dos pilares de seu pontificado, é um desdobramento prático e teológico da eclesiologia conciliar. “O Concílio Vaticano II apresentou a conversão eclesial como a abertura a uma reforma permanente de si mesma por fidelidade a Jesus Cristo” (EG 26), e o magistério de Francisco, por sua vez, “atualizou a atualização” do evento conciliar.
Com seus gestos e palavras, Francisco “des-norteou” a Igreja e a sociedade em um sentido bastante literal: apontando para as periferias do mundo. Voltou-se para os povos do Sul menosprezado, na Igreja e na sociedade, tirando da agenda eclesial a centralidade do Norte. E, ao mesmo tempo, chamou a atenção do mundo para a vida viva e vivida no Oriente ignorado pelo Ocidente autorreferencial. E, assim, “re-orientou” a Igreja.
Ineditamente na história das viagens papais, Francisco visitou países periféricos no mapa-múndi político, como Mianmar (2017), Bangladesh (2017), Emirados Árabes Unidos (2019), Ilhas Maurício (2019), Iraque (2021), Bahrein (2022). E foi em outra periferia geográfica como as Filipinas (2015) que o papa bateu um recorde histórico de público em um evento papal, reunindo mais de seis milhões de pessoas.
Outro sinal disso foram os cardeais nomeados em seu pontificado. Poucos europeus, quase nenhuma “sede cardinalícia” histórica. Muitos prelados do Sul do mundo, especialmente asiáticos, latino-americanos e africanos. Francisco criou cardeais em mais de 20 países que nunca tinham recebido uma púrpura em toda a história, deslocando o eixo da Igreja, apontando para novos horizontes, especialmente o Sul marginalizado e o Oriente esquecido.
Parafraseando o artista uruguaio Joaquín Torres Garcia, com o Papa Francisco, passo após passo, o “Norte” da Igreja passou a ser o Sul do mundo. Um papa que, quase do fim do mundo, fez a Igreja se lembrar de onde veio – e, assim, apontou a direção para onde deve ir. “Não podemos pretender que todos os povos dos vários continentes, ao exprimir a fé cristã, imitem as modalidades adotadas pelos povos europeus num determinado momento da história, porque a fé não pode ser confinada dentro dos limites de compreensão e expressão de uma cultura” (EG 118).
Francisco esforçou-se também por ir ao encontro das “periferias religiosas”. Em 2016, fez uma visita silenciosa ao campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, na Polônia. Além de rezar e encontrar-se com sobreviventes do Holocausto, realimentou a amizade judaico-cristã cultivada por seus antecessores. Em outra viagem papal inédita no mesmo ano, foi à Suécia, para a comemoração dos 500 anos da Reforma, promovendo uma aproximação inédita entre católicos e luteranos. Outro momento emblemático de diálogo inter-religioso foi a assinatura do Documento sobre a Fraternidade Humana, em Abu Dhabi, em 2019, ao lado do Grão-Imã de Al-Azhar, Ahmed el-Tayeb.
Foram inúmeras as periferias existenciais, sociais e eclesiais das quais o papa reconheceu a dignidade, escutou as dores, dialogou com coragem e humildade, como migrantes, refugiados, vítimas de abuso, crianças, idosos, pessoas homo/transexuais, presos, povos originários e indígenas. A realização do Sínodo para a Amazônia, em 2019, foi uma demonstração clara da valorização do Papa Francisco à sabedoria ancestral dos povos originários da região, denunciando as violências socioambientais e culturais sofridas por eles. No Canadá, em 2022, realizou uma histórica viagem penitencial, durante a qual pediu perdão pelo papel da Igreja nas políticas coloniais de assimilação forçada, especialmente nos internatos católicos que causaram traumas profundos entre os povos indígenas.
Francisco também fez gestos importantes em relação ao laicato e às mulheres nos processos decisórios da Igreja. O jornalista Paolo Ruffini foi o primeiro leigo a se tornar prefeito de um dicastério da Cúria Romana, o da Comunicação, em 2018. Reafirmando seu compromisso com uma Igreja sinodal, Francisco propôs também que as assembleias gerais do último Sínodo (em 2023 e 2024) não fossem apenas “dos Bispos”, mas sim “da Igreja”, no qual todos os delegados e delegadas – clero, vida religiosa e laicato – pudessem ser envolvidos no discernimento coletivo e também ter direito a voto. Pela primeira vez na história, as mulheres puderam votar em um Sínodo, em um total de 54 dos 365 membros votantes.
De modo particular, o número de mulheres que trabalham na Santa Sé e na administração do Estado da Cidade do Vaticano teve um salto de 846 para 1.165 nos primeiros 10 anos de seu pontificado. Nos altos escalões, Barbara Jatta é a diretora dos Museus do Vaticano desde 2016. Em 2025, outras duas mulheres se destacaram: a Ir. Simona Brambilla tornou-se a primeira prefeita da Cúria, assumindo o Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica, e a Ir. Raffaella Petrini tornou-se presidente do Governatorato para o Estado da Cidade do Vaticano.
Francisco enfrentou resistências profundas, mais no nível central da própria Igreja do que nas “periferias socioculturais”, o que evidencia as dificuldades de uma reforma que desafia estruturas consolidadas. Questões doutrinais e morais controversas intensificaram essas tensões, como a exortação Amoris lætitia, que abriu espaço para o discernimento pastoral de casais em segunda união; o acolhimento mais explícito de pessoas LGBTQIA+ e a declaração Fiducia supplicans, que autorizou a bênção de casais em situações irregulares; e a carta apostólica Traditionis custodes, que restringiu o uso da liturgia pré-conciliar, provocando reações entre grupos tradicionalistas. Em uma Igreja globalizada e plural, Francisco se moveu em um campo tenso e fortemente polarizado entre o impulso por renovação e as nostalgias do passado.
* * *
Francisco pode não ter sido um papa “radicalmente revolucionário”, mas foi, sim, profundamente reformador. Apesar de todos os limites de uma instituição bimilenar, reformou a Igreja, buscando reconstruí-la à luz dos Evangelhos, pondo-a em movimento com uma intensidade raramente vista e fazendo-a avançar 100 anos em pouco mais de 10. Mas ainda faltam outros 100 anos para que a Igreja recupere os 200 anos de atraso denunciados pelo falecido cardeal italiano – e também jesuíta – Carlo Maria Martini.
Resta muito a avançar, sem dúvida, mas o primeiro papa latino-americano da história abriu caminhos e iniciou processos – muitos impensáveis e até então impossíveis – e colocou a Igreja em movimento de saída de si mesma e de encontro com a contemporaneidade. Um papa tão simples e afetuoso, um líder tão coerente e decente, um ser humano tão capaz de bom senso foi, paradoxalmente, uma revolução radical nos tempos em que vivemos. Isso evidencia o vazio e o deserto de insensatez, incoerência, indecência e negacionismo presentes na realidade contemporânea. Que outra pessoa de visibilidade internacional hoje está à altura do legado humano e cristão de Francisco?
Depois de 2.025 anos de história, em pleno Ano Jubilar, Francisco deixa como herança uma Igreja peregrina de esperança e na esperança, em um tempo histórico que alimenta tantas desesperanças. Uma Igreja que age “misericordiando”, sendo “um hospital de campanha depois de uma batalha”, como disse ele ao ser entrevistado pelo Pe. Spadaro.
Uma Igreja – como ele afirmou ao convocar o Jubileu Extraordinário de 2015 – que “tem a missão de anunciar a misericórdia de Deus, coração pulsante do Evangelho”. E continuou: “Que ela nunca se canse de oferecer misericórdia e seja sempre paciente a confortar e perdoar”. É a nossa esperança e a nossa oração em vista do futuro da Igreja pós-Francisco.
Leia mais
- O Papa Francisco e a Teologia do Povo. Entrevista especial com Juan Carlos Scannone
- O legado do Papa Francisco: sair da lógica do sagrado em direção ao do santo. Artigo de Jung Mo Sung
- “A corte é a lepra do papado”, afirma Francisco
- Francisco: “O meu grito ao G20: Não a alianças contra os migrantes”
- Um tempo de grande incerteza. Entrevista com o papa Francisco
- ''É uma honra ser chamado de revolucionário''. Entrevista com o Papa Francisco
- "Trump? Não o julgo. Interessa-me apenas se ele vai fazer os pobres sofrerem." Entrevista com o Papa Francisco
- ''Como Jesus, vou usar o bastão contra os padres pedófilos.'' Entrevista com o Papa Francisco
- Um Papa inesquecível. Artigo de Jesús Martínez Gordo
- Arte como luz. Adeus ao Papa Francisco. Artigo de Nicoletta Biglietti
- A lição do Papa Francisco sobre Gaza: um exemplo de liderança moral em tempos amorais
- "Bergoglio, 'Oh, a noite mais adorável que a madrugada'". Artigo de José Ignacio González Faus
- “Papa Francisco, um pontificado em nome de Inácio”. Artigo de Antonio Spadaro
- Igreja de São Francisco? Avaliando um papado e seu legado. Artigo de Massimo Faggioli
- O Papa Francisco não é um nome mas um projeto de Igreja. Artigo de Leonardo Boff
- Papa Francisco: Há cheiro de saudade na tenda que abriste. Artigo de Mauro Nascimento
- 'Sede vacante' no Vaticano: duas semanas de velório, funeral e sepultamento para o Papa até o conclave
- A sucessão do Papa mergulha a Igreja na incerteza diante da onda ultraconservadora. Artigo de Jesús Bastante
- São divulgadas as primeiras imagens do Papa Francisco no caixão
- Breves considerações sobre o Papa Francisco, por Tales Ab’Saber
- Papa Francisco assumiu a causa indígena, afirma Cimi
- Perdemos um Papa dos pobres, dos trabalhadores, dos migrantes e dos Sem Terra, destaca o MST
- Frei Betto aposta em um sucessor italiano que ‘dê continuidade à linha progressista de Francisco’
- Papa Francisco: sofrimento oferecido ao Senhor pela paz mundial e fraternidade dos povos
- Papa Francisco. Artigo de Francisco de Roux
- Francisco vai estar sempre aqui. Artigo de Elias Wolff
- Adeus Francisco, protetor da esperança para os últimos do mundo. Artigo de Marco Damilano
- Francisco, o profeta da teopatia. Artigo de Vito Mancuso
- Crentes e não crentes, a possível comparação baseada no respeito. Artigo de Corrado Augias
- O manifesto do Papa Francisco. O reformador que deu um coração à crise da modernidade
- O que são Congregações Gerais: o governo da Igreja durante a Sede Vacante. Artigo de Iacopo Scaramuzzi
- Mundo ecumênico lamenta falecimento do Papa Francisco
- Teólogo africano diz que o Papa Francisco foi um papa pós-colonial