Tecnofascismo. A reconfiguração planetária que emerge por meio do autoritarismo e das tecnologias de controle
Na era dos paradoxos na qual estamos imersos, reconfigura-se o sentido de termos e conceitos que até bem pouco tempo atrás eram mais estáveis. O neoliberalismo tornou-se, na melhor das hipóteses, um espantalho no qual é apresentado como destino de nossos tropeços políticos. Por outro lado, ele parece funcionar “melhor” como o ponto de partida que nos leva a um momento histórico, social e político bastante difuso. “A crítica à democracia liberal, por exemplo, que nasceu como exigência por mais democracia, tornou-se palavra de ordem de projetos autoritários que desejam eliminá-la. O mesmo vale para a crítica à globalização: o que poderia ser uma demanda por uma globalização democrática, como propunham os movimentos altermundialistas, foi progressivamente capturada por discursos nacionalistas e xenófobos contra o ‘globalismo’”, propõe o pesquisador Felipe Fortes, em entrevista por e-mail ao Instituto Humanitas Unisinos – IHU.
O tarifaço trumpista aparece neste contexto como antineoliberalismo. “Quem os interpreta como mera continuidade do ‘neoliberalismo’ me parece estar simplificando a questão. As tarifas não são apenas medidas econômicas: são armas de uma política comercial militarizada, ou seja, instrumentos de um uso estratégico e agressivo da soberania econômica como poder geopolítico que se renovou no contexto atual”, descreve. “A restauração de uma lógica de confronto direto nas relações internacionais, uma guerra econômica permanente, onde a força substitui a negociação institucional, e o poder militar e financeiro opera de forma unilateral. É aí que o MAGA encontra o revival trumpista do antigo slogan isolacionista ‘America First’. Hoje, essas duas fórmulas aparecem como rejeição do cosmopolitismo, da interdependência e das instituições democráticas”, acrescenta.
Como diz o ditado, o buraco é mais embaixo, pois as questões que surgem ultrapassam os EUA. “É na crise do Império, aqui compreendido como o colapso da globalização democrática, que triunfa o que poderíamos chamar, sem exagero, de um triunvirato autoritário: Trump, Putin e Xi Jinping, os novos duques, capos e mafiosos dessa reconfiguração planetária. Em torno deles gravitam figuras menores, mas não menos repulsivas, como Bolsonaro, King Jong-un, Netanyahu, Orbán, Khamenei, entre outros, ditadorzinhos, fascistas e pequenos autocratas de província que ora se ajoelham, ora se voltam contra seus patronos, jogando o jogo duplo das alianças cruzadas com os três chefões. Juntos, compõem o mosaico instável e oportunista da nova ordem antiglobal em marcha”, critica o entrevistado.
Como em um salto quântico, Porto Alegre saiu de uma cidade farol para um outro mundo possível e se tornou símbolo sintomático das encruzilhadas sociais, políticas e ambientais do nosso tempo. “Poderíamos falar hoje numa ‘Porto-Alegrização do mundo’. Não porque Porto Alegre tenha virado modelo, pelo contrário. A cidade que há duas décadas simbolizava a democracia global, como sede do Fórum Social Mundial e epicentro de uma globalização das lutas, hoje encarna o avesso disso: um laboratório do colapso climático, social e político”, ressalta. Esses e muitos outros aspectos amplamente debatidos nesta entrevista dão forma ao “’tecnofascismo’ [que] capta uma forma atualizada dessa transformação da ordem global e das ‘soberanias’, reprogramada em linguagem algorítmica e operando por dentro das infraestruturas digitais e dos monopólios das Big Tech”, complementa.
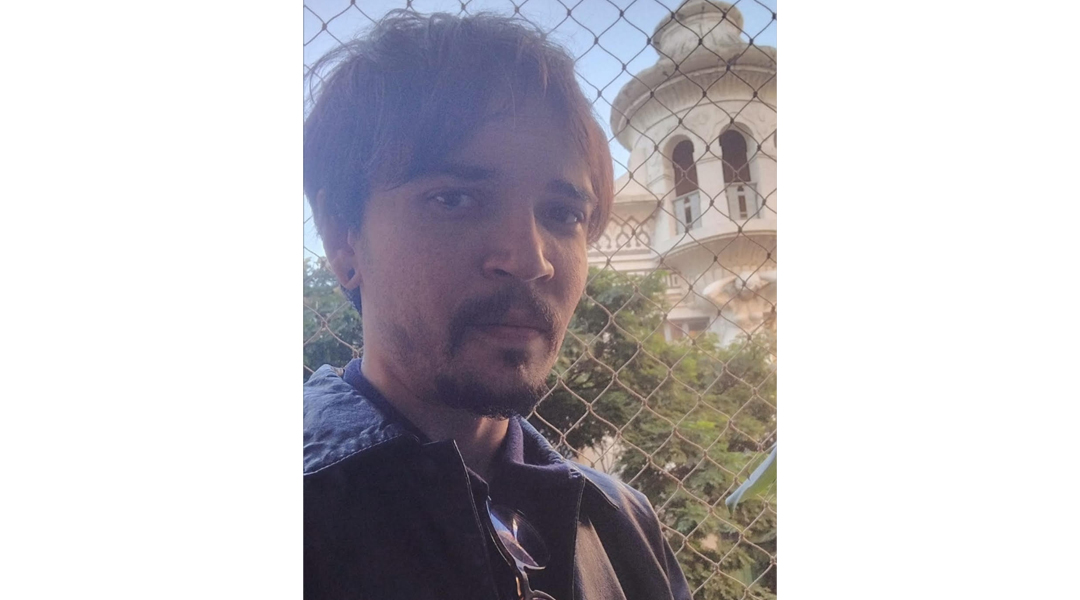
Felipe Fortes (Foto: arquivo pessoal)
Felipe Fortes é pós-doutorando pelo PPG de Comunicação e Cultura da UFRJ, bolsista da FAPERJ e doutor em Filosofia. É mestre em Filosofia pela PUCRS onde desenvolveu uma pesquisa como bolsista integral do CNPq sobre a problemática ontológica do empirismo transcendental na obra de Gilles Deleuze.
IHU – Como o neoliberalismo se tornou, ao menos retoricamente, uma espécie de chave mestra para explicar as contradições de nosso tempo? Até que ponto continua sendo uma categoria válida e a partir de que ponto ela não dá conta da complexidade do real?
Felipe Fortes – O neoliberalismo nomeou um conjunto específico de estratégias de governamentalidade, para usar o vocabulário foucaultiano, como a desregulação, a financeirização, a modulação da conduta individual e a transformação da composição técnica do trabalho sob a forma do empreendedorismo difuso. Essas estratégias foram decisivas na reestruturação do capitalismo pós-fordista, isto é, na reorganização global capitalista após as vitórias operárias contra a disciplina fabril nos anos 1960 e diante da emergência de novas subjetividades que deslocaram os conflitos para além da fábrica, para o território que os pós-operaístas chamaram de “fábrica social”. É isso, também, que explica por que tantas fábricas, desmanteladas em seu modelo disciplinar no Ocidente, foram transferidas para a China. A pergunta que se impõe agora é: por que estadistas como Trump passaram a defender o retorno dessas fábricas, não apenas aos Estados Unidos, mas ao espaço nacional como tal? É um sintoma, a meu ver, de um movimento mais amplo de reterritorialização produtiva e de reconsolidação autoritária do comando, que já não se inscreve nos marcos do neoliberalismo.
O êxito analítico e retórico do neoliberalismo, no entanto, decorre exatamente da força histórica das transformações que ele buscou encapsular e que, embora hoje estejam consolidadas, já apontam para além de seus próprios marcos. Por “consolidadas”, quero dizer que certos elementos do neoliberalismo seguem sendo ponto de partida necessário para a crítica, mas já não funcionam mais como ponto de chegada para compreender o que está por vir.
Há hoje um certo consenso, inclusive entre críticos com posições muito distintas, de que a ordem mundial estabelecida no pós-Segunda Guerra está em crise. O que tenho defendido é que as mutações que emergem dessa crise não aprofundam o neoliberalismo, mas desenham uma saída dele. Uma saída, no entanto, que não traz consigo qualquer promessa de emancipação democrática. Ao contrário: à medida que se consolida, o enigma atual tem intensificado as derivas nacionalistas e fomentado novas formas de autoritarismo em escala planetária.
Proponho, então, que estejamos mais atentos às dinâmicas novas que já estão em curso, mesmo que ainda embrionárias. É a partir dessas tendências mais recentes que podemos entender melhor a crise atual da ordem global. Que elementos ditos neoliberais permaneçam ativos, não significa que o cenário atual não aponte para outra coisa. A ascensão de superpotências alinhadas a regimes autoritários, o colapso da globalização e a crise generalizada da democracia indicam uma inflexão histórica. Aquilo que o termo “neoliberalismo” costumava nomear, como a hegemonia unilateral dos EUA, a abertura irrestrita dos mercados e a integração planetária, por exemplo, estão hoje profundamente em xeque.
Há ainda um segundo problema em manter o termo neoliberalismo como chave explicativa das transformações atuais. Salvo exceções, ele tem sido interpretado pela esquerda quase exclusivamente como signo de uma derrota irreversível. No fundo, isso equivale a repetir, à esquerda, a tese do fim da história de Fukuyama: o fim da crítica, das lutas, da classe trabalhadora, toda essa besteira. Poucas categorias mobilizaram tanto ressentimento e niilismo disfarçados de crítica radical, mais até do que a categoria de “capital”. E, ao mesmo tempo, poucas venderam tantos livros. Daí sua persistência paradoxal: tornou-se um ativo especulativo da crítica, uma commodity conceitual com mercado próprio, capaz de alimentar diferentes ideologias e preconceitos. No Brasil, esse cenário se agrava por uma defasagem estrutural e editorial: os textos clássicos sobre neoliberalismo chegam com atraso (quando chegam), são lidos fora de tempo, e moldam nossa recepção de forma anacrônica. Resultado: uma crítica deslocada, retrospectiva, calcificada.
A realidade, felizmente, era bem diferente: para cada dispositivo de controle neoliberal, os movimentos sociais produziram formas de subversão, e o neoliberalismo, nesse sentido, foi uma matriz de subjetividade profundamente ambígua, produzindo uma miríade de novas resistências. É preciso, portanto, atravessar essas ambiguidades se quisermos nos engajar com as mutações do presente. O termo “neoliberalismo” ainda pode ter seu lugar, mas exige cuidado: usado de forma genérica, torna-se desmaterializado, impreciso, errando o alvo. Isso é ainda mais evidente quando até “neoliberais” como Trump, com seu protecionismo delirante, já embarcaram em outras aventuras que nada têm a ver com o neoliberalismo propriamente dito. Nesse sentido, à crítica do neoliberalismo devemos sempre oferecer, com a outra mão, a crítica da crítica ao neoliberalismo; ao capitalismo; ao poder; para que nossa análise, ao buscar apontar as dificuldades e desafios, não acabe por, involuntariamente, coagular as alternativas do presente.
IHU – De que ordem é a nova “desordem” mundial?
Felipe Fortes – A palavra “desordem”, que usei no texto publicado tanto no site da Uninômade quanto no IHU, pode ser inadequada, sugerindo um intervalo provisório, uma suspensão da normalidade, como se estivéssemos desviando temporariamente de rota. Mas não devemos nos enganar. Mesmo personagens ativos no xadrez global, como Lula e Trump, têm declarado que uma nova ordem mundial está emergindo e que ela é irreversível, independentemente de como devemos avaliá-la.
Nesse sentido, o que estamos vivendo não é apenas uma desorganização do sistema, mas sim a consolidação – ainda instável, ainda provisória – de uma nova arquitetura planetária, cuja lógica permanece opaca, mas tateável. Mapear essa lógica, mesmo que de modo parcial e fragmentário, é fundamental para reinventarmos nossa crítica.
Mas o que, exatamente, essa “desordem” vem desfazendo? Três grandes eixos, na minha perspectiva, ajudam a compreender o que está em jogo: em primeiro lugar, a própria democracia, no sentido produtivo de novas instituições e produção de direitos; em segundo, a globalização, como estrutura planetária de interdependência produtiva, financeira e comunicacional; e, em terceiro, os movimentos sociais de inspiração alterglobalista ou altermundialista, que buscaram articular formas de resistência e criação política adequadas à escala transnacional.
Um dos efeitos mais nocivos da crise atual é a leitura binária e simplificadora de processos historicamente complexos. Categorias como democracia, globalização e luta têm sido criticadas por progressistas e conservadores, ainda que com sinais opostos, e, nesse processo, perdem suas tensões internas, sendo capturadas por esquemas ideológicos obsoletos. Essa falsa simetria paralisa a crítica, embaralha os sinais e dificulta a formulação de perspectivas radicalmente democráticas, enraizadas nas lutas em curso. Vetores emancipatórios e regressivos passam a aparecer sob os mesmos signos ou, pior, trocam de lugar. A crítica à democracia liberal, por exemplo, que nasceu como exigência por mais democracia, tornou-se palavra de ordem de projetos autoritários que desejam eliminá-la. O mesmo vale para a crítica à globalização: o que poderia ser uma demanda por uma globalização democrática, como propunham os movimentos altermundialistas, foi progressivamente capturada por discursos nacionalistas e xenófobos contra o “globalismo”. Um exemplo emblemático desse embaralhamento é como parte da esquerda internacional tratou a resistência ucraniana à invasão russa: em vez de reconhecê-la como uma luta concreta por autodeterminação democrática frente ao expansionismo de uma potência autoritária, preferiu encaixá-la em narrativas geopolíticas anacrônicas, nas quais a Ucrânia aparecia ora como marionete do Ocidente, ora como ameaça ao suposto equilíbrio multipolar.
Nesse espaço, figuras como Trump, Putin e Xi Jinping, embora diferentes em seus contextos, se consolidam como protagonistas de uma reorganização planetária onde democracia, globalização e movimentos sociais são tratados como obstáculos a serem eliminados. É desse terreno conflituoso, marcado por deslocamentos, inversões e ambiguidades, que devemos extrair novos critérios e discernimentos para uma crítica democrática contemporânea, capaz de distinguir a potência das lutas emergentes das formas regressivas que, hoje, ganham força e tração.
IHU – Em um texto seu publicado no site da Uninômade, você adverte que as características do contemporâneo apontam para o “antineoliberalismo”. Do que se trata essa perspectiva? Poderia explicar melhor?
Felipe Fortes – Bem, acho que um exemplo claro, na ordem do dia, são os tarifaços de Trump. Quem os interpreta como mera continuidade do neoliberalismo me parece estar simplificando a questão. As tarifas não são apenas medidas econômicas: são armas de uma política comercial militarizada, ou seja, instrumentos de um uso estratégico e agressivo da soberania econômica como poder geopolítico que se renovou no contexto atual. Pesquisadores como Nane Cantatore (que temos publicado na Uninômade) argumentam que isso representa uma renúncia dos EUA ao seu próprio mandato imperial.
Segundo Nane, o “Make America Great Again” não expressa um esforço, nem mesmo ideológico, de restaurar a América que venceu o nazismo, prosperou nos anos 1950 e consolidou sua hegemonia global. Esse período, muitas vezes lembrado como uma “golden age”, foi marcado por crescimento, estabilidade e ascensão da classe média industrial. Mas a nostalgia que move o bando trumpista mira outro passado, anterior ao Estado fiscal moderno: antes de 1913, quando foi criado o imposto federal sobre a renda, ou mesmo antes de 1894, com a tentativa do Wilson-Gorman Tariff Act que tentou instituir o primeiro imposto permanente sobre a renda para compensar a redução das tarifas alfandegárias. O ideal, nesse caso, é uma América em que o capital podia se acumular sem redistribuição, sem regulação, sem responsabilidade fiscal, uma América de monopólios, desigualdade extrema e dominação sem mediação. Nesse sentido, os tarifaços são apenas a superfície de uma mutação mais profunda: a restauração de uma lógica de confronto direto nas relações internacionais, uma guerra econômica permanente, onde a força substitui a negociação institucional, e o poder militar e financeiro opera de forma unilateral. É aí que o MAGA encontra o revival trumpista do antigo slogan isolacionista “America First”. Hoje, essas duas fórmulas aparecem como rejeição do cosmopolitismo, da interdependência e das instituições democráticas.
Dito isso, não podemos separar esses efeitos de suas causas. No início dos anos 2000, o livro Império, de Toni Negri e Michael Hardt, já buscava escapar das armadilhas que apontei na segunda resposta, propondo uma leitura potente, não de defesa nem de acusação, mas de como atravessar e navegar a soberania global pós-guerra fria e a Queda do Muro de Berlim. Essa soberania era concebida como um sistema descentralizado, com uma “constituição mista polibiana” composta por três pilares: o poder monárquico (centrado numa hegemonia pós-Estado-nação, mas sustentado pela força supranacional americana via dólar e, em menor medida, pelas instituições que formavam a união europeia), o aristocrático (corporativo-financeiro) e o democrático (a multidão como potência constituinte).
Havia uma aposta ali: a de que a globalização, impulsionada pelas lutas, poderia produzir um espaço democrático planetário, desterritorializando a democracia desde dentro, enfrentando a “monarquia” e a “aristocracia” imperiais com as forças imanentes da multidão. Para além da lógica schmittiana do amigo/inimigo, o Império era pensado não como um inimigo externo, mas como o campo onde a multidão poderia agir, criar instituições, formas de vida, linguagens, e constituir um novo “dentro”, obviamente, por meio da luta e de novas formas de produzir antagonismo. Essa formulação se inspira em Espinosa (como me lembrou meu amigo Émerson Pirola), para quem o imperium não existe para suprimir a liberdade dos indivíduos, mas para a organizar e a possibilitar coletivamente. O Império não é um “mal necessário” para conter a desordem (como em Hobbes), mas uma forma jurídica que expressa a racionalidade coletiva da potentia multitudinis quando ela consegue instituir normas compatíveis com sua própria potência.
De certa forma, tratava-se de uma leitura produtiva do neoliberalismo, que recusava tanto o lamento nostálgico por um passado fordista, industrial, keynesiano, quanto a ilusão de um “fora” redentor, a “Revolução” com R maiúsculo. Império levava à radicalidade a tese marxiana da subsunção real, defendendo um ponto de vista radical ancorado nas lutas e em suas capacidades constituintes.
Era, enfim, uma posição que poderíamos definir como aceleracionista, mas do contrapoder: não do capital, não do Império em si, mas da democracia, da inventividade social, da multidão. Esse aceleracionismo nos ensinava como viver e lutar por dentro do Império. O fato de hoje quase ninguém mais falar de Império – incluindo o próprio Hardt e boa parte da escola pós-operaísta – é sintoma não apenas da crise dessa forma de poder imperial que tinha espaço para os vetores democráticos, mas, mais grave ainda, da ausência de um projeto político capaz de revitalizar os três eixos centrais daquela proposta: democracia, globalização e multidão, sem recair na retórica esvaziada do anti-imperialismo reativo. Lembrando que, o Império era exatamente uma forma de organização da ordem global que emergiu depois do choque dos imperialismos.
O problema é que, 25 anos depois, esse tripé cedeu diante de seus vetores mais reacionários. Quando falamos em crise do Império – para além da analogia útil, mas limitada, com o declínio do Império americano –, é preciso reconhecer que não houve ruptura imanente pelos vetores democráticos. O que houve foi uma contraofensiva feroz. Uma reterritorialização “monárquica” e “aristocrática” do Império, conduzida por seus setores mais regressivos.
Em outras palavras, o Império, corroído pela crise da democracia e pelo enfraquecimento das forças constituintes que a multidão já foi capaz de expressar, expeliu de seu interior um tumor autoritário, que se apresenta como o novo “Fora” da democracia, da globalização, contra a própria multidão. Esse “Fora” reacionário – que também assume formas antineoliberais – não representa uma alternativa democrática, mas uma mutação parasitária que cresce justamente onde os ciclos de lutas se enfraqueceram. Uma hipótese forte, portanto, é que a ascensão autoritária, incluindo aí a força da nova extrema-direita, é a resposta, reativa, reacionária, à potência constituinte que emergiu nas lutas alterglobalistas e na crise da representação iniciada no novo milênio. Nesse sentido, precisamos revisitar criticamente a quadrilogia da Multidão de Toni e Michael.
É na crise do Império, aqui compreendido como o colapso da globalização democrática, que triunfa o que poderíamos chamar, sem exagero, de um triunvirato autoritário: Trump, Putin e Xi Jinping, os novos duques, capos e mafiosos dessa reconfiguração planetária. Em torno deles gravitam figuras menores, mas não menos repulsivas, como Bolsonaro, King Jong-un, Netanyahu, Orbán, Khamenei, entre outros, ditadorzinhos, fascistas e pequenos autocratas de província que ora se ajoelham, ora se voltam contra seus patronos, jogando o jogo duplo das alianças cruzadas com os três chefões. Juntos, compõem o mosaico instável e oportunista da nova ordem antiglobal em marcha.
Mas os três principais operam como vetores, como “corpos-sem-órgãos” da reterritorialização autoritária depois do Império. A novidade não está nos instrumentos – plataformas, financeirização, militarização dos fluxos –, mas em sua recombinação sob formas mais centralizadas e agressivas de comando. São projetos que, formados no interior da ordem global do pós-guerra, capturaram suas estruturas e as redesenharam sob uma lógica regressiva. Putin busca reconstruir um imperialismo com ecos do stalinismo e do czarismo; Xi articula vigilância digital, repressão ideológica e ambição hegemônica via infraestrutura (como na Nova Rota da Seda); Trump encarna o desmonte institucional por dentro e contra a própria hegemonia global americana.
A anomalia do presente é que foram eles que destruíram o Império, não a multidão. Colocaram-se de fora de certo ideal normativo da ordem global, por vezes liberal, por vezes neoliberal, que, apesar de suas contradições, ainda operava com algum grau de abertura e reconhecimento de direitos. Esse “Fora”, hoje, não é o lugar da crítica democrática ou da invenção institucional. É o terreno de uma nova organização do poder. Que todos eles reivindicam uma ruptura com a ordem anterior visando instaurar ou prolongar (no caso de Putin e Xi) seus regimes de exceção, baseados em segurança, identidade nacional e comando centralizado, não deve nos surpreender. O “antineoliberalismo” que encarnam, portanto, não é um pós-neoliberalismo democrático, mas uma exterioridade regressiva como o novo Dentro, que emerge como resposta e ataque à democracia global e que investiu todas suas armas na derrota dos ciclos de luta multitudinários.
Essa retórica articulada pela propaganda do Kremlin – o maior patrocinador das fake news globais, como apontam relatórios extensivos de organizações como o European External Action Service (EUvsDisinfo) – e reproduzida por seus aliados, não é apenas defensiva: ela busca deslegitimar e destruir os ciclos de luta que marcaram as últimas décadas, como o Maidan, Hong Kong e outros levantes democráticos ao redor do mundo. Trata-se de um investimento maciço em propaganda, desinformação e inversões discursivas, que apresentam toda insurreição como manipulação externa do Ocidente, da Otan, etc, e toda diferença como ameaça. O alvo não é o liberalismo formal, mas a multidão que ousou reinventar a democracia no início do milênio. Aqui, Putin e Trump lutam do mesmo lado da barricada.
IHU – O neoliberalismo, além dos ideais alinhados ao campo político conservador e de direita, também produziu, talvez como efeito colateral, políticas altermundialistas ou alterglobalistas. Quais foram os principais movimentos nesse sentido e por que hoje não mais ouvimos falar sobre novos movimentos de resistência?
Felipe Fortes – O neoliberalismo foi atravessado por intensas dinâmicas de resistência, isso é inegável, e admitir isso já desarticula boa parte da retórica mais caricatural da crítica ao neoliberalismo. A globalização não foi apenas do mercado, do capital, dos fluxos financeiros. Ela também foi, de modo ainda mais potente, das lutas. O ciclo alterglobalista, com seus momentos emblemáticos, como Seattle, Gênova, Primavera Árabe, Junho de 2013, Maidan, expressava justamente isso: em partes, uma recusa à “globalização neoliberal”, mas não à globalização em si, que se corporificava no corpo dos migrantes, nas redes da cooperação social e no intelecto vivo que circulava pelas redes de circulação produtiva da metrópole e seus circuitos de valorização.
Tratava-se de imaginar, sim, outra globalização, constituída pelas lutas, pelos direitos, pelas redes, pelo comum. No entanto, esse “outro” da globalização não estava fora dela, mas era parte de sua própria carne. Era um “outro” que a constituía por dentro, antropofagicamente, em suas zonas de vizinhança e de indiscernibilidade. Do mesmo modo que não se constituía por um “Fora”, a própria globalização internalizava, canibalizava, suas margens. Como dizia Guattari, em uma antecipação formidável, havia uma “proliferação das margens” que caracterizava a máquina capitalista pós-fordista, mas essa proliferação acontecia no cerne do processo, se espalhava por todo o sistema nervoso da globalização e subvertia seus mecanismos de captura top-down. Falar do centro e das margens, do dentro e do fora, se tornava, de certa forma, obsoleto. Aqui, a resistência não se situava, portanto, como exterioridade pura, mas como potência imanente, como dinâmica e motor da globalização. Como na antropofagia cultural, as lutas alterglobalistas transformavam os elementos da própria globalização em matéria para seu mundo: redes, sentidos, alianças e formas de vida em escala planetária.
Nesse sentido, um ciclo de lutas, como a Primavera Árabe, era como um vírus que se proliferava planetariamente. Costumamos pensar a globalização a partir do prisma da pandemia de Covid-19, que expôs a interconexão logística das cadeias globais (usada como vetor pelo vírus). Mas, muito antes disso, foi a própria Primavera Árabe que se globalizou “viralmente” e que deu um sentido material àquilo que antes parecia somente uma utopia: o internacionalismo das lutas.
Esse gesto implicava, claramente, uma relação com o outro que constitui a própria identidade híbrida do processo de globalização e torna ainda mais importante, hoje, a distinção entre o “alter” e o “anti”. O “alter”, como em “alterglobalização” não é negação reativa: é afirmação inventiva, recomposição, antropofagia, miscigenação afirmativa, hibridização. O alterglobalismo propunha uma organização do mundo fundada na multiplicidade, na hibridização, na interdependência e na produção de subjetividades transversais. Rejeitava tanto a suposta homogeneização capitalista quanto o fechamento identitário dos nacionalismos. Apostava na produção, tradução, na transvaloração, na ampliação e na miscigenação do comum. O antiglobal, ao contrário, cada vez mais mobilizado pela extrema-direita, é reativo, regressivo e fechado em identidades nacionalistas e pela profusão de xenofobias e preconceitos.
Por isso, retomar criticamente a perspectiva alterglobalista é decisivo hoje, diante da ascensão do discurso antiglobalista, cada vez mais mobilizado por setores autoritários e xenófobos. Sob a máscara da crítica ao “globalismo”, o que se defende, na verdade, é o retorno à impotente soberania de estado nacionalista, à “pureza” fascista cultural e ao protecionismo excludente. Esses projetos, portanto, não oferecem uma alternativa global, mas têm destruído, justamente, o socius da globalização, ou seja, o espaço mesmo do global: são reversões regressivas que buscam bloquear os fluxos, não os reinventar. O alterglobalismo, ao contrário, partia da convicção de que o mundo novo só pode nascer deste – e não fora dele – pela intensificação das redes, das alianças, da comunicação entre as lutas. Se apropriar da arquitetura produtiva, intensificar as contradições e as lutas.
Se, nos anos 2000, as fronteiras entre o “anti” e o “alter” global podiam parecer difusas ou até sobrepostas – inclusive em alguns momentos da própria obra de Negri e Hardt – hoje essa distinção precisa ser radicalmente revista. Reafirmar o “alter” contra o “anti” é essencial para reabrir o horizonte democrático das lutas em escala planetária, hibridizando o local com as dimensões transnacionais. Quando o assunto é globalização, somos – ou deveríamos ser – muito mais alters do que antis.
Essa distinção torna-se ainda mais crucial quando governos tentam capturar a linguagem da crítica ao neoliberalismo para “reciclar” de modo suspeito os termos da globalização. A noção de uma “reglobalização sustentável”, defendida recentemente por Haddad, parece apontar para uma retomada da racionalidade cooperativa e da integração produtiva. No entanto, quando esse discurso se articula com a agenda contraditória do BRICS – onde democracias se fragilizam a dividir a mesa com autoritarismos consolidados e teocracias repressivas –, o risco é de que a crítica à “globalização neoliberal” de Haddad seja usada para legitimar uma nova fase da própria crise global, mesmo que em defesa de um “multipolarismo”.
A contradição é evidente: enquanto o discurso de países do Sul fala em multipolaridade, sustentabilidade e reequilíbrio geopolítico, o que se consolida via Rússia e China, que vão acumulando poder político e militar, é a normalização de regimes autoritários, o silenciamento das dissidências (como mostram as prisões e assassinatos políticos cometidos por Putin) e a neutralização global das lutas sociais. Esse arranjo entre potências autoritárias e economias emergentes, entre democracias frágeis e autocracias, é apresentado como alternativa ao “Ocidente neoliberal”. Mas que alternativa é essa? A China, por exemplo, é o principal destino da soja brasileira, sustentando um modelo agroexportador predatório que devasta a Amazônia. Em nome da soberania nacional, avança-se a velha cadeia de dependência: desmatamento, expulsão de comunidades e captura do discurso soberanista por projetos autoritários. É nesse cenário que aparece a imagem de Haddad ao lado de Donna Haraway, uma tentativa constrangedora de performar sensibilidade “cosmopolítica” enquanto se mantém, com verniz progressista, a velha política econômica extrativista. Marina Silva tem enfrentado essa lógica, mas vem sendo derrotada, sem força para desarticular as contradições internas do próprio governo. A Amazônia sangrou mais sob Bolsonaro, mas também sangra sob o PT, que governa, com intervalos, há muito mais tempo. A devastação ambiental não é exceção: é continuidade e projeto, tanto do bolsonarismo quanto do desenvolvimentismo. A distância entre a linguagem emancipatória e a prática autoritária precisa ser escancarada, antes que a crítica seja mais uma vez capturada pelas lógicas do poder.
Dito isto, a Primavera Árabe, Junho de 2013 no Brasil, Euromaidan, os Indignados, o Occupy, todos esses levantes expressaram algo mais que insatisfação difusa. Romperam com a linguagem tradicional da representação e da esquerda clássica. Eles exigiam democracia direta, experimentação, recomposição de laços sociais. E fizeram isso no coração da globalização, no coração do neoliberalismo.
Por que, então, parece que esse ciclo se dissipou e que hoje “não há mais resistência”? Eu não acho que seja o caso. Mas uma explicação recorrente nesse sentido aparece em autores como Michael Hardt e Sandro Mezzadra, que parecem ter abandonado de vez o pós-operaísmo, com a tese do “regime de guerra global”, e em Maurizio Lazzarato, outro que abandonou o ponto de vista das lutas, para quem o capitalismo contemporâneo é uma única e gigantesca “máquina de guerra” e a democracia um simulacro do capital. Essas leituras captam algo real, o entrelaçamento entre economia, guerra e controle, mas correm um risco importante: o de totalizar a realidade a ponto de apagar nela qualquer possibilidade de antagonismo, de resistência, de invenção democrática. Quando a crítica transforma tudo em guerra, tudo em exceção, ela acaba por reproduzir a mesma clausura que denuncia. A crítica, assim, deixa de operar como força de intervenção e passa somente a reiterar o impasse.
Me parece mais coerente, portanto, afirmar que as resistências, hoje, atravessam a guerra, mesmo com as condições mais adversas. A resistência ucraniana é um exemplo evidente: articula um desejo radical de liberdade e reinvenção democrática, tentando manter vivas suas instituições e sua vida coletiva mesmo sob bombardeios e ocupação. Obviamente, há outros fronts. A denúncia da barbárie que o exército israelense vem perpetuando contra os palestinos em Gaza é, evidentemente, fundamental. No entanto, é preciso sustentar uma crítica que não se deixe capturar tão facilmente. Ao denunciar o genocídio promovido por Netanyahu, é indispensável criticar as forças fundamentalistas como o Hamas, que sequestram a causa palestina, erguem seus próprios aparelhos de captura e operam como máquinas de guerra autoritárias e terroristas. Um ponto de vista das lutas deve saber mobilizar, sem restrições, a luta ucraniana, a luta palestina e a luta migrante, por exemplo, ao mesmo tempo que critica, com a mesma força, Putin, Netanyahu, Hamas e Trump. O que precisamos é retomar a investigação pelas lutas e desenvolver uma ciência do antagonismo adequada ao nosso tempo.
IHU – Doze anos se passaram desde Junho de 2013. Até que ponto esse foi o canto do cisne das lutas alterglobalistas e de resistência ao neoliberalismo? Por que a esquerda, desde então, parece ter pouca capacidade de mobilização política?
Felipe Fortes – Junho de 2013 foi a explosão das lutas no neoliberalismo à “brasileira”, mas no sentido de seu transbordamento. Depois de Junho, nada foi mais como antes. Sua derrota como movimento marcou um fim, mas também foi uma aceleração e uma intensificação do que vinha antes. Há, claramente, depois de Junho, uma transformação qualitativa. E não estou com isso, dizendo que Junho gerou o bolsonarismo, que é uma tese reacionária e que reproduz um ponto de vista governista do PT sobre o que ocorreu.
O que houve ali foi um curto-circuito entre desejo social e forma política. A rua já não pedia representação: experimentava diretamente formas de presença, de fala, de escuta, de corpo coletivo. Mas essa aceleração logo encontrou seus freios: o Estado, os partidos, a mídia e, em geral, a própria esquerda institucional, que não soube reconhecer naquelas jornadas o que elas tinham de indomesticável, de novo, de constituinte. Por outro lado, o movimento não soube dar corpo, dar força instituinte – ou seja, produzir instituições, produzir direitos – a esse poder constituinte. Foi só depois da repressão que o bolsonarismo emergiu como forma reativa, buscando suplantar o vácuo político. Para ser direto: o que falta hoje no Brasil são novos Junhos. Por que razões para lutar no Brasil, um país tão desigual, nunca faltaram.
Estamos falando, portanto, de uma disputa entre aceleração e freios. Junho de 2013 foi um acelerador de partículas do real, que revelou tanto a potência da multidão quanto o esgotamento das velhas mediações. E o sistema respondeu com seus dispositivos: criminalização, judicialização, moralismo. O que faltou foi uma esquerda à altura, capaz de atravessar o deserto entre a gestão do possível e a invenção do impossível.
A pergunta, então, não é por que a esquerda perdeu sua capacidade de mobilização. A pergunta é: por que ela se recusa a aprender com o que emergiu ali? Junho talvez tenha sido a maior escola política das últimas décadas, mas segue tratado como erro, trauma ou ameaça, como se a política real só pudesse nascer sob tutela de um governo. Hoje, a esquerda oficial e ungida parece encurralada numa simulação de luta, paralisada por um anti-imperialismo convertido em mantra: um automatismo que ignora a complexidade das guerras atuais, despreza resistências reais quando não cabem no seu manual, e acaba se aliando, sem pudor, a projetos autoritários, desde que “antiocidentais” e “antiamericanos”. Mas as lutas não estão “na esquerda” nem na “direita”, estão nas ruas, nas guerras, nos guetos, nas favelas, para além dos binarismos.
IHU – Diante deste contexto, como fabricar novas superfícies de reflexão?
Felipe Fortes – Essa talvez seja a pergunta mais difícil porque ela exige mais do que análise: exige imaginação política, que é, talvez, um dos maiores problemas do nosso tempo, embora nem sempre seja um problema bem formulado. Tenho escrito um texto com Émerson Pirola justamente sobre essa questão da “crise da imaginação” no pensamento de esquerda. O paradoxo é que, ao mesmo tempo, vemos a extrema-direita operando uma espécie de recuperação de imaginários, que embora toscos ou regressivos, funcionam como dispositivos de mobilização. Só que sua “criatividade” está sempre ancorada num desejo de fechamento da história, numa nostalgia autoritária, num mundo sem conflito. Romper com esse tipo de fantasia é o primeiro passo: não se trata de sonhar com outro fim da história, outro fim do mundo, mas de reabrir a história ao imprevisível. Começa por aí.
O ato da imaginação política supõe, sobretudo, o abandono do conforto dos diagnósticos familiares. Você não imagina a casinha, a esposa, o filho, o gato, o cachorro, o conforto que você já tem. Ao longo desta conversa, tentei mostrar que não vivemos mais sob o mesmo regime de mutações que moldou a crítica nos anos 1990 e 2000. O neoliberalismo, embora com alguns elementos ainda operantes, não é mais o centro de gravidade do mundo contemporâneo. As forças reacionárias que hoje organizam o planeta e desorganizam as possibilidades de emancipação exigem outras chaves, outros vocabulários, outros pontos de vista.
Por isso mesmo, talvez o mais urgente agora seja recompor um ponto de vista. Há, me parece, uma intuição subterrânea, mas muito potente, no operaísmo italiano que pode nos ajudar: a ideia de que a análise deve sempre partir das lutas. Não das estruturas, nem das ideologias, nem dos Estados ou dos partidos, mas dos movimentos reais, dos corpos em deslocamento, das forças vivas que se manifestam imediatamente como contrapoder. Trata-se, nesse sentido, de um perspectivismo radical baseado em composições móveis, em alianças mutantes, em pontos de vista que se constroem em meio ao movimento, e não acima dele. Nesse sentido, é um pensamento que compõe a partir da instabilidade, da metamorfose, da experimentação.
Se existe hoje uma posição capaz de desorganizar o vocabulário oficial e recolocar a questão democrática em termos verdadeiramente globais e planetários, essa posição é a das migrações. E não me refiro apenas ao deslocamento geográfico, forçado ou voluntário. Falo das migrações como figura maior da política de resistência contemporânea: o deslocamento dos corpos, das ideias, dos modos de vida, dos vínculos e das lutas que escapam à lógica do enraizamento, da propriedade, da nacionalidade, da disciplina, da vigilância e do controle.
O desafio é inverter a equação: não mais pensar o território como o que “acolhe” os migrantes, mas compreender as migrações como aquilo que desenha e redesenha os territórios afetivos, políticos, ecológicos. A Califórnia é global porque é migrante, a Europa é global porque é migrante. E o planeta, como tal, só se constitui enquanto espaço comum quando reconhecemos as migrações como seu movimento constituinte e instituinte. Essa inversão permite se associar ao ponto de vista dos migrantes como modos de viver que colocam em crise as fronteiras, expõem os limites da soberania e desorganizam a gramática da Nação centrada no binômio Estado-Mercado. Não por acaso, o que ocorre hoje com os migrantes nos EUA, perseguidos, encarcerados, racializados, constitui um dos pontos mais tensos e decisivos da luta global. E não por acaso também, as lutas do futuro serão atravessadas pelas migrações, inclusive as climáticas, que tendem a se intensificar com a crise climática já em curso.
Falo, aliás, de um ponto de vista que também me atravessou pessoalmente. Eu morava em Porto Alegre nas enchentes de 2024, e fui forçado a migrar, não só de casa, mas de uma condição, de um tempo, de uma vida construída ali. Essa experiência me atravessou profundamente, antes mesmo de minha mudança e, portanto, de minha migração para o Rio, no fim de 2024, onde sigo minha pesquisa. Porto Alegre, nesse sentido, é um ponto importante de reflexão e poderíamos falar hoje numa “Porto-Alegrização do mundo”. Não porque Porto Alegre tenha virado modelo, pelo contrário. A cidade que há duas décadas simbolizava a democracia global, como sede do Fórum Social Mundial e epicentro de uma globalização das lutas, hoje encarna o avesso disso: um laboratório do colapso climático, social e político. O que vimos nas enchentes de 2024 não foi um acidente, mas a condensação brutal de um processo mais amplo: a ruptura da articulação entre o local democrático, o global cooperativo e o planetário ecológico. Porto Alegre, que encarnava um devir-global, um devir-Porto-Alegre do mundo, vive agora o reverso disso, como o laboratório de uma crise social, ambiental e política que tende a se espalhar em outras escalas e por outros locais. Esse deslocamento histórico ajuda a entender o que está em jogo quando falamos de globalização democrática: trata-se menos de um ideal abstrato e mais de uma disputa concreta pelas infraestruturas da vida, da inteligência e do planeta.
É a partir dessas experiências e deslocamentos pelas migrações que talvez possamos começar a costurar novos pontos de vista. E com eles, fabricar novas superfícies de reflexão. Em suma: desenvolver uma crítica que se mova como as lutas migrantes se movem, sem garantias, mas com atenção radical ao que emerge e com o desejo insaciável de produzir mais vida, produzir novos direitos. Talvez assim possamos passar da superfície da reflexão à superfície da ação.
IHU – Como a “tensão” produzida pelo neoliberalismo e a emergência de forças de resistência se opõem ao cenário atual, no qual as derivas democráticas parecem estar cada vez mais subnutridas política e socialmente?
Felipe Fortes – Hoje, a tensão não se dá mais entre neoliberalismo e resistência. A crise da globalização e o colapso do ciclo democrático que a acompanhou geraram uma nova configuração de conflitos, que certamente exigirá novas formas de resistência. O que vemos agora é o confronto, nem sempre militarizado, mas sempre atravessado por essa ameaça, inclusive nuclear, entre regimes autoritários que se apresentam como alternativas “antissistêmicas” ao Ocidente, embora operem a partir da exceção soberana, da centralização tecnopolítica e do fechamento identitário, e as democracias, como as europeias, acuadas tanto pela incapacidade de recompor sua legitimidade social quanto pelas ameaças que enfrentam, simultaneamente, de fora e de dentro. Nesse cenário, figuras como Trump encarnam um paradoxo: são expressões de um anti-Ocidente que emerge de dentro do próprio Ocidente, corroendo seus fundamentos liberais e democráticos, ao mesmo tempo que instrumentalizam sua infraestrutura institucional. A pergunta já não é se o neoliberalismo está em crise – isso está claro –, mas o que está ocupando seu espaço.
IHU – Neste contexto, o que seria e como se caracteriza o tecnofascismo?
Felipe Fortes – O tecnofascismo, se é que esse termo é adequado, não é apenas a digitalização do autoritarismo tradicional, nem um simples retorno ao totalitarismo do século XX. Tampouco se reduz à crítica ressentida às redes sociais, aos algoritmos ou às plataformas digitais, vistas como instrumentos da extrema-direita. O “tecnofascismo” capta uma forma atualizada dessa transformação da ordem global e das “soberanias”, reprogramada em linguagem algorítmica e operando por dentro das infraestruturas digitais e dos monopólios das Big Tech. A guinada de figuras como Peter Thiel e Elon Musk ao trumpismo é paradigmático aqui e mostra como setores estratégicos do capital tecnológico californiano, influenciados por gurus tecnofascistas como Curtis Yarvin, passaram a financiar diretamente projetos autoritários e reacionários, buscando converter o aspecto libertário da internet em um vetor de guerra cultural e controle social, alinhando as plataformas com pautas da extrema-direita global, mobilizando a infraestrutura digital para fazer uma política declaradamente antidemocrática, xenófoba, racista, fascista, com pitadas de futurismo e tecno-otimismo.
Estamos falando, portanto, de uma gestão algorítmica dos comportamentos e da produção de consenso via plataformas privadas (sem quase nenhuma regulação), que funcionam também como novos “agentes políticos”. Trata-se de uma aliança concreta entre Big Techs e Estados soberanos (ou, talvez mais precisamente, pós-soberanos), que compartilham o interesse comum em modular, controlar e extrair valor da vida social. Não se trata apenas dos Estados Unidos, e essa dinâmica, na realidade, não começou com o governo Trump 2.0: ela integra um processo mais amplo e antigo de reconfiguração. Na China, o modelo se expressa de forma concentrada no ecossistema fechado de empresas como Tencent, Alibaba e ByteDance, que atuam em estreita cooperação com o Partido Comunista Chinês, integrando vigilância, censura e controle social em tempo real.
Na Rússia, plataformas como VKontakte, Yandex, e mesmo o Telegram, operam de modo articulado ao Estado, compondo uma internet nacionalizada, integrada à chamada Runet, a “internet soberana” russa, que permite ao regime isolar o país da rede global, bloquear conteúdos críticos e disparar sua propaganda estatal com agressividade. Esses modelos revelam como, mesmo em contextos distintos, a convergência entre poder algorítmico e aparato estatal vem dando forma a essa nova governamentalidade pós-democrática. Mesmo quando figuras como Elon Musk e Trump terminam seu casamento, o pacto estrutural entre Big Techs e as derivas autoritárias dos Estados permanece intacto, como exemplifica o uso estratégico que Trump faz da retórica anti-regulação para atacar o STF brasileiro, num movimento que ameaça diretamente a democracia global.
Essa reflexão emerge de uma linha de pesquisa que venho desenvolvendo com Giuseppe Cocco (inclusive em um artigo que escrevemos e publicamos na Lugar Comum), e que não se limita ao diagnóstico do tecnofascismo. A questão é que o tecnofascismo, como essa aliança entre Big Tech e Estados, não explica tudo, ela mesmo precisa ser explicada. Uma das entradas possíveis nessa investigação é justamente o conceito de “aceleração algorítmica”, proposto por Cocco para dar conta de um processo recente, porém intensivo, no qual os algoritmos, disseminados em todos os domínios da vida, em todos os dispositivos, não apenas automatizam decisões, mas reconfiguram o próprio campo da governamentalidade e da experiência sensível. Em vez de aplicar uma lógica externa de comando, como nos modelos disciplinares clássicos, os algoritmos produzem mundos: organizam afetos, distribuem atenção, curam o sensível e modulam condutas em tempo real, produzindo novas interfaces. Mas o que chamamos de “tecnofascismo” é apenas uma das formas que esse processo, como um todo, pode assumir. É por isso que pensar alternativas exige ir além da denúncia, e sim buscar outras formas de articulação entre os algoritmos, desejo e imaginação política. O problema, portanto, não está nos algoritmos em si, como se fosse possível isolá-los da experiência cotidiana ou simplesmente desinventá-los, uma ilusão crítica frequentemente apontada pelo próprio Giuseppe.
O que queremos dizer, no final das contas, é que a luta, nesse contexto, não é contra a tecnologia, mas dentro do campo algorítmico. As redes são, ao mesmo tempo, dispositivos de captura e terrenos de conflito. Não há mais espaço para neoludismos disfarçados de crítica radical. O essencial é reconhecer que a política hoje atravessa, de forma decisiva e irreversível, as infraestruturas digitais e os algoritmos. Quais são as lutas algorítmicas em curso? E, mais importante, quais ainda precisamos inventar? Sabemos que a extrema-direita opera muito bem nesse terreno, mas nosso interesse é outro: investigar esse problema a partir da perspectiva das lutas, e não apenas das capturas.
É nesse ponto que a inteligência artificial se torna central. Não apenas como ferramenta de automação, mas como operador direto de uma mutação profunda daquilo que Marx chamou de general intellect, o saber social, o conhecimento vivo, a inteligência coletiva em sua forma mais distribuída. Contra leituras unilateralmente negativas – como a de Matteo Pasquinelli, por exemplo, que vê na IA apenas uma máquina de extração e padronização infinita do comum –, é preciso insistir em sua ambivalência. A IA condensa, ao mesmo tempo, expropriação e possibilidade de recomposição: ela reorganiza o comum, mesmo enquanto as plataformas e Big Techs que a gerenciam, exploram nosso conhecimento social. Aqui, poderíamos começar a investigar uma IA do comum, por exemplo.
É nesse contexto que propomos a hipótese de uma complementaridade entre o biopoder e a biopolítica dos corpos e uma forma de “noopoder” que opera sobre cérebros, mas o cérebro pensando como esse órgão social plástico que se exterioriza nas relações sociais, nas redes, nas plataformas. Se o biopoder operava sobre a vida, o noopoder opera mais sobre a inteligência, que tem se hibridizado com a inteligência artificial “inorgânica”: ela captura, modula e reorienta não apenas corpos, mas percepções, processos de pensamentos que vão influenciar desejos, atenção, tudo em tempo real.
A questão, portanto, não é que a IA “acelere” a captura da produtividade social, mas que ela transforme a própria gramática da produção, da luta e do sentido e com isso, transforma radicalmente nossa inteligência social coletiva. Porque ela é treinada com linguagem, com corpos, com gestos, com obras, ou seja, com o comum. O Big Data é uma forma de comum, mesmo que capturada, expropriada e monopolizada pelas Big Techs. E, justamente por isso, também deve ser disputada. Não há como pensar o futuro da democracia ignorando essa disputa, que passa pelo debate sobre a regulação e a quebra dos monopólios das Big Techs sobre os algoritmos, mas não se reduz a essa questão apenas. O desafio não é encontrar um “Fora” da IA, mas operar por dentro, até porque já estamos dentro: reapropriar-se das máquinas, das redes, das arquiteturas do sensível para deixarem de ser ferramentas de governos e das Big Techs, com suas derivas tecnofascistas, e se tornem meios de invenção política democrática. A crítica deve, portanto, tornar-se também algorítmica: trocar a denúncia pela imersão no código, reprogramando o campo, abrindo espaço para a emergência de uma nova imaginação política à altura da era algorítmica.
IHU – O anúncio do tarifaço do Trump pode trazer algum benefício à esquerda no sentido de delinear um inimigo claro a quem deve-se combater e defender a soberania nacional? A estratégia retórica trumpista será melhor à esquerda ou ao campo de direita?
Felipe Fortes – Por trás dos efeitos concretos e dos sentidos geopolíticos das tarifas, que já discutimos anteriormente, há uma disputa importante em torno da retórica que a envolve: o modo como trumpismo, bolsonarismo e lulismo a articulam em relação à soberania, ao nacionalismo econômico, entre outros elementos. É difícil prever quem vai capitalizar melhor essa questão, Bolsonaro e seus filhos, por exemplo, têm tentado usar a questão das tarifas como barganha e chantagem com o governo brasileiro, numa tentativa desesperada de salvar seu pescoço e conseguir uma anistia, atacando, portanto, a própria soberania brasileira, mostrando todo o cinismo do seu slogan “Brasil acima de tudo”. Lula, por sua vez, parece ter aumentado sua popularidade que estava derretendo anteriormente. É visível, no entanto, que essa questão reacende os afetos mais “identitários” de suas próprias bases eleitorais e, nesse sentido, alimenta a polarização que deve incendiar as próximas eleições no Brasil.
Sobre Trump, há um ponto que precisa ser destacado com clareza: existe uma diferença gigantesca entre ter Biden ou ter Trump na presidência dos EUA. Sob Trump, por exemplo, houve o desmonte brutal de políticas públicas como a USAID, cortes sistemáticos em programas de direitos humanos e educação e, sobretudo, a intensificação de uma política anti-imigratória brutal. Mas, para amplos setores da esquerda, essa diferença simplesmente desaparece, como se tudo fosse “mais do mesmo”, variações do mesmo império malvado de sempre. Se é verdade que nunca foi tão fácil e correto falar do imperialismo americano malvado, talvez nunca tenha sido tão perigoso o cinismo envolvido nessa crítica. Os migrantes que vivem na Califórnia e têm sido perseguidos e deportados sabem bem disso.
A aposta no “multipolarismo”, por exemplo, tem servido, a meu ver, mais como uma anestesia diante do declínio da ordem global do que como um horizonte real. Um tipo de antiamericanismo automático atua aí, que termina por endossar, sem maiores escrutínios, tanto a figura de Trump – que, de fato, vem desmontando a hegemonia americana baseada na ordem pós-segunda guerra, ou seja, vem fazendo tudo aquilo que uma certa esquerda sonhou em fazer e não conseguiu – quanto os projetos autoritários encarnados nas figuras já mencionadas, de Putin e Xi Jinping. Trump, nesse jogo, funciona como um espantalho conveniente: reafirma o “mal ocidental” e o ódio ao americanismo e ao “atlantismo” que acaba por legitimar qualquer aliança no tabuleiro “oposto”. Mas é justamente aí que mora a armadilha. Porque, embora tenha anunciado tarifas contra a China ou feito ameaças pontuais à Rússia, Trump nunca rompeu de fato com esse bloco autoritário. Muito pelo contrário: flertou abertamente com Putin, já o elogiou como “líder forte”, questionou o papel da OTAN e incentivou a desintegração da União Europeia. Ou seja, não há contradição real, o que existe é uma espécie de pacto informal entre os novos autoritarismos. O que os une é o mesmo afeto bélico: o ódio à democracia real, aos direitos, às lutas. É uma aliança difusa, mas eficaz, que se retroalimenta na criminalização dos movimentos sociais e na militarização dos dispositivos de governo.
A aposta no multipolarismo tem dificultado, portanto, a afirmação de um ponto de vista enraizado nas lutas, neste momento pós-Império em que todos querem abocanhar uma parcela do novo espaço global, do novo “nomos” da terra. Trata-se, assim, de recuperar uma perspectiva que não se organiza segundo a lógica da geopolítica interestatal e do alinhamento entre blocos, mas a partir dos vetores de insurgência, da criação institucional e da reinvenção democrática que brotam de baixo. De fato, trata-se mesmo de uma alternativa, mas de uma alternativa nefasta, profundamente antidemocrática, quando os países do BRICS estão ancorados no projeto Russo, por exemplo. Se é verdade que o neoliberalismo já não explica o mundo, tampouco o faz o velho anti-imperialismo que tinha como alvo único, os Estados Unidos. Precisamos de novos instrumentos conceituais e políticos – um novo léxico, talvez – que seja capaz de reconectar as lutas locais com processos de subjetivação e recomposição democrática em escala planetária. Quando Lula diz que “não há alternativa ao multilateralismo”, repete, talvez sem perceber, talvez por provocação, o velho bordão de Thatcher: there is no alternative. É a capitulação da imaginação política.
Mais do que uma moeda para enfrentar o dólar ou a criação de novas moedas locais e nacionais, o que realmente precisamos para fundamentar novas “soberanias” é a aceleração dos ciclos de luta democráticos, essa é a “moeda” global que precisamos. Essa é a potência que precisamos recompor, não para voltar aos velhos tempos, mas para inventar novas formas de vida organizadas, insurgentes, constituintes. Essa é a travessia que se impõe: atravessar o novo deserto multipolar sem sucumbir às suas miragens e ao que elas, involuntariamente ou não, acabam alimentando: novas formas de autoritarismo geopolítico.
IHU – Diante de tantas crises, guerras e desafios de toda ordem, como reinscrever, reinventar a democracia, mas uma democracia que ultrapasse o conceito grego e a imaginação conceitual e política do ocidente?
Felipe Fortes – Quando investigamos a história das democracias e, portanto, a história da produção de direitos e instituições que hoje costumamos chamar de “democracias liberais”, descobrimos que elas não foram dádivas das elites nem produtos espontâneos de vontades soberanas. Foram produtos das lutas, conquistas arrancadas a duras penas por lutas operárias, feministas, antirracistas, estudantis, anticoloniais e migrantes, que reinventaram, de dentro da própria ordem global, os contornos do possível. Por isso, em vez de pensar o Ocidente apenas como uma entidade geográfica ou cultural responsável pelo colonialismo, é preciso reconhecê-lo também como o nome histórico de um campo de lutas, um campo onde, desde baixo, as multidões impuseram direitos, liberdades e instituíram novas formas de vida democráticas. Um “Ocidente desde baixo”, fruto mesmo das insurgências que o atravessaram. É precisamente esse Ocidente insurgente, que é também o Ocidente migrante, que o novo eixo reacionário tenta apagar, ao mesmo tempo que procura reinstaurar formas de colonialismo, autoritarismo e erosão democrática, não muito diferentes dessa imagem do “Ocidente” que a esquerda critica.
É nesse ponto que a intuição do filósofo francês Claude Lefort se torna decisiva: a democracia, segundo ele, é uma forma política que reconhece o vazio no lugar do poder, isto é, rompe com qualquer ideia de fundamento absoluto e assume o conflito como constitutivo, constituinte, como processo sempre inacabado e aberto. O que está em jogo hoje, na disputa entre autoritarismo e reinvenção democrática, é justamente a tentativa de vedar esse vazio de onde escapam as linhas de fuga, de fechar o espaço público e torná-lo uma verdade única, nacional, militarizada. A democracia, ao contrário, como pensa Lefort, permanece um campo de indeterminação positiva, atravessado pela pluralidade, pelas lutas e pela invenção institucional. Quando Lefort criticou o autoritarismo, tinha em mente o stalinismo, mas sua crítica ressoa com força renovada diante do putinismo e daqueles que querem apagar a dimensão inventiva e democrática da política.
Nesse contexto, a Europa surge como um campo decisivo. Cercada por fora e por dentro, pela guerra, pela instabilidade econômica e pela ascensão da extrema-direita patrocinada pelo Kremlin, ela ainda preserva, mesmo sob intensa pressão, algumas condições para uma possível reinvenção democrática. É nesse sentido que alguns pesquisadores, como meu amigo Allan Deneuville, têm proposto pensar a Europa como um novo “terceiro mundo”: um espaço de contradições e vulnerabilidades, mas também de reinvenção política. Daí a importância de imaginar uma Europa federal, que reconheça sua dívida histórica com os movimentos sociais e os levantes democráticos e que se abra às forças de hoje, desde os coletivos migrantes, até os levantes urbanos e, sobretudo, a resistência da multidão ucraniana.
Defender a Ucrânia, com as armas que eles precisam, não significa endossar o militarismo, mas reconhecer que, naquele território, está em disputa algo mais do que o “princípio democrático europeu” e uma paz abstrata, que só será negociada com Putin ao preço da rendição ucraniana. O que está em jogo, portanto, é a possibilidade real de uma reinvenção democrática global. E isso exige, sim, a derrota militar de Putin e do projeto autoritário que ele representa. Trump, aliás, nunca escondeu seu desprezo pela Ucrânia: a humilhação pública imposta a Zelensky já deixava isso evidente. Recentemente, deixou claro que as armas americanas estão, agora, à venda para a OTAN e, se ela quiser, que ela mesma as repasse aos ucranianos. Fora isso, o desfecho da guerra, para ele, é apenas uma questão de demonstração de força, mais uma arena para consolidar sua imagem como indomável. A conclusão que chegamos é, portanto, que a defesa da democracia, hoje, passa, paradoxalmente, por dentro da guerra, porque a guerra já atravessa a democracia. Ou tomamos posição nesse campo, a partir de uma política das lutas, ou deixamos que o autoritarismo geopolítico reescreva a história por nós.