26 Agosto 2025
Os cristãos repetem a fórmula do Credo Niceno-constantinopolitano em sua liturgia, mas talvez poucos conheçam o caminho que levou à definição do Símbolo da fé cristã. Podemos "recuperar" o significado daquilo que ainda repetimos? Questionamos o tema com Emanuele Castelli, professor do Departamento de Civilizações Antigas e Modernas da Universidade de Messina, que ocupou cargos de estudo e pesquisa em Lyon, Munique, Basileia, Heidelberg, Bari e na Universidade Gregoriana. Castelli é diretor da série Nuovi Testi Patristici (com Emanuela Prinzivalli) na editora Città Nuova, que publicou o volume organizado por Samuel Fernández e Sara Contini, Le fonti antiche sul Concilio di Nicea (Roma, 2025).
A reportagem é de Fabrizio Mastrofini, publicado por Settimana News, 24-08-2025.
Eis a entrevista.
Hoje, durante a celebração eucarística, ainda repetimos a fórmula do Credo Niceno-constantinopolitano, mas talvez não nos demos conta de quanto tempo levou para chegar a essa definição da fórmula da fé. Como podemos "recuperar" o significado do que repetimos?
Os fiéis de hoje recitam de cor o texto do Credo. No entanto, muitos deles talvez desconheçam a longa e árdua jornada que levou ao desenvolvimento deste símbolo de fé e correm o risco de não compreender adequadamente o seu significado. Nos últimos anos, têm sido feitos apelos para atualizar a linguagem daquele Credo ou torná-lo de alguma forma compreensível a todos os fiéis. Hoje, ele é recitado solenemente nas celebrações dominicais, mas poucos talvez saibam que o símbolo estabelecido entre Niceia e Constantinopla nem sequer se destinava ao uso litúrgico. Este é um dos paradoxos da história de um texto com uma tradição secular.
Amplamente estabelecido em Niceia em 325, mas destemidamente retrabalhado e até amplamente implementado em Constantinopla em 381, o símbolo da fé pretendia servir como um ponto de encontro entre diferentes posições teológicas. Para compreendê-lo criticamente hoje, ou para recuperar seu "significado", no entanto, não há atalhos.
Como os Evangelhos e qualquer outro texto escrito, também o Credo exige uma análise quase palavra por palavra e uma avaliação no seu contexto histórico, utilizando as ferramentas da filologia e tendo em conta as descobertas mais recentes da historiografia.
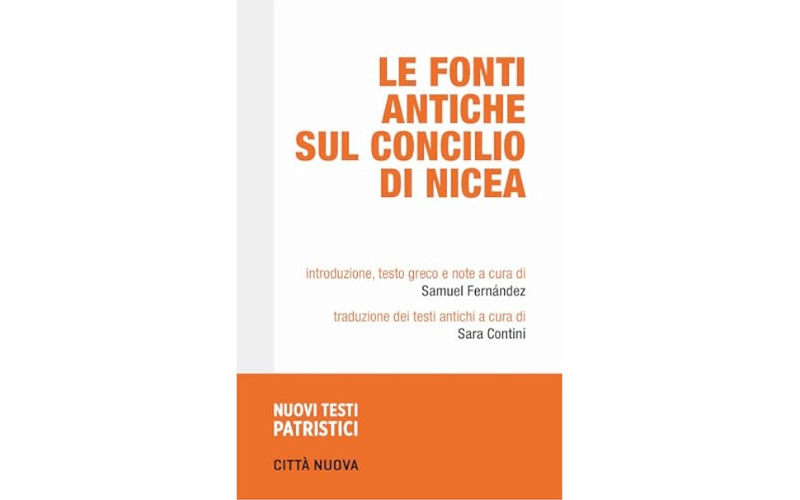
Livro "Le fonti antiche sul Concilio di Nicea" de Samuel Fernández e Sara Contini
Esses não são objetivos pequenos. Afinal, embora seja extremamente custoso restabelecer a verdade histórica sobre eventos ocorridos dezessete séculos atrás — o que requer especialistas e muitos anos de trabalho —, é igualmente custoso divulgá-la posteriormente, especialmente quando se trata de um vasto público de partes interessadas. Estima-se que hoje existam aproximadamente 1,4 bilhão de católicos, de diversas nacionalidades.
Na Itália, aqueles que desejam redescobrir o significado do Credo, e que não estudam profissionalmente assuntos histórico-teológicos, podem e devem frequentar instituições universitárias e, portanto, estudiosos especializados no cristianismo primitivo. Também é essencial ter acesso aos recursos bibliográficos necessários para compreender o Concílio de Niceia e o curso da crise ariana até pelo menos 381.
Nesse sentido, qual o propósito do livro e de uma série que apresenta uma abordagem direta dos textos, num período histórico-cultural em que muitas vezes falamos por ouvir dizer?
O livro organizado por Samuel Fernández e Sara Contini — Le fonti antichi sul Concilio di Nicaea (Roma, 2025), publicado na Nuova collana di testi patristici (ed. Città Nuova) — atende a algumas das necessidades que acabei de destacar. Pela primeira vez, o público de língua italiana tem à disposição uma coleção das fontes mais antigas sobre o Concílio de Niceia de 325. Esses textos são essenciais para a compreensão do debate teológico das primeiras décadas do século IV e, portanto, para situar historicamente o Credo estabelecido em Niceia.
Além disso, o primeiro concílio ecumênico produziu, além do Credo, também um conjunto de regras (20 cânones) para regular a vida das Igrejas e deu disposições precisas sobre a celebração da Páscoa: também sobre esses aspectos, o volume de Fernández e Contini é uma ferramenta de estudo inestimável.
A obra de Fernández e Contini apresenta as fontes mais antigas sobre a Assembleia de Niceia de 325 d.C. na língua original e em uma tradução italiana anotada. A tradução tem um duplo mérito: proporcionou ao editor a oportunidade de um maior engajamento crítico com os textos reunidos e, ao mesmo tempo, é uma ferramenta inestimável para leitores não especialistas, que podem se familiarizar mais facilmente com as fontes discutidas.
Graças a este volume, até mesmo um público não especialista poderá se aproximar e quase ouvir as vozes das figuras envolvidas de várias maneiras na grande controvérsia teológica debatida por volta de 325: não apenas Ário e seu bispo Alexandre de Alexandria, mas também Eusébio de Cesareia, o próprio imperador Constantino e outros.
Aqueles que buscam uma visão abrangente da crise ariana no século IV, até o Concílio de Constantinopla em 381, podem recorrer a diversas sínteses historiográficas importantes. Uma delas, de valor excepcional, foi produzida na Itália há cinquenta anos e permanece altamente valiosa até hoje. Refiro-me a "La crisi ariana nel IV secolo" (A crise ariana no século IV,) de Manlio Simonetti, Roma, 1975.
Dotado de excepcional perspicácia filológica e talento historiográfico, Manlio Simonetti deu um salto notável nos estudos sobre o arianismo no século IV (e além), reconstruindo cada fase de seu desenvolvimento com cuidado meticuloso. Os leitores também apreciarão sua notável clareza expositiva e seu talento literário.
Para uma visão geral das doutrinas cristãs dos primeiros séculos, recomendo também o importante volume de Emanuela Prinzivalli e do próprio Simonetti, A teologia dos antigos cristãos: séculos IV (Brescia, 2012).
No que diz respeito à série Nuovi Testi Patristici (doravante: NTP), esta coleção – publicada por uma editora tão respeitada nos estudos patrísticos como a Città Nuova – tem múltiplas finalidades.
Em primeiro lugar, visa manter o interesse e o estudo dos textos mais importantes do cristianismo primitivo. Este não é um objetivo pequeno, visto que oferecemos os textos em seu idioma original, bem como em uma tradução italiana anotada. O florescimento dos estudos clássicos na Itália, especialmente nas décadas de 1970 e 1980, já é um período feliz do passado.
Até mesmo a Igreja Católica — a referência aqui é à sua esfera institucional — parece ter perdido o interesse pelo conhecimento do grego e do latim antigos. Hoje, muitos seminaristas ingressam no sacerdócio sem terem recebido formação adequada nas línguas clássicas. Isso é um paradoxo, visto que esta é a verdadeira tradição a ser cultivada e mantida viva em torno do Evangelho, e não formas asfixiantes e sem sentido de eras passadas. Grande parte do futuro do cristianismo nos próximos anos dependerá do conhecimento das línguas clássicas e da capacidade de ler textos antigos com espírito crítico.
O risco é que passemos para a próxima geração uma mensagem enfraquecida do Evangelho e uma imagem opaca do extraordinário florescimento da literatura cristã na antiguidade tardia.
O NTP pretende, portanto, oferecer alguns dos grandes clássicos desta literatura e, ao mesmo tempo, pretende propor ao público interessado algumas obras patrísticas geralmente menos conhecidas, mas não menos importantes. Entre os objetivos da coleção está certamente o de oferecer verdadeiros instrumentos de pesquisa. O volume de Samuel Fernández e Sara Contini é um deles. O próximo volume será dedicado ao Liber pontificalis romano, obra fundamental a conhecer para quem estuda a história da Igreja de Roma.
Inaugurado em 2020, o NTP já ostenta uma série de volumes sobre autores como Agostinho, Evágrio Pôntico, Marcelo de Ancira, Pedro Sículo e Fílon de Alexandria, este último considerado por São Jerônimo um cristão honorário. A coleção foi inaugurada com uma nova edição crítica de "A Diogneto" e abriga também uma pérola da literatura cristã com conteúdo escatológico, o Carme a Flávio Félix sobre a Ressurreição e o Juízo.
Tenho a honra de compartilhar a direção desta série com Emanuela Prinzivalli (emérita de História do Cristianismo e das Igrejas na Universidade Sapienza de Roma), uma acadêmica de renome internacional.
Voltemos às questões históricas. Como a reconstrução dos debates teológicos e culturais da época de Niceia ainda pode ser útil para nós hoje?
De modo geral, reconstruir os debates teológicos culturais do cristianismo primitivo nos permite compreender como os eventos realmente ocorreram. Isso ajuda a evitar apresentações distorcidas do passado, um risco constante quando posições ideológicas, religiosas ou partidárias prevalecem sobre certos eventos históricos.
Para os crentes, então, o conhecimento (pelo menos em termos gerais) desses debates é importante por pelo menos duas razões: primeiro, é o caminho para conhecer e compreender historicamente a fórmula niceno-constantinopolitana da fé; segundo, é também uma ferramenta conceitual para evitar outro risco extremamente insidioso, o de hipostasiar acriticamente as fórmulas de fé estabelecidas na antiguidade tardia (em Niceia, Constantinopla ou em outros lugares), considerando-as algo intocável ou indiscutível.
Este último ponto merece algum esclarecimento. Como mencionei acima, em Constantinopla, em 381, não houve hesitação em retomar o símbolo da fé formulado em Niceia e retrabalhá-lo, implementá-lo e até mesmo reorientá-lo teologicamente, colocando o Pai, o Filho e o Espírito Santo essencialmente em pé de igualdade. Isso significa que os bispos reunidos em Constantinopla não consideravam a fórmula nicena de fé intocável, mas sim um ponto de partida teológico sobre o qual poderiam trabalhar.
A consciência, expressa pelos Padres reunidos em Constantinopla, da historicidade do símbolo da fé produzido em Niceia é um excelente antídoto contra qualquer forma de absolutização das considerações teológicas sobre o mistério e, mais geralmente, contra a ideia de que o chamado "magistério" da Igreja seja imutável, indiscutível, sempre válido ou completamente intocável.
Consideradas globalmente (agora estendo a discussão a outras áreas, como a moral ou a organização das Igrejas), as tradições denominadas "magistério" da Igreja evoluíram, na realidade, ao longo dos séculos e até divergiram do Evangelho, mesmo em aspectos significativos. Algumas dessas tradições magisteriais chegam a se contradizer. O reconhecimento dessas evoluções e contradições deve ser francamente reconhecido e abordado.
Em suma, os Padres reunidos em Constantinopla conseguiram relativizar certas posições doutrinárias anteriores. Estou bem ciente de que hoje, em certos círculos, a ideia de relativizar até mesmo um único iota de aspectos teológico-doutrinários não goza de boa reputação.
No entanto, parece-me que os defensores de uma ideia tão intransigente estão esquecendo alguns fatos fundamentais. Foi Jesus de Nazaré quem primeiro relativizou os discursos daqueles em seu tempo que se acreditavam os detentores exclusivos da verdade sobre Deus e o próximo; e o fez de forma inequívoca, esclarecendo, por exemplo, que aqueles que fazem a vontade do Pai não são, ou correm o risco de não ser, o sacerdote ou o levita que desce de Jerusalém, mas sim aqueles que, aos olhos da maioria, são excomungados, hereges e rejeitados pelos "justos" da sociedade: os samaritanos, que supostamente não conhecem a Deus.
Aqueles que absolutizam doutrinas teológicas ou instituições eclesiásticas e as usam como razão "magisterial" para excluir e condenar os outros também se esquecem do que está escrito no prólogo do Evangelho de João: "Ninguém jamais viu a Deus. Somente o Filho unigênito o 'exaltou'", explicou-o, fez-o conhecer, mostrando seu rosto de amor absoluto ao gênero humano.
De resto, parafraseando a tradição filosófica francesa contemporânea, nunca devemos esquecer que nosso conhecimento é limitado, a ignorância em muitas questões permanece vasta e o mistério divino — para os fiéis — permanece inescrutável em outros aspectos. Para os fiéis, e portanto para a Igreja — refiro-me a toda Igreja, para além dos rígidos limites confessionais — a estrela-guia deve ser sempre o Evangelho, não o apego a meras tradições e teologias construídas ao longo dos séculos.
Relativização: isso também é ensinado pelos evangelhos canonizados, que incluem a palavra "segundo" em seus títulos: segundo Marcos, segundo Mateus, segundo Lucas, segundo João. Mesmo em relação a Jesus, os antigos cristãos reconheciam que não possuíam ou não podiam impor aos outros uma verdade absoluta em todos os pontos.
Em última análise, até mesmo a tentativa feita em Constantinopla em 381 de, de alguma forma, curar a crise ariana introduzindo um esclarecimento ("antes de todos os tempos") que Ário certamente teria assinado, se tivesse tido a oportunidade, é um testemunho histórico exemplar do fato de que pronunciamentos teológicos não são materiais intocáveis e, portanto, não podem e não devem ser usados como ferramentas para excluir aqueles que pensam diferente.
A Igreja antiga teve essencialmente que levar em conta a necessidade de relativizar estes aspectos, sobretudo quando a pretensão de possuir a verdade absoluta sobre Deus coloca em questão o núcleo central da fé – o Evangelho – e, portanto, o que foi realizado e ensinado por Jesus de Nazaré.
Em última análise, saber o que realmente aconteceu em Niceia e Constantinopla no século IV nutre profundamente a vida espiritual, mas também é uma vacina potencialmente muito eficaz contra qualquer teologia que se afirme o repositório exclusivo da verdade. Nisso reside a inquestionável utilidade do conhecimento histórico desses eventos.
Notas
[1] Em Niceia, tentou-se definir a filiação divina de Cristo ao Pai Todo-Poderoso sem prejudicar a fé fundamental na unicidade de Deus. O símbolo estabelecido em Niceia, contudo, fracassou a curto prazo, de modo que a crise ariana, em vez de encontrar uma solução, acabou explodindo em um acalorado debate doutrinário. Somente após várias décadas de acirradas polêmicas teológicas e repetidas tentativas de mediação, uma nova assembleia, em Constantinopla, em 381, tentou resolver a controvérsia revisando o credo estabelecido em Niceia em muitos aspectos. Entre outras coisas, especificou-se que Cristo havia sido gerado "antes de todos os séculos": uma afirmação que poderia ser interpretada em mais de um sentido e, portanto, capaz de satisfazer diferentes sensibilidades teológicas. A mesma assembleia também se pronunciou detalhadamente sobre o Espírito Santo, cuja divindade era reconhecida em pé de igualdade com o Pai e o Filho, mas sem usar a palavra "deus".
[2] Pude antecipar uma série de resultados sobre o gênero literário da obra em uma obra recente: E. Castelli, «Contra os transgressores dos “Cânones apostolorum”: gênero literário e finalidade do “Liber pontificalis” romano», em Cristianismo na história. Pesquisa histórica, exegética e teológica 2/2024, pp. 443-492.
Leia mais
- Niceia 325: o grande e santo Sínodo. Artigo de Vincenzo Bertolone
- A escolha de retornar a Nicéia, onde o primeiro Concílio deu o Credo à Igreja. Artigo de Silvia Ronchey
- Niceia e nós. Artigo de Heiner Wilmer
- Bartolomeu marca 30 de novembro como a possível visita de Leão XIV a Niceia
- Que tipo de concílio foi o Concílio de Niceia? Entrevista com Giovanni Filoramo
- A escolha de retornar a Nicéia, onde o primeiro Concílio deu o Credo à Igreja. Artigo de Silvia Ronchey
- O diálogo entre as Igrejas (e o novo curso) é medido em Niceia. Artigo de Alberto Melloni
- 1.700 anos de Niceia. Quem é o 'kurios'? Artigo de Flávio Lazzarin e Cláudio Bombieri
- O Concílio de Niceia 1.700 anos depois
- Uma regra, uma fé. A virada de Niceia. Artigo de Paolo Mieli
- Pensando no Filho de Deus, 1.700 anos depois de Niceia. Artigo de Jean Paul Lieggi
- Voltar a Niceia, como irmãos
- Comunicação, Igreja e Jubileu: uma relação inédita em um evento histórico. Artigo de Moisés Sbardelotto
- Papa abrirá uma Porta Santa do Jubileu de 2025 na prisão romana de Rebbibia
- Jubileu e indulgências: uma difícil releitura em tempo festivo do tempo laborioso. Artigo de Andrea Grillo
- Das indulgências à indulgência: o texto esquecido do Papa Francisco
- A esperança é a mensagem central do decreto do Papa Francisco para o Ano Jubilar de 2025
- A esperança do Jubileu. Artigo de Luigi Sandri
- Mártires, ecumenismo e jubileu. Artigo de Fulvio Ferrario
- Jubileu e indulgência
- O Papa volta à plena atividade. E olha para o Jubileu de 2025
- No consistório o roteiro do Vaticano para o Jubileu de 2025: "Os tempos estão se esgotando e precisamos nos apressar"
- Em 2025, o próximo ano jubilar da Igreja: o anúncio do Papa Francisco
- Conheça o logo do Jubileu de 2025
- Logo do Jubileu de 2025: “Mas é um Gay pride?”. Aqui está o significado do símbolo. Quem a escolheu? O Papa Francisco
- Francisco convoca o Jubileu 2025 clamando pela paz: 'É sonhar demais que as armas se calem e parem de causar destruição e morte?'
- O sonho do Papa para o Jubileu: silenciar as armas e abolir a pena de morte e perdoar as dívidas dos pobres
- O Papa pede “coragem para construir um mundo fraterno e pacífico, quando parece que não vale a pena comprometer-se”





