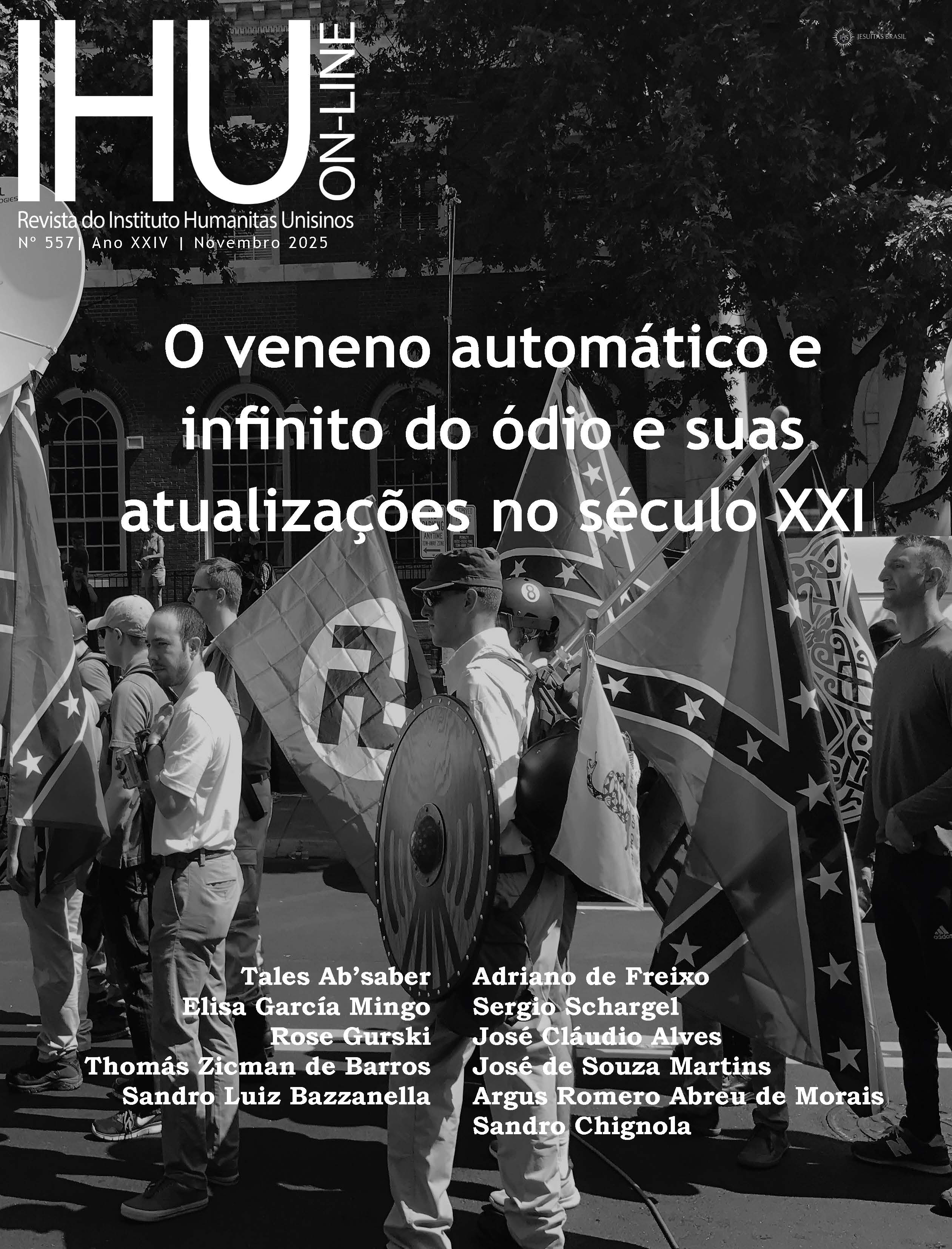21 Novembro 2025
"Devemos reconhecer a natureza dessa revolução "documedial", na qual o capital não produz mais mercadorias ou finanças, mas registros digitais que reconfiguram a realidade social. Somos uma espécie tecno-humana que desde sempre habita o mundo transformando-o".
A opinião é de Paolo Benanti e de Sebastiano Maffettone, em artigo publicado por Corriere della Sera, 17-11-2025. A tradução é de Luisa Rabolini.
Paolo Benanti é teólogo italiano e franciscano, além de professor da Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma, e acadêmico da Pontifícia Academia para a Vida. Em português, é autor de Oráculos: Entre ética e governança dos algoritmos (Unisinos, 2020).
Sebastiano Maffettone é filósofo italiano e professor de Filosofia Política na Universidade LUISS Guido Carli, em Roma, onde dirige o Centro de Ética e Política Global. Preside a Escola de Jornalismo Massimo Baldini.
Eis o artigo.
Que a digitalização progressiva dos nossos âmbitos vitais acarrete mudanças drásticas no mapa do poder econômico e político parece evidente para a maioria. A primeira consequência disso é tentar compreender onde está o núcleo dessa mudança e como possa ser, de alguma forma, governado. Se aceitarmos essa premissa razoável, o primeiro problema passa a ser identificar o foco do novo poder digital. O debate contemporâneo sobre o assunto corre o risco de gerar muita confusão. Por um lado, somos alertados contra as tendências hipercapitalistas, como o "capitalismo da vigilância" analisado por Shoshana Zuboff ou a "psicopolítica" descrita por Byung-chul Han. Por outro, surgem propostas de welfare digital, como o "webfare" teorizado por Maurizio Ferraris, que visam restaurar valor coletivo à nossa produção de dados. Tal polarização, em nossa opinião, corre o risco de obscurecer uma questão ontológica mais profunda e filosoficamente crucial. Na verdade, estamos focando no alvo errado. O poder hoje não reside primeiramente nos dados em si, mas na capacidade transformadora da computação.
Analisando mais atentamente, o paradigma crítico dominante cristalizou-se em torno de uma visão dos dados como o "novo petróleo". Zuboff descreve como a experiência humana é expropriada e transformada em dados comportamentais; Han analisa como os Big Data penetram na psique para fins de controle; Ferraris, justamente, defende sua redistribuição. Contudo, todas essas abordagens permanecem ancoradas na ideia de que os dados são a essência do problema.
A distinção crucial, como observa o jurista Massimo Durante, entre outros, é que, ao contrário, o verdadeiro "petróleo" não são os dados, mas o poder de utilizá-los e inseri-los em uma estrutura de cálculo. Os dados, em si, são inertes. Adquirem valor e poder somente no momento em que são processados, transformados e correlacionados por algoritmos que extraem previsões, padrões e, sobretudo, possibilidades de ação.
É aqui que entra em jogo o conceito de "vis trasformativa" do ambiente computacional. Não se trata simplesmente de uma capacidade quantitativa de processar enormes volumes de informação, mas de um dado qualitativo: o exercício desse poder altera a própria maneira como interagimos e moldamos o mundo.
Essa transformação opera em diversas direções. Primeiro, o poder computacional não se limita a observar nossos comportamentos, mas os reconfigura ativamente. Os algoritmos não são ferramentas neutras de análise, mas dispositivos que exercem poder sob a pretensão de adaptar a realidade — e nossa representação dela — ao modo de funcionamento das tecnologias.
Consequentemente, é o próprio mundo que se adapta para se tornar “legível pelas máquinas”. Parece-nos que a realidade esteja sendo cada vez mais definida pelo software. Carros autônomos, só para citar um exemplo, requerem estradas “preparadas” para suas exigências, se quisermos que circulem com eficiência e segurança. E, ainda no âmbito dos carros, para entender a primazia do software, basta considerar que já não compramos mais carros como objetos, mas como licenças de uso para funcionalidades de software.
O problema não é dessa forma constituído pela "datacracia", o poder baseado na posse dos dados, mas sim numa muito mais invasiva "algocracia": um sistema no qual o poder de decisão é delegado aos algoritmos e, portanto, ao software. Não se trata de possuir informações, mas de dispor da infraestrutura computacional que as transforma em ação, previsão e controle.
Essa dimensão infraestrutural é decisiva. Controlar as arquiteturas, as plataformas e a nuvem significa possuir uma alavanca estratégica capaz de reconfigurar as hierarquias entre estados, empresas e blocos geopolíticos. É precisamente aqui que se insere um alerta crucial para a democracia: o advento da Inteligência Artificial torna tênue a linha divisória entre o cálculo pessoal, realizado nos nossos dispositivos, e aquele centralizado na nuvem. Já não sabemos mais o que é decidido localmente e o que nos é imposto por uma oligarquia da nuvem.
Diante desse cenário, as soluções geralmente propostas parecem inadequadas. Como já dissemos, as críticas ao capitalismo da vigilância, embora corretas, permanecem centradas nos dados. As propostas de “webfare”, tentando redistribuir o valor econômico dos dados, deixam intacta a concentração do poder computacional nas mãos de quem controla as infraestruturas algorítmicas. Uma resposta eficaz exige uma mudança de foco: devemos governar não apenas a propriedade dos dados, mas a governança do próprio poder transformador. Isso significa democratizar a infraestrutura computacional, não apenas restituir valor aos dados. Significa exigir transparência e um "direito à explicação" para as transformações algorítmicas a que somos submetidos. Em suma, devemos reconhecer a natureza dessa revolução "documedial", na qual o capital não produz mais mercadorias ou finanças, mas registros digitais que reconfiguram a realidade social. Somos uma espécie tecno-humana que desde sempre habita o mundo transformando-o. A descontinuidade atual reside no fato de que, pela primeira vez, estamos delegando essa capacidade de transformação a agentes artificiais.
Essa revolução, tanto mais profunda quanto mais despercebida, exige que repensemos as formas do poder. O debate deve evoluir: dos dados como substância para a computação como processo; da posse das informações para o controle da infraestrutura que as torna operacionais; da distribuição do valor para a democratização da própria capacidade de transformar os dados em ação, conhecimento e, em última instância, mundo.
Leia mais
- A impossível democracia em um mundo mediado pelas Big Techs. Entrevista especial com Rafael Evangelista
- "Tecnologia sem ética é a verdadeira inovação deste século". Artigo de Corrado Augias
- No mundo dominado pela tecnologia, ser viandante é a única ética possível. Artigo de Umberto Galimberti
- É a era da tecnologia que apagou história e memória. Artigo de Umberto Galimberti
- "Tecnologia sem ética é a verdadeira inovação deste século". Artigo de Corrado Augias
- “Vivemos uma ruptura civilizatória”. Entrevista com Éric Sadin
- Desafios da IA: as tecnologias do mundo industrial moderno, transformações na subjetividade e resistências
- A IA pode nos manipular, mas não nos persuadir: o que aprendi como eticista de tecnologia
- Tecnologia: o lado obscuro da “nuvem”. Artigo de Maximilian Jung
- A nuvem da internet cai, todos nós caímos. Artigo de Esther Paniagua
- Origem e limites do Capitalismo de Vigilância
- Capitalismo de vigilância. Artigo de Antônio Sales Rios Neto