09 Setembro 2023
"O que é certo é que o universo tecnológico, ao cancelar toda meta e, portanto, toda visualização do mundo a partir de um sentido último, não entra no jogo da estabilidade e da definitividade e, portanto, liberta o mundo como novidade absoluta e contínua, porque não há evento já inscrito numa trama de sensatez que prejudique o seu desmotivado acontecer. Nesse novo contexto, anuncia-se uma liberdade diferente, não mais aquela do soberano que domina o seu reino, mas aquela do viandante que, em última instância, nem sequer domina o seu caminho", escreve Umberto Galimberti, filósofo, antropólogo e psicólogo italiano, em seu novo livro, L'etica del viandante (Itália: Feltrinelli Editore, 2023). O fragmento da obra foi publicado por La Stampa, 05-09-2023. A tradução é de Luisa Rabolini.
Eis o texto.
Se a tecnologia não nos permite pensar a história como inscrita num fim, a única ética possível é aquela que assume a pura processualidade, que, tal como o percurso do viandante, não tem uma meta em vista.
O imperativo ético não pode ser deduzido de uma normatividade ideal, como sempre foi desde os tempos de Platão até o limiar da era da tecnologia, mas daquela factualidade incessante e sempre renovada que são os efeitos do fazer tecnológico. Não mais o “dever” que prescreve o “fazer”, mas o “dever” que deve perseguir e acertar as contas com os efeitos já produzidos pelo “fazer”. Mais uma vez é a ética que deve correr atrás da tecnologia e que deve se confrontar com a sua própria impotência prescritiva.
O fato de a tecnologia ainda não ser totalitária, o fato de quatro quintos da humanidade viverem de produtos tecnológicos, mas ainda não de mentalidade tecnológica, não deve nos confortar, porque o passo decisivo rumo ao “absoluto tecnológico”, rumo à “máquina mundial”, já o fizemos, mesmo que a nossa condição psicológica ainda não tenha internalizado este fato, portanto não esteja à sua altura.
O que é certo é que o universo tecnológico, ao cancelar toda meta e, portanto, toda visualização do mundo a partir de um sentido último, não entra no jogo da estabilidade e da definitividade e, portanto, liberta o mundo como novidade absoluta e contínua, porque não há evento já inscrito numa trama de sensatez que prejudique o seu desmotivado acontecer. Nesse novo contexto, anuncia-se uma liberdade diferente, não mais aquela do soberano que domina o seu reino, mas aquela do viandante que, em última instância, nem sequer domina o seu caminho.
Entregue ao nomadismo, o viandante leva adiante os seus passos, mas não mais com a intenção de encontrar algo: casa, pátria, amor, verdade, salvação. Mesmo esses cenários tornaram-se instáveis, não mais metas da intenção ou da ação humana, mas dádivas da paisagem que tornou o viandante sem uma meta, porque a própria paisagem é a meta, basta percebê-la, senti-la, acolhê-la na ausência desorientadora do seu ser sem fronteiras.
Ao contrário do viajante que, mesmo quando se desloca, nunca sai do seu mundo habitual e, portanto, dos seus hábitos, o viandante nos convida a nos expor ao insólito onde é possível descobrir, mas apenas por uma noite ou por um dia, como o céu se estende sobre aquela terra, como a noite desdobra no céu constelações desconhecidas, como a religião reúne esperanças, como a tradição gera povo, a solidão gera deserto, a inscrição gera história, o rio gera meandro, a terra gera sulco, naquela rápida sequência com a qual se sucedem as experiências de mundo que escapam a qualquer tentativa que tente fixá-las e organizá-las em sucessão ordenada, porque, para além de qualquer projeto orientado, o viandante sabe que a totalidade é elusiva, que o contrassenso contamina o senso, que o possível excede a realidade e que todo projeto que tenta a compreensão e o abraço total é uma loucura.

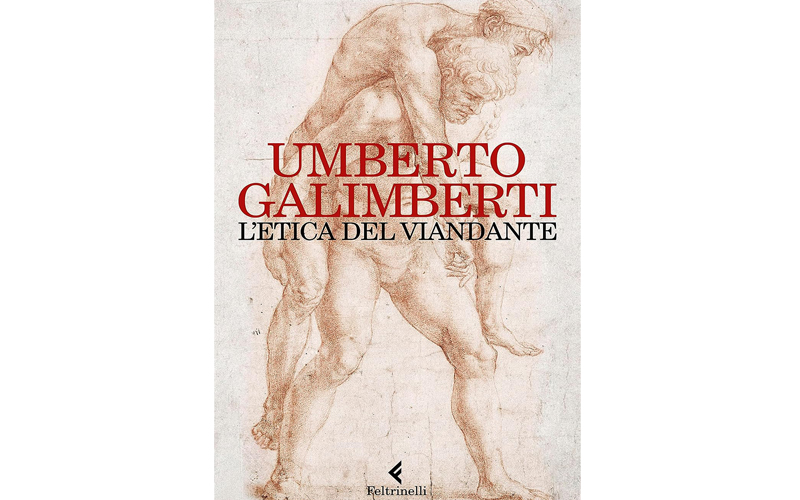
(Foto: Divulgação)
Caminhando sem uma meta no horizonte para não perder as figuras da paisagem, o viandante descobre o vazio da lei e o sono da política que ainda não descobriram que todos os homens são homens de fronteira. Aqui reside a abismal diferença entre o viandante e o viajante que, tendo em vista apenas a meta, não conhece o intervalo entre o início e o fim. Para quem quer chegar, para quem visa as coisas últimas, mas também para quem visa as metas próximas, a viagem é nada.
As terras que ele atravessa não existem. Só conta a meta. Ele viaja para chegar, não para viajar. Assim a viagem morre durante a viagem, morre em cada etapa que o aproxima da meta. E com a viagem morre a experiência que o caminho descortina para o viandante, que sabe habitar a paisagem e, ao mesmo tempo, sabe se despedir da paisagem. A escatologia religiosa e o planejamento secular inauguram um viajante que trata os lugares que encontra como lugares de trânsito, etapas que o aproximam da meta. Para ele, os lugares tornam-se entrelugares à espera daquele Lugar que é a própria meta: a pátria reencontrada, a vida realizada, a estabilidade alcançada. Seus ouvidos estão surdos às vozes dos lugares, porque as sereias da meta e do retorno apagaram todo assombro, todo espanto, toda dor.
A espera do Reino reduziu o caminho a um interregno, terra de ninguém antes das coisas últimas, ainda que naquela terra de ninguém passamos, aliás, a nossa vida, que não é uma corrida em direção à meta, mas um espaço concedido ao ser humano como sua terra que não é pátria, mas simples caminho que serpenteia entre os escombros de templos desmoronados e no silêncio de oráculos e profecias.
Não mais Odisseia com uma Ítaca que faz de cada lugar uma simples etapa no caminho de retorno, mas Odisseia como retomada da viagem, segundo a profecia de Tirésias, para quem é o leito escavado na oliveira em torno do qual o palácio foi construído que se torna uma etapa no sucessivo caminhar. Um caminhar que Dante retoma, ele mesmo viandante, empurrando o seu Ulisses “de além do sol e o mundo ver, que jaz órfão de gente”, para quem nem o nascer nem o pôr do sol podem mais indicar não só a meta, mas também a direção.
Libertar-se da meta significa abandonar-se à corrente da vida, não mais espectadores, mas navegantes e, em alguns casos, como o Ulisses de Dante, náufragos. Nietzsche, que talvez do nomadismo seja o melhor intérprete, escreve o seguinte: “Se trago em mim essa paixão investigadora que impele a vela para a terras desconhecidas; se há na minha paixão um tanto da paixão do navegante, se alguma vez a minha alegria exclamou: desapareceu a terra - caiu agora a minha última cadeia -, em meu redor agita-se a intensidade sem limites; longe de mim cintilam o tempo e o espaço; vamos! Coragem, velho coração!"
O apelo a o coração diz que estamos além dos territórios presididos pelo nosso Ego, mas essa ulterioridade fala coisas mais profundas do que permite imaginar o uso de uma terminologia psicológica. Para o nosso Ego, viver significa aderir a um sentido, ou melhor, “conferir sentido”. Para o viandante significa apagar toda meta e, portanto, toda visualização do mundo a partir de um sentido último. O andar que salva a si mesmo cancelando a meta, assim inaugura uma visão de mundo que é radicalmente diferente daquela revelada pela perspectiva da meta que cancela o andar. No primeiro caso se adere ao mundo como a uma oferta de eventos onde se pode tomar morada temporária enquanto o acontecimento o concede, no segundo caso adere-se ao sentido antecipado que cancela todos os acontecimentos que, não percebidos, passam pelos homens sem deixar vestígio, puro desperdício da riqueza do mundo.
O homem da estabilidade não atravessado pelo evento em seu acontecer desmotivado é o homem defendido e fechado nos grossos muros da “sociedade da torre” de que fala Goethe, enquanto o viandante que acompanha o evento recusa qualquer esquema de progressão e significado para dizer sim ao mundo, e não a uma representação tranquilizadora do mundo. Renunciando a dominar o tempo, inscrevendo-o numa representação de sentido, o viandante que renunciou à meta sabe olhar na cara a indecifrabilidade do destino, recusando aquelas sobras da esperança irradiadas por um destino resolvido na benévola providência.
Leia mais
- O ser humano na era da técnica. Artigo de Umberto Galimberti. Cadernos IHU ideias, nº. 218
- Entrevista com Umberto Galimberti: “Minha vida acabou em 2008, vou lhes contar o porquê”
- A humanidade de Jesus frente ao sagrado, ao cristianismo, ao Ocidente. Entrevista com Umberto Galimberti
- Só Deus pode nos salvar? Diálogo entre Umberto Galimberti e Julián Carrón
- O sagrado, uma força que não dominamos. Artigo de Umberto Galimberti
- Quando a filosofia se renovou com o pensamento fraco de Vattimo. Artigo de Umberto Galimberti
- O psicanalista analisa o "vazio de sentido". "A técnica domina, a política não decide, os jovens consomem e ponto". Entrevista com Umberto Galimberti
- Inteligência artificial e ética: um estado da arte. Artigo de Paolo Benanti
- Universidades americanas abordam aspectos éticos da tecnologia
- Técnica e Ética no contexto atual. Artigo de Oswaldo Giacoia Junior
- Tecnologia e dilemas éticos
- Ética digital on e offline. Artigo de Luciano Floridi
- Um pacto entre ética e tecnologia: caso contrário, robôs e algoritmos mandarão nos seres humanos. Entrevista com Vincenzo Paglia





