“Para a Terra Santa, o caminho a percorrer apenas pode ser o traçado pelos acordos de Oslo de 1993”, ou seja, “aquela solução sábia dos dois Estados bem delimitados e de Jerusalém com um estatuto especial”, escreve o Papa na sua Autobiografia, que nesta terça-feira é posta à venda, com o título Esperança (edição Nascente). “Qualquer solução edificada sobre a vingança e a violência, pelo contrário, seja onde for, nunca poderá ser paz, e não fará senão espalhar novas sementes de ódio e ressentimento, geração após geração, numa cadeia infinita de prepotências.”
Nesta primeira autobiografia publicada por um papa, Francisco acrescenta ser “suficientemente velho para ter visto que a guerra “é sempre um caminho sem meta: não abre perspectivas, não resolve nada, gangrena tudo, e deixa o mundo pior do que o encontrou”. E conclui: “É uma irracionalidade criminosa.”
Publicado em várias línguas e em mais de 100 países, Esperança inclui fotografias privadas e inéditas. A editora diz que o livro deveria ter visto a luz apenas após a sua morte, mas o Jubileu que a Igreja Católica assinala durante este ano, e o tempo que vivemos, levaram-no a decidir pela difusão do livro agora.
O texto usa o humor, percorre a história da emigração dos seus avós de Itália para a Argentina, a sua infância e juventude e o seu percurso como padre e bispo até ao papado e à atualidade, cruzando as histórias com as reflexões que tece a propósito de temas como a guerra, migrações, crise ambiental, política social, condição da mulher, sexualidade, desenvolvimento tecnológico, futuro da Igreja e das religiões.
Escrito com a colaboração de Carlo Musso, ex-diretor editorial da Piemme, o livro é “o relato de um caminho de esperança”. Por isso, escreve Francisco: “Não fala unicamente do que foi, mas do que será. Parece que foi ontem, mas afinal é amanhã. Tudo nasce para florir numa eterna primavera. No fim, diremos apenas: não recordo nada em que Tu não estejas.”
O 7MARGENS, 14-01-2025, publica a seguir excertos do capítulo sobre a paz, onde o Papa conta alguns bastidores de iniciativas conhecidas e manifesta-se disponível para mediar conflitos em curso – nomeadamente o da Ucrânia. O subtítulo é da responsabilidade da Redação.
Nós não somos neutros: estamos do lado da paz.
Duas mulheres caminham juntas no anfiteatro que, no Jubileu de 1750, foi consagrado à memória dos mártires cristãos. Avançam no escuro, entre as tochas, numa fria noite de abril. São ambas jovens, ambas com longos cabelos louro‐castanhos, ambas envolvidas por uma capa negra, no enquadramento parecem não se distinguir uma da outra. Nenhuma das duas fala. Outros estabeleceram que devem considerar‐se inimigas, mas não é isso que Irina, enfermeira ucraniana, e Albina, especialista russa, escolheram para si. Permanecem juntas. Juntas repousam sob a Cruz, juntas a carregam. As sequelas de uma bronquite que me obrigou a um breve internamento hospitalar impedem‐me de estar presente na Via‐Sacra no Coliseu daquele ano, mas estou com eles; de Santa Marta, em oração, vejo no ecrã um duplo escândalo: o da Cruz e o da paz.
No início de 2022, a teia da terceira guerra mundial em pedaços alargou‐se a um novo cenário tremendo, transformando‐se cada vez mais em conflito global: pouco depois de ter reconhecido a independência da República Popular de Donetsk e a de Lugansk, os dois Estados autoproclamados na região de Donbass, as forças armadas da Federação Russa invadiram a Ucrânia, na madrugada de 24 de fevereiro. A guerra atingiu o coração da Europa e varreu as últimas ilusões acerca do "fim da história" que, vinte e quatro séculos depois de Tucídides, haviam acompanhado a queda do Muro de Berlim. Tal como em 1962, o ano da crise dos mísseis em Cuba, o mundo voltou a refletir‐se no espectro da destruição nuclear, sob a ameaça concreta de artefatos cuja posse deve ser considerada imoral.
Não era tempo para preocupações com protocolos ou formalidades. Ainda que, por norma, o pontífice apenas receba os embaixadores no momento em que apresentam as credenciais, na manhã seguinte à invasão cancelei todas as audiências e dirigi‐me pessoalmente à embaixada russa junto da Santa Sé. Era a primeira vez que um papa o fazia. O joelho não havia deixado de fazer das suas e, por isso, foi um papa claudicante que se apresentou ao embaixador Avdeev para exprimir toda a preocupação. Implorei o fim dos bombardeios, augurei o diálogo, propus uma mediação do Vaticano entre as partes, dizendo estar disposto a ir a Moscou o mais depressa possível, assim que Putin, com quem já me encontrara três vezes no decurso do pontificado, tivesse deixado aberta uma janelinha para negociar. O embaixador ouviu‐me com atenção, mas o ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergey Lavrov, escreveu-me mais tarde para me dizer, com cortesia institucional, que não era o momento.
Simultaneamente, telefonei ao presidente ucraniano, Zelensky, que depois receberia no Vaticano no ano seguinte e, mais uma vez, em outubro de 2024, para exprimir a minha dor, a minha solidariedade, a minha proximidade com o seu povo.
Estava e continuo à disposição, como um operário, disposto a fazer tudo o que servir o objetivo da paz; também por isso, única entre todas, a representação diplomática do Vaticano nunca deixou a sua sede na capital ucraniana, nem durante os mais brutais bombardeios.
O povo ucraniano não é apenas um povo invadido, é um povo mártir, perseguido já nos tempos de Josef Stalin com um genocídio por fome, o Holodomor, que causou milhões de vítimas. Nestes anos de conflito, a Santa Sé atuou de muitas maneiras para tentar aliviar os novos e enormes sofrimentos. As missões à Ucrânia do cardeal Czerny, na zona fronteiriça com a Hungria, e do cardeal Krajewski, junto à Polônia, foram de imediato a expressão concreta de solidariedade e de empenho. E, igualmente, a viagem de monsenhor Gallagher, Secretário para as Relações com os Estados, e as missões não apenas aos dois países, mas também a Washington e a Pequim, do cardeal Zuppi, que investiu de uma forma particular no regresso a casa das crianças deportadas para a Rússia pelas autoridades de ocupação, para as quais foi criado um mecanismo ad hoc para resolver casos concretos. Eu próprio intervim para facilitar as trocas de prisioneiros entre Moscou e Kiev, em primeiro lugar, por aqueles feridos ou doentes e, dois anos após o início do conflito, encontrei também o novo embaixador russo junto da Santa Sé, Soltanovsy, na busca constante de uma solução diplomática.
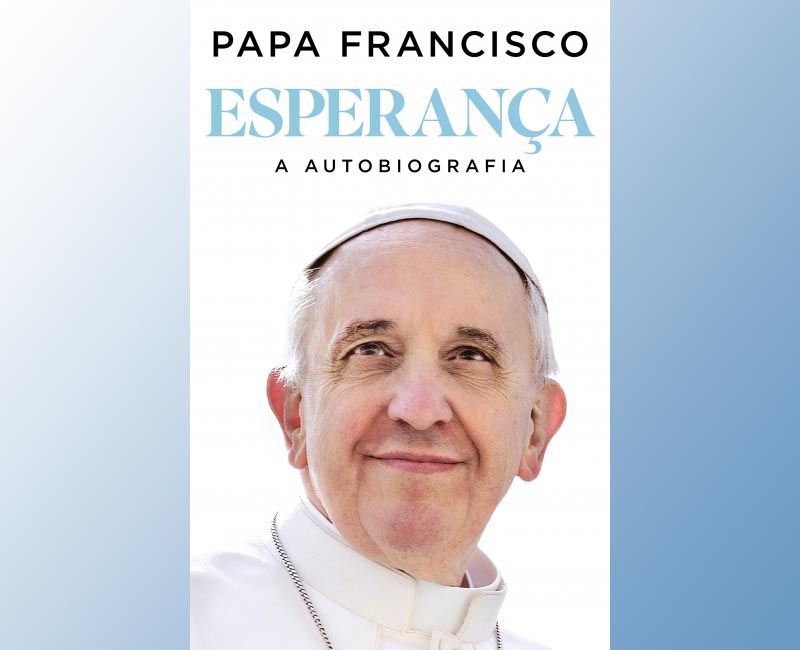
Reprodução da capa do novo livro do Papa Francisco
Porém, sei que não basta: todos devemos multiplicar os esforços, a partir das comunidades europeia e internacional, que devem assumir a tarefa eficaz de identificar caminhos para o diálogo, as negociações, a mediação. Sabemos que não é possível obter resultados a qualquer custo, mas devemos também saber como é grande a responsabilidade de todos. Os interesses imperiais, de todos os impérios, não podem, uma vez mais, ser postos à frente das vidas de centenas de milhares de pessoas. Demasiados órfãos, demasiadas viúvas, demasiados deslocados e demasiados escombros: (…) Kiev, Kharkiv, Mariupol, Izjum, Bucha são cidades mártires, mapa de horrendas crueldades cometidas contra civis indefesos, mulheres, crianças, vítimas cujo sangue inocente brada aos céus, implorando: "Basta! Basta desta loucura!" No início dos bombardeios a Kharkiv, até o jardim zoológico foi teatro da devastação: (…) Um rapazinho disse ter visto um exemplar de lobo vermelho a revolver um caixote de lixo: fixaram‐se nos olhos, contou, ambos imóveis, ambos perturbados e ambos certos que o mundo havia enlouquecido.
O caminho da paz tem os seus riscos, é certo, mas comporta riscos infinitamente maiores o caminho das armas, a compulsão para repetir uma eterna corrida aos armamentos que contamina a alma e subtrai enormes recursos a utilizar para combater a desnutrição, para garantir tratamentos médicos a todos, para edificar a justiça, em suma, para entrar verdadeiramente na única via que pode evitar a autodestruição da humanidade. Anton Tchékhov dizia que se num romance aparece uma pistola, convém que dispare, ilustrando assim um princípio fundamental em qualquer narração romanesca e teatral. O mesmo acontece na vida, na das sociedades, onde o número de armas de fogo em circulação é proporcional ao dos mortos assassinados, e na dos Estados.
Atualmente, existem 59 guerras em curso no mundo: conflitos declarados entre nações ou grupos organizados, étnicos, sociais. Algumas são menos mediáticas, mas nem por isso menos terríveis: penso em Kivu, no Iêmen, em Mianmar com os Rohingya, na região de Karabakh no Cáucaso, na de Tigray na Etiópia. No total, dizem respeito diretamente a quase um terço das nações do planeta, e a um número muito maior de maneira indireta. Por vezes, são mesmo chamadas hipocritamente "operações de paz".
É assim há muito, há demasiado tempo.
Esta consideração deveria bastar para desmascarar a insensatez da guerra como instrumento de resolução dos problemas: é apenas uma loucura que enriquece os mercadores de morte e que os inocentes pagam. Se não se fabricassem armas durante um ano, a fome no mundo acabaria por completo, um só dia sem despesas militares salvaria 34 milhões de pessoas, mas, em vez disso, escolhe‐se aumentar as despesas militares tal como nunca acontecera… e fabricar a fome.
Sou suficientemente velho para ter visto, com os meus próprios olhos, que a guerra é sempre um caminho sem meta: não abre perspectivas, não resolve nada, gangrena tudo, e deixa o mundo pior do que o encontrou. É uma irracionalidade criminosa a que hoje mais do que nunca é necessário contrapor o aviso profético do Papa João XXIII na encíclica Pacem in Terris: à luz da terrificante força destrutiva das armas modernas e de dezenas de milhares de bombas nucleares, agora quarenta vezes mais destrutivas do que as de Hiroshima e Nagasaki, é ainda mais evidente que as relações entre os Estados devem ser reguladas, não pela força armada, mas segundo os princípios da razão reta, isto é, da verdade, da justiça e de uma vigorosa cooperação.
No entanto, face a esta manifesta irracionalidade, a palavra "paz" parece ter‐se tornado nestes tempos ainda mais incômoda, por vezes, proibida, e os artesãos da paz e da justiça olhados mesmo com desconfiança, atacados quase como se fossem cúmplices do "inimigo" por uma comunicação que mostra deste modo que nem consegue fugir com o pensamento à "lógica ilógica" e perversa da guerra, e que talvez gostasse que a Igreja utilizasse a linguagem desta ou daquela política, e não a de Jesus ou fazer de um papa o capelão militar do Ocidente, em vez do pastor da Igreja universal.
Por vezes, nada parece despertar mais escândalo do que a paz…
Não obstante, não podemos rendermo‐nos, não podemos cansarmo‐nos de lançar sementes de reconciliação. Não podemos ceder nem à retórica nem à psicose belicista, pois o destino da humanidade não pode ser o de construir reinos armados até aos dentes que se enfrentam no medo.
É verdade, muitas vezes, a Igreja é vox clamantis in deserto (Marcos 1,3), uma voz que clama no deserto: basta pensar nos últimos 30 anos, nos apelos não atendidos de João Paulo II face à iminência da guerra na Iugoslávia ou dos dois conflitos no Golfo, na sua profecia então não ouvida e que depois se revelou dramaticamente verdadeira, demasiado tarde reconhecida por todos. Após meio milhão de mortos inúteis, no último caso. Porém, devemos cultivar a certeza de que cada semente de paz dará o seu fruto. (…)
Uma nova barbárie começada com o atentado de 7 de outubro de 2023, quando as milícias do Hamas atravessaram as barreiras que dividem a Faixa de Gaza de Israel e mataram militares e civis israelenses. Mais de mil pessoas foram mortas, e da maneira mais diabólica e brutal, nas suas casas ou quando tentavam escapar, e muitas outras foram feitas reféns, entre as quais, mulheres, jovens, rapazes e crianças. Perdi também amigos argentinos naquela carnificina, uma dupla dor, pessoas que conhecia há anos e que viviam num kibutz na fronteira com Gaza.
E depois, àquele desgosto, àquela barbárie, juntou‐se uma outra, enorme, causada pelos soldados israelenses: dezenas de milhares de mortos inocentes, em grande parte, mulheres e crianças, centenas de milhares de deslocados, de casas destruídas, de pessoas a um passo da penúria.
Estou desde sempre em contato constante com Gaza e com a igreja da Sagrada Família, de que é pároco o padre Gabriel Romanelli, também ele argentino.
Até aquele recinto paroquial, que alberga famílias e pessoas doentes, se tornou teatro de morte. Uma mãe, a senhora Nadha Khalil Anton, e a sua filha Samar Kamal, que era a cozinheira da casa das crianças com deficiência assistidas pelas irmãs de Madre Teresa, foram mortas a tiro por um atirador do exército israelense quando se dirigiam para o convento das freiras, uma morta quando procurava salvar a outra. Outros também foram atingidos a sangue‐frio próximo da paróquia, uma pequena comunidade cristã que chora já a perda de mais de vinte pessoas. Também isto é terrorismo. A guerra que mata civis indefesos e desarmados, até voluntários da Cáritas empenhados na distribuição de ajuda humanitária, que martiriza sem trégua a população civil, que mata de fome, produz um idêntico e insensato terror.
A partir de Gaza, o conflito alargou‐se ainda mais, expandindo‐se da Palestina para a Síria, para o Irã, para o Líbano, acrescentando vítimas a vítimas e refugiados a refugiados.
Centenas de milhares. Na vergonhosa incapacidade da comunidade internacional e dos países mais poderosos de porem fim a este massacre, a onda de ódio transformou‐se numa onda gigantesca de violência. O sangue que corre aumenta o medo e a raiva e, ao mesmo tempo, o desejo de vingança, numa espiral criminosa que se alimenta em vórtices, mordendo o próprio futuro com as suas mandíbulas. Na cidade de Tiro, a poucas dezenas de quilômetros de Beirute, o convento franciscano da Custódia da Terra Santa tornou‐se um centro de refugiados, sem diferenças de cor ou religião, um número que já não se conseguia contar. Pouco antes de o abandonar, juntamente com a caravana de refugiados, levando consigo as relíquias e o Santíssimo Sacramento para a capital, o pároco, padre Toufic Bou Merhi, lançou uma comovente e dramática invocação durante a missa, dirigindo‐se diretamente às armas: "Caríssima bomba, por favor, deixa‐nos em paz. Querido míssil, não explodas. Não obedeças à mão do ódio. Exorto‐vos, pois outros ouvidos foram tapados, e os corações dos responsáveis endureceram, e a brutalidade no trato entre as pessoas espalhou‐se, por isso ouçam‐me, eu vos imploro. Chamam‐vos bombas inteligentes, sejam mais inteligentes do que aqueles que vos estão a usar." Não sobrou ninguém para matar, disse ele. Famílias exterminadas. Em Sila, uma menina de seis anos ficou sem pai, sem mãe, sem a irmã de um ano e meio, sem avô, sem avó, sem tio e família. Na véspera daquela homilia, um míssil destruiu nove casas a 50 metros do convento. As pedras caíram no pátio onde estavam os refugiados. Terror, gritos, choros, medo misturaram‐se com o sangue dos feridos. (…)
Há algum tempo mostraram‐me um desenho, que retratava o eterno conflito afegão. Mostrava o perfil de um menino mutilado, com uma linha pontilhada em vez do rosto. Uma inscrição dizia: "Se quereis saber o que é a guerra, colocai aqui a fotografia do vosso filho." É isto a guerra, o terror, que não é captado pelas câmaras dos drones, mas nas enfermarias dos hospitais de campanha: em Cabul como em Kiev, num kibbutz como em Gaza. Pensar em todas as crianças como nos próprios filhos é o antídoto para a desumanização que transforma todos os justos apelos de existência num conflito cada vez mais sangrento para a inexistência do outro.
Nenhuma salvação poderá ser construída com palavras e gestos de vingança; a vida apenas poderá ser construída com palavras e gestos de justiça, que renunciem à humilhação do adversário.
Encontrei mais de uma vez no Vaticano os familiares dos reféns israelenses e os familiares das vítimas de Gaza, e vi o mesmo desejo de paz, de serenidade e de justiça.
Encontrei os pais de dois adolescentes, um israelense e o outro palestino, que perderam as suas filhas por causa da guerra, uma de catorze anos, vítima de um atentado, e a outra, de dez, morta por um soldado à saída da escola, e vi uma idêntica dor e uma mesma escolha: enterrar o ódio para procurar uma outra via que não tornasse inútil o seu luto. Aqueles dois homens, aqueles dois pais, que passaram pela mesma crucificação, tornaram‐se amigos, testemunhas de que um outro mundo é possível; melhor, que é o único possível.
Para a Terra Santa, o caminho a percorrer apenas pode ser o traçado pelos acordos de Oslo de 1993, que permaneceram letra‐morta após o assassinato do primeiro‐ministro Yitzhak Rabin por parte de um extremista israelense, aquela solução sábia dos dois Estados bem delimitados e de Jerusalém com um estatuto especial. Qualquer solução edificada sobre a vingança e a violência, pelo contrário, seja onde for, nunca poderá ser paz, e não fará senão espalhar novas sementes de ódio e ressentimento, geração após geração, numa cadeia infinita de prepotências.
Em junho de 2014, no segundo ano do meu pontificado, juntamente com o então presidente israelense Shimon Peres, o palestino Mahmud Abbas e o patriarca Bartolomeo, plantamos nos jardins do Vaticano uma jovem oliveira, para invocar a paz no Médio Oriente.
Um pouco antes, estivera como peregrino na Terra Santa. Em Jerusalém, rezara diante do Muro das Lamentações e nos seus interstícios, tal como é costume, coloquei uma pequena folha, na qual escrevera em castelhano os versos do Pai Nosso: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden… perdoai‐nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido… Cada um de nós deve perdoar as ofensas de outrem, apenas assim seremos perdoados do mal. Depois, durante o trajeto para Belém, cruzei‐me com outro muro, aquele que separa israelenses e palestinos durante centenas de quiloômetros. (…) Foi em Belém que exprimi o desejo de que os líderes dos dois povos se encontrassem para realizarem um gesto significativo e histórico de diálogo e de paz, oferecendo como local de oração a minha casa no Vaticano.
O sonho de Belém completou dez anos. Em junho de 2024, quis comemorar aquele encontro convidando para os jardins todo o corpo diplomático e, em particular, os embaixadores de Israel e da Palestina, bem como o rabino e o secretário‐geral da mesquita de Roma: aquele arbusto já se tornou uma oliveira com mais de cinco metros de altura, e embora as armas não se tenham calado, embora continuemos a ver morrer tantos inocentes diante dos nossos olhos, e do modo mais cruel, milhares e milhares de palestinos e israelenses de boa vontade não desistem de esperar a chegada de um novo dia. Não devemos render‐nos, não devemos desistir de reclamar e construir relações de fraternidade, que antecipem a alvorada de um mundo em que todos os povos destruirão as suas espadas fazendo delas arados; e, ao mesmo tempo, hoje ainda mais do que ontem, devemos saber que a paz tem necessidade de corações transformados pelo amor de Deus, que desfaz os egoísmos e destrói os preconceitos. Tal como já proclamou João Paulo II, não há paz sem justiça, mas não há justiça sem perdão.
O perdão não é traição e não é fraqueza, pelo contrário. Tal como disse no meu discurso diante do Congresso dos Estados Unidos, em setembro de 2015, imitar o ódio e a violência dos tiranos e dos assassinos é a melhor maneira de tomar o seu lugar. Por sua vez, a nossa resposta deve ser de esperança e purificação, de paz e de justiça. (…)
Substituamos a covardia das armas pela coragem da reconciliação.
A guerra tem um nome feminino, mas não tem um rosto de mulher: precisamos do olhar das mães; precisamos da sua coragem. E precisamos de arquitetos que encarnem esta consciência e esta visão. Pois não podemos permitir que o novo papa precise de regar aquela oliveira por mais dez anos.
Aos homens e às mulheres de todas as regiões do mundo e, sobretudo, aos jovens, digo: não acreditem em quem diz que nada pode mudar ou que lutar pela paz é uma procura de ingénuos, de "boas almas". Não cedei a quem vos quer fazer acreditar que é lógico conduzir uma existência contra os outros ou sem os outros, contra os povos ou sem os povos. Aqueles que o defendem, fingem‐se fortes, mas são fracos. Talvez se finjam mesmo sábios, mas são loucos. (…)
Nós não confundimos agressor e agredido, e não negamos o direito à defesa: afirmamos com convicção que a guerra nunca é "inevitável" e que a paz é sempre possível. (…)
Nós não somos neutros: estamos do lado da paz.
Sabemos que a paz nunca será fruto dos muros, das armas apontadas. Sabemos que uma paz verdadeira e duradoura é uma consequência de uma economia que não mata, que não gera morte, que cultiva a justiça, que não se rende aos paradigmas tecnocráticos e à cultura do lucro a todo o custo. (…)
Oponhamos‐nos aos ladrões do futuro com a crença de que o único futuro possível pertence a mulheres e homens solidários e a povos irmãos, e que a única autoridade legítima é a que representa um serviço a esta causa, pois a autoridade que não é serviço é ditadura.
A guerra não é apenas o palco das mentiras, dado que as mentiras a precedem e a acompanham e a verdade é a sua primeira vítima: a guerra é, por si só, uma mentira. Não é por acaso que num escrito seu com o título exemplar, Arrependei‐vos!, o escritor Lev Tolstói relaciona‐a com "o mal mais assustador do mundo, a hipocrisia. Não foi em vão que Cristo se enfureceu uma única vez, e essa vez foi precisamente pela hipocrisia dos fariseus".
A verdade é que não pode haver futuro senão no realismo, na razoabilidade, na concretude dos que semeiam paz e esperança.