12 Março 2021
Dez anos após acidente nuclear no Japão, analista político e autor japonês Sabu Kohso fala sobre lições que podem ser tiradas da tragédia tripla e o futuro pós-pandemia.
11 de março de 2011: um terremoto de magnitude de 9,1, um tsunami com ondas de mais de 10 metros de altura e o maior acidente nuclear do século 21. Dez anos atrás, a tragédia tripla assolou a província japonesa de Fukushima.
11 de março de 2020: a Organização Mundial da Saúde (OMS) declara a pandemia de covid-19, que se tornou o maior desafio global de saúde pública ainda em curso.
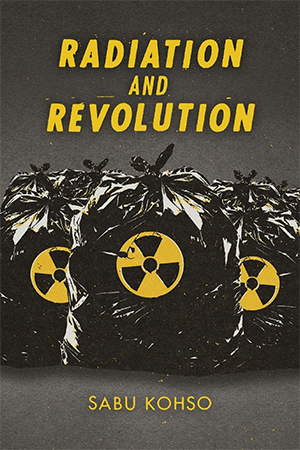
Radiation and Revolution
Para o analista político e ativista anticapitalismo Sabu Kohso, não estamos vivendo uma mera sucessão de crises, mas uma sinergia de desastres que derivam do modelo de desenvolvimento capitalista, que, a despeito dos impactos ecológicos, segue pautado pela exploração do planeta.
"Tanto a radiação quanto a pandemia nos afetam fatalmente", diz Kohso, japonês radicado em Nova York e autor do livro Radiation and Revolution, que trata da relação entre energia nuclear, ordem global e resistência da sociedade civil. É, nas suas palavras, "um livro que busca esperança na escuridão".
Em entrevista à DW Brasil, Kosho fala sobre os impactos internacionais da tragédia tripla de Fukushima e o futuro pós-pandemia.
Sabu Kohso é um crítico político e social, tradutor e ativista de longa data na luta global e anticapitalista. Nativo de Okayama, Japão, Sabu vive em Nova York desde 1980. Ele publicou uma série de livros em japonês sobre espaço urbano e lutas populares em Nova York, bem como um livro sobre filosofia do anarquismo planetário. Seu primeiro livro em inglês é Radiation and Revolution (Duke University Press, setembro de 2020).
A entrevista é de Juliana Sayuri, publicada por DW Brasil, 11-03-2021.
Eis a entrevista.
Diante da pandemia de covid-19 e dos desafios ambientais atuais, que lições tiramos de Fukushima?
A lição é difícil. Tanto o desastre nuclear quanto a pandemia são derivados da incontrolabilidade do modo de desenvolvimento capitalista. O que realmente estamos enfrentando não é a sucessão de um desastre após o outro, mas uma sinergia de desastres acumulados no horizonte planetário. Radiação e pandemia nos afetam fatalmente, mas de maneiras ontologicamente opostas: enquanto a contaminação por radiação modifica nossos genes aos poucos, a pandemia devora nossas células no tempo mais imediato, a partir de nossos contatos corporais. A radiação perturba nosso relacionamento com o planeta; a pandemia nos força a interromper interações sociais. Isto é, perdemos a confiança nas duas relações fundamentais que constituem nosso ser.
Giappone, terremoto 2011: la scossa infinita e poi lo tsunami sull'aeroporto nel video di dieci ann… https://t.co/8Gmfvlaw6P via @repubblica
— IHU (@_ihu) March 11, 2021
Em resposta a ambas, articularam-se forças para manter os negócios como sempre: no caso da radiação, um neonacionalismo japonês que incitou pessoas a comerem alimentos provavelmente contaminados como gesto heroico de patriotismo; no caso da pandemia, um neofascismo norte-americano que se recusa a usar máscaras como parte do movimento Make America Great Again, liderado pelo próprio ex-presidente [Donald Trump] e ancorado na mais vulgar ideia de "liberdade".
Em última instância, a lição é que hoje a ideia de mudar o mundo não pode mais pressupor uma revolução dentro de um mundo pautado pela ideia de progresso infinito. O que seria então uma revolução? Uma transformação de todos os territórios existenciais: corpo e mente individuais, relações sociais e meio ambiente, muito além da política tradicional.
O livro Radiation and Revolution destaca respostas de movimentos sociais e da sociedade civil ao desastre de Fukushima em 2011. Uma década depois, quão articuladas estão essas mobilizações?
Nos primeiros anos, tivemos um aumento dramático de movimentos de protesto contra a energia nuclear e movimentos para proteger o trabalho reprodutivo dos impactos da radiação. Os últimos foram especialmente importantes para mostrar à sociedade o papel indispensável de trabalhadores reprodutivos [termo que se refere a todo tipo de trabalho envolvido na reprodução humana, da gravidez a cuidados domésticos, historicamente executados principalmente mulheres], invisibilizados pela sociedade patriarcal. Mas os movimentos não foram capazes de se unir o bastante para resistir frente ao governo.
Analisando agora, o problema estava nas dificuldades de conectar (A) a política de oposição e (B) a prática cotidiana. Pelo que observo de movimentos populares mundo afora, os mais fortes, como Sanrizuka, no Japão, Zapatistas, no México, La Zad, na França, etc. são os que conectam as frentes (A) e (B) junto a outro elemento, (C) a criação de uma zona autônoma. No Japão, houve pequenos enclaves de zonas autônomas nas periferias da sociedade, como universidade ocupada, comunidades de bairro, campos de sem-teto e o movimento contra a base militar dos EUA em Okinawa, mas nenhum deles cresceu forte o suficiente para influenciar toda a sociedade, por exemplo, como o MST no Brasil. A dificuldade para criar territórios autônomos pode ter a ver com a sociedade japonesa altamente consumista e controlada, construída no território insular e fortemente interligada.
Em agosto passado, no 75º aniversário do ataque a Hiroshima, o então primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, não respondeu a questões sobre o tratado de desarmamento nuclear, de 2017, até agora não assinado pelo Japão. Em outubro, após assumir, Yoshihide Suga declarou que o país pretende alcançar neutralidade de carbono até 2050, mas tampouco citou a questão nuclear. Até hoje o Japão não reviu sua matriz energética (pós-Fukushima, a Alemanha, por exemplo, decidiu fechar suas usinas até 2022). Por quê?
Há quem afirme que a questão sobre a Alemanha continua, considerando sua dependência da importação de eletricidade da França, que é fortemente baseada na energia nuclear. No caso do Japão, o país ficou sem energia nuclear por vários anos após o acidente, mas cinco reatores voltaram à ativa em 2018. Isso nos mostra que é possível seguir sem a energia nuclear, mas que há forças que investem pesadamente e insistem no seu uso. Uma é a chamada Nuclear Village, que inclui políticos, fornecedores de tecnologia, empresas de eletricidade, cientistas e jornalistas, que há muito tempo a promovem.
Agora, quando discutimos alternativas "realistas", estamos nos referindo à posição de quem? Dos formuladores de políticas que insistem no consumo de energia (no nível atual e até mais) para um desenvolvimento nacional "sem fim"? Ou daqueles que estão dispostos a criar novas formas de vida para uma melhor convivência com o meio ambiente, com menor consumo de energia? Há grupos nos EUA, Japão, Coreia e França que estão tentando criar comunidades autônomas que consigam sobreviver fora dessa rede, tanto quanto possível. Essas experiências terão cada vez mais impactos no futuro.
O que é singular sobre Fukushima? E o que é global?
No Japão, as pessoas precisam descobrir diferentes horizontes, fora da hegemonia americana. Não devem esquecer as calamidades nucleares, como bombardeio genocida e explosões de usinas insanamente instaladas no arquipélago sujeito a terremotos. Devem parar o projeto do governo japonês de despejar a água contaminada no Oceano Pacífico, o maior bem comum para a população planetária – desativando reatores existentes e descobrindo uma maneira de lidar com os resíduos radioativos já acumulados em colaboração com o mundo todo.
Globalmente, os movimentos antinucleares, antiguerra e anticapitalistas devem se coordenar para seus objetivos, pois as lutas locais contra diferentes poderes governantes e modelos de desenvolvimentos estão, afinal, lutando contra o mesmo inimigo – o complexo industrial militar ou o regime nuclear global, que é a última fortaleza para o impulso infinito do modo de desenvolvimento do estado capitalista.
O fim do livro traz a mensagem "forget Japan" ("esqueça o Japão"). O que quer dizer?
No mundo todo, o declínio da civilização capitalista tem se manifestado de inúmeras maneiras: aquecimento global, covid-19, poluição atmosférica e oceânica, desmatamento da Amazônia e outros desastres, além de crises políticas, sociais e econômicas. No Japão, isso foi incorporado no desastre de Fukushima, com esvaziamento populacional, aumento do suicídio e assim por diante. Mas precisamos aprender a viver esse declínio de forma afirmativa.
Mudar o mundo implica deslocar a questão "o que deve ser feito?" para outra pergunta: "como isso deve ser vivido?" Precisamos aprender a viver a Terra, não mais nos limites de territórios nacionalizados. Habitantes do arquipélago deveriam "esquecer o Japão" nesse contexto, deixar para trás ideais do regime pós-guerra e o mito da raça pura. Esquecer é necessário para redescobrir formas de sermos humanos, viver com a Terra, amar as singularidades das culturas e compartilhar bens comuns, positivos e negativos.
Leia mais
- Japão. Arcebispo de Tóquio – Depois de Fukushima, ‘uma nova criação’ e relações humanas
- Japão e o 10º aniversário de Fukushima. Apelo dos bispos: abolição imediata das usinas nucleares
- Bispos japoneses e coreanos: não joguem as águas de Fukushima no mar
- Japão, Ministro do Meio Ambiente: 'Água radioativa de Fukushima será descarregada no Pacífico'
- 8 anos depois: lições de Fukushima que não queremos aprender
- 8° aniversário do desastre de Fukushima: 11 de março de 2011, um dia para não ser esquecido
- Oceanos se recuperaram após acidente de Fukushima, dizem cientistas
- Fukushima: 5 anos depois, a energia nuclear ainda é um fantasma que nos ronda
- A guinada energética alemã depois de Fukushima
- Para não esquecer: 11 de março, 5 anos Fukushima
- Fukushima: as primeiras doenças aparecem
- Bispos anglicanos assinam carta histórica sobre o Tratado de Armas Nucleares da ONU
- Ardeth Platte, a irmã dominicana que se dedicou à causa contra as armas nucleares, morre aos 84 anos
- A pandemia de Covid19 torna ainda mais evidente a necessidade de abolir as armas nucleares, defende Pax Christi Internacional
- Comunidades religiosas lideram movimento de desinvestimento nuclear
- “O uso e a posse de armas nucleares são imorais”. Entrevista com o Papa Francisco no voo de volta da Tailândia e do Japão
- Ecoando os bispos japoneses, Francisco apoia a abolição da energia nuclear
- No Japão, Francisco condena os que invocam a paz, mas mantêm armas nucleares
- "Usar energia atômica nas guerras é imoral. Admiro o povo do Japão e sua capacidade de ressurgir", afirma o Papa Francisco (vídeo)






