Pesquisador mergulha no conceito de Achille Mbembe e reflete como a necropolítica brasileira precede ao atual presidente da República
Partindo de uma definição bem simples da ideia de necropolítica, seria essa a política da morte em que se olha quem pode morrer e se faz essa gestão das vidas a serem descartadas. No atual contexto, é inevitável que associemos esse conceito à gestão de Jair Bolsonaro e todo seu corolário de ações. Mas é importante que tenhamos a consciência de que esse conceito de Achille Mbembe não nasce com a ascensão do atual presidente e nem é inaugurado agora no país. “A necropolítica brasileira precede a Bolsonaro. É importante que retenhamos o fato de que o necropoder se dilui em determinados setores da sociedade. Trata-se de uma modalidade de gestão que opera uma descentralização do tradicional direito soberano de morte”, reitera o psicanalista Paulo Bueno, em entrevista concedida por e-mail ao Instituto Humanitas Unisinos - IHU.
Bueno vem trabalhando com o conceito de necropolítica e reconhece que esse é um momento difícil na conjuntura atual. Porém, ampliar o conceito e colocar o atual momento dentro dele potencializa e privilegia uma análise mais sóbria. Por isso, observa que neste momento é importante também não perder de vista “a dimensão discursiva do acontecimento Bolsonaro”. “Antes dele, as condições de legitimação do necropoder já estavam dadas: um estado de exceção, tornado regra; e a construção de um inimigo ficcional. O aparelho repressivo de Estado já agia necropoliticamente através de suas instituições, mas também através de setores de segurança privada, de milícias armadas e, até mesmo, do narcotráfico. A eles foi dado o direito de matar as massas excedentes”, detalha.
Por isso, compreende que agora “o que muda, com a inflexão autoritária do governo, é a própria figura do inimigo, que passa a se estender cada vez mais sobre a população”. Além disso, é evidente que a situação da pandemia recrudesce tudo isso. Como psicanalista, ele observa que todos estamos mergulhados num desânimo que nos deixa mais suscetíveis. “Emendamos o café da manhã no trabalho, o trabalho no estudo, o estudo na Netflix e dormimos para recomeçar. O dia é vivido num único bloco sem intervalos”. Ou seja, sequer permitimos respiros. “Antes quando chegava o fim do expediente nos despedíamos dos colegas do trabalho, íamos por uma rua escura até o metrô ou ponto de ônibus, cruzávamos um olhar de flerte na rua, lembrávamos já na catraca que esquecemos de carregar o bilhete, nos culpávamos por isso, em seguida, nos espremíamos num vagão lotado. São diversas atmosferas psicológicas: de despedida dos amigos, medo da rua escura, desejo no olhar trocado, sentimento de culpa pelo esquecimento, nojo pelo cheiro de suor no vagão. Por isso precisamos de intervalos”, reflete.


Paulo Bueno (Foto: Arquivo pessoal)
Paulo Bueno é psicanalista, mestre e doutor em Psicologia Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP, pesquisador do Núcleo Psicanálise e Sociedade, docente do Instituto Gerar e colunista do blog Papo de Mãe/UOL.
IHU – Temos ouvido muito falar que vivemos uma necropolítica. Como o senhor compreende esse conceito e como ele pode servir para entender o momento que estamos vivendo no Brasil?
Paulo Bueno – A necropolítica é um conceito cunhado pelo historiador camaronês Achille Mbembe, e trata das relações entre poder, política, vida e morte na contemporaneidade. Creio que, para a compreensão do conceito, devemos estabelecer, logo de partida, a quem se dirige a necropolítica: às massas tidas como indesejáveis, como supérfluas. Se em um determinado estágio do capitalismo assistimos ao surgimento da obsolescência programada das mercadorias, ou seja, a descartabilidade do produto, atualmente, na era neoliberal, vemos a descartabilidade humana.

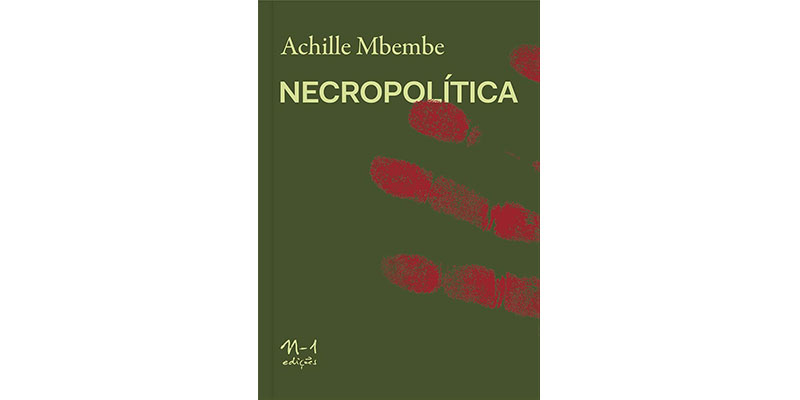
Necropolítica, de Achille Mbembe. São Paulo: N-1 Edições, 2018 (Foto: divulgação)
Essa massa é composta, num primeiro momento, por um grande contingente populacional que é considerado como excedente ao processo produtivo. Já não se trata da criação, por parte do capitalismo, de reservas de trabalhadores desempregados para o seu funcionamento, é uma massa que excede essas reservas. Essa massa, entretanto, não deve ser interpretada como um efeito colateral, pois é sobre ela que se sedimenta a política que instaura um regime de afetos e relações necessário à reprodução do sistema econômico em seu modo atual de operação.
A falha não está nessas arestas mal aparadas que são os “supérfluos”, pois desde o fim da escravidão eles continuam sendo produzidos. O problema se encontra, como diz Mbembe no “Sair da grande noite”, na falência das soluções empregadas até o momento para dar conta da questão, pois já não há mais apartheid e o encarceramento em massa dá mostras de seus limites. Desse modo, é preciso que o neoliberalismo continue produzindo essas massas e, ao mesmo tempo, criando as condições para sua eliminação.
Partindo dessa introdução, penso que uma definição possível para a necropolítica é a de constituir uma forma de gestão que tem por base a produção e eliminação de massas indesejáveis. Ou seja, a construção discursiva dessa “massa” como inimiga é essencial para que a máquina opere. É necessário um extenso trabalho de costuras narrativas para montagem da figura ficcional de um inimigo que precisará ser abatido. Trata-se de um inimigo absoluto, que não há a menor esperança de resolução pela via do diálogo. Essa é a base de legitimação de ações de execução.
IHU – Em que consistiria e como vai se desenvolvendo uma ‘necropolítica bolsonarista’?
Paulo Bueno – A necropolítica brasileira precede a [Jair] Bolsonaro. É importante que retenhamos o fato de que o necropoder se dilui em determinados setores da sociedade. Trata-se de uma modalidade de gestão que opera uma descentralização do tradicional direito soberano de morte. Ou seja, o monopólio do direito de matar já não pertence ao Estado. De tal modo que podemos testemunhar tanto massacres promovidos pelo próprio Estado, como foi o caso do Carandiru em 1992, como massacres realizados por arranjos de forças paraestatais, como a chacina da Candelária. O que une esses distintos fenômenos é a matança generalizada de um grupo de pessoas que são consideradas como párias sociais, tanto os presidiários como as crianças em situação de rua, nos exemplos mencionados.
E aqui entra um fator importante, que não podemos perder de vista, que é a dimensão discursiva do acontecimento Bolsonaro. Antes dele, as condições de legitimação do necropoder já estavam dadas: um estado de exceção, tornado regra; e a construção de um inimigo ficcional. O aparelho repressivo de Estado já agia necropoliticamente através de suas instituições, mas também através de setores de segurança privada, de milícias armadas e, até mesmo, do narcotráfico. A eles foi dado o direito de matar as massas excedentes.
O que muda, com a inflexão autoritária do governo, é a própria figura do inimigo, que passa a se estender cada vez mais sobre a população. Se antes o medo por conta da periculosidade era a grande justificativa para o extermínio, agora entram novos elementos, ligados à moralidade e a posições políticas. Na política, o medo comunista retorna, o temor de que viremos uma Venezuela. Do lado das questões morais, há todo um discurso sobre a família e o comportamento sexual. Lembremos que sua eleição, em grande parte, está articulada à fake news daquela que ficou conhecida como “mamadeira de piroca”. Criam-se fantasmas que justifiquem a convocação de uma figura que se propõe a caçá-los. Ou seja, o discurso bolsonarista reconstruiu o discurso da inimizade absoluta, estendendo-o a outros grupos. Creio que essa é a grande marca do discurso bolsonarista.
Essa política de inimizade, que já precedia o surgimento de Bolsonaro no cenário nacional, sedimentou o terreno para que, durante a pandemia, o seu governo fizesse a máquina necropolítica operar de modo avassalador. Penso que a gestão da pandemia se caracteriza como um projeto necropolítico que se realiza, também, por vias biopolíticas.
A biopolítica se faz presente pelo método empregado de “deixar morrer”, atrasando vacinas, deslegitimando publicamente medidas municipais e estaduais de segurança, desarticulando um plano nacional de combate à epidemia etc. À primeira vista, não é o direito de matar que está em jogo, mas o “deixar morrer” biopolítico. Entretanto, a magnitude desse projeto só é compreensível pelos elementos introduzidos pelo conceito de necropolítica.
Trata-se de um projeto de extermínio em massa, são mais de meio milhão de brasileiros abandonados à própria morte. Não se trata simplesmente de um meio de gestão da vida, mas sim de uma estratégia que coloca o descarte dessas massas no centro da política.
IHU – Ainda antes do governo Bolsonaro e desse avanço totalitário e conservador, o Brasil viveu experiências em necropolítica?
Paulo Bueno – A rigor, o conceito se localiza historicamente no contexto intelectual pós-11 de setembro de 2001, visando fornecer uma chave de compreensão a esse período. Lembremos que o artigo que introduz o termo é de 2003, período imediatamente posterior ao ataque às torres gêmeas e à reação bélica do governo Bush.
Em 2011, em uma conferência no México que foi publicada em livro com o título “Necropolítica, una revisión crítica”, Mbembe faz esse apontamento histórico. Explica que com o termo buscava mostrar que o mundo assistia a uma generalização da tentativa de abolição do tabu das matanças. E creio que esse esclarecimento é essencial para compreendermos o objetivo que subjaz à necropolítica: abolição do tabu de morte.
Entretanto, Mbembe não é um historiador que pensa por processos de ruptura. Exatamente por isso, as reflexões de Fanon sobre a situação de guerra colonial ocupam um lugar destacado em sua obra. Porque há uma ligação entre as guerras coloniais, a escravização e o momento contemporâneo, que é marcado pelas políticas de inimizade. Essa ligação é o negro, o sujeito racial que foi inventado no período daquilo que Mbembe chama de capitalismo mercantilista. O negro escravizado foi objeto de uma dominação quase absoluta, foi despojado de seu lar, de seu estatuto político e dos direitos de uso sobre o próprio corpo.
As guerras coloniais no continente africano e a escravização negra foram o grande laboratório necropolítico do mundo. Compreendo que o ano de 2001 não é a marca de uma ruptura, mas do aprofundamento de uma planetarização do processo necropolítico. Por isso o retorno a Aimé Cesairé é fundamental. A violência do colono contra o colonizado sempre habitou as colônias visceralmente. Cesairé aponta que o grande erro de Hitler foi voltar os métodos coloniais contra a própria Europa. A esse grande acontecimento histórico, que foi a Segunda Guerra, se seguiu na Europa a implementação de políticas de bem-estar social, que tem uma função de reparação e restabelecimento das relações. Em seguida, surge a racionalidade neoliberal. O neoliberalismo é o ponto de virada para essa universalização da necropolítica.
Para não escapar à pergunta sobre o Brasil, precisamos voltar os olhos para a América do Sul, especificamente para o próprio Brasil. Não diria que durante a escravização passamos por um período necropolítico, mas isso não retira a importância do período, pois foi o momento que se esculpiu o mais elementar da necropolítica: a do negro, como figura matável e o direito de matar recaindo sobre parcela significativa da humanidade. Ainda que não se tratasse de um direito, em termos jurídicos, isso ocorria com frequência. O escravizado foi transformado em mercadoria.
Nessa condição, era vedado a outros, que não fossem o seu proprietário, lhe causar qualquer “avaria”. Ou seja, o que está em causa é o caráter de propriedade do escravizado, a sanção que recairia sobre o agressor tinha base, antes, nos direitos de propriedade – como uma forma de proteção ao bem do senhor – do que nos direitos individuais. Mas no interior das fazendas não havia limites para as punições. Por isso é possível interpretar esse período como aquele em que se instaurou o direito de matar como fato cotidiano nas relações sociais e de exploração do trabalho.
Com essas bases de autorização à morte do negro bem estabelecidas no país, temos na jovem República o momento de uma primeira inclinação necropolítica, em que vige uma guerra permanente do Estado contra a própria população. Os processos que hoje são vistos ao redor do mundo já estavam presentes há décadas no Brasil e em outros países da periferia do capitalismo.
IHU – Qual a centralidade da necropolítica para compreendermos o racismo hoje e conceber formas de resistência?
Paulo Bueno – Eu faria uma inversão nessa proposição. Penso que o racismo, como componente principal da colonialidade e dos modos de dominação que lhe são correlatos, é quem auxilia na compreensão da necropolítica contemporânea. Não dá para pensarmos a necropolítica sem o fator racial. O negro e o indígena foram os primeiros objetos dos métodos de extermínio em termos mundiais. Considerando a importância das políticas de inimizade para a definição do termo, não poderemos ignorar quem é o inimigo.
A figura emblemática do inimigo é o negro. E em torno dele que se opera toda uma política de morte. Abdias do Nascimento, na década de 1960, sustentou em seu livro a tese de que estava em curso no Brasil um verdadeiro genocídio que visava a completa eliminação do negro na sociedade. Sua leitura era extremamente sofisticada. Não se limitava a indicar a violência contra os corpos, incluía em sua definição os processos genéticos e culturais.
Por processo cultural, estou me referindo à crítica às teorias do sincretismo cultural, que compreendiam que houve um processo harmônico de união entre as diferentes culturas, do dominador e do subalternizado. Na realidade, foi travado um grande embate de repressão, de um lado, e formas de resistência do outro lado.
Por processo genético me refiro à política de branqueamento ocorrida entre o fim do século XIX e início do século XX. Trata-se de um conjunto de ações efetuadas pelas autoridades brasileiras que visavam o fim dos povos negro e indígena. Apostou-se que o branqueamento paulatino da população se daria através da miscigenação. Mas não só; para o alcance dessa meta, haveria uma série de medidas a serem tomadas, como a ausência de ofertas de trabalho aos recém-libertos e o robusto financiamento de uma política migratória. Acreditava-se, de fato, que em torno de oito décadas as chamadas raças inferiores seriam apagadas do território. É interessante observarmos a proximidade das raças inferiores com aquilo que Mbembe chama de massas supérfluas: aqueles que após a escravidão passaram a não servir, sequer, para compor a reserva de mão de obra. Desse modo, o racismo é o combustível das políticas de inimizade e, consequentemente, da necropolítica.
No texto sobre a necropolítica, Mbembe não aponta para meios otimistas de resistência. Fala alguma coisa ao tratar da lógica do mártir, mas é exatamente isso que eu não chamaria de meios otimistas. Por isso o que me interessa no estudo deste conceito, apresentado em 2003, é estabelecer articulações com textos que vieram depois. Utilizar a necropolítica como chave de leitura de outros textos como a Crítica da Razão Negra e, também, o inverso. A ideia de reinvenção me parece muito oportuna.

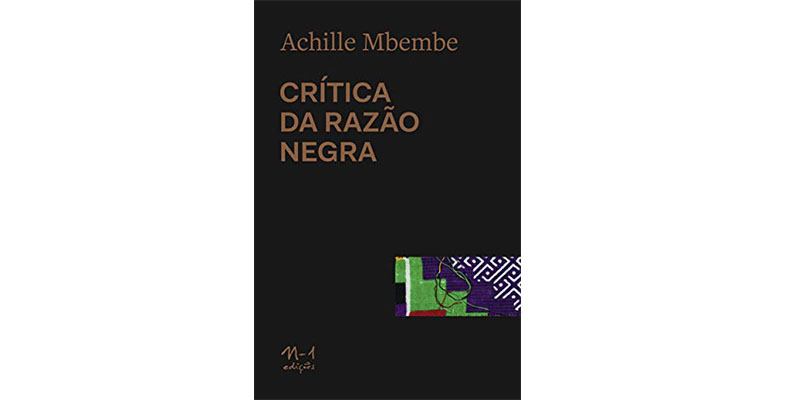
Crítica da Razão Negra. São Paulo: N-1 edições, 2020 (Foto: divulgação)
O negro e negra escravizados tiveram uma capacidade absurda de reinvenção. Lhe deram um barril, e ele fez as congas e atabaques; quando lhe entregaram caixotes, na região do Peru, ele fez o cajon; garrafas de vidro, frigideiras e pratos com facas também serviram de instrumentos para o samba. Toda musicalidade, dança, religiosidade que foram reinventadas na diáspora são formas de resistência, espaços de recuperação de fôlego diante de uma situação asfixiante.
Outro ponto bastante potente é a ideia de que o fardo da raça tem sido carregado exclusivamente pelos subalternizados. Não há antirracismo efetivo se não houver uma implosão dos privilégios simbólicos e materiais. O fardo da raça precisa ser igualmente dividido antes de ser eliminado.
IHU – Achille Mbembe, em sua ideia de necropolítica, fala de corpos que podem viver e outros que podem morrer. Como compreender esse ponto de sua análise tomando a realidade brasileira como exemplo?
Paulo Bueno – A ideia de devir negro aponta esse processo de universalização da condição negra. Lembremos que a escravidão negra atingiu um nível de dominação quase absoluta. Nesse sentido, a condição negra se prolifera em larga escala atualmente. Os corpos que podem morrer, a princípio, são os negros e indígenas. Mas também a mulher, em certos contextos, as transexuais, aqueles que estão fora do mercado de trabalho e, também, o trabalhador precarizado. Por isso o mais importante é sobreviver num regime necropolítico.
E sobreviver significa se afastar da condição negra, não deixar recair sobre si a sombra do inimigo ficcional. Trabalhando ou estudando diuturnamente para não ser expelido para fora do processo produtivo. Uma bicicleta com um isopor nas costas é melhor do que o desemprego, ainda que custe a vida. Não são poucos os que se acidentam na intenção de levar o alimento ainda quente para o contratante do serviço.
IHU – O senhor trabalha na interface entre necropolítica e psicanálise. Como podemos compreender a necropolítica desde uma perspectiva psicanalítica?
Paulo Bueno – Sobre essa interface, tenho pesquisado no momento a questão do trauma. A psicanálise sempre esteve às voltas com o trauma, desde o princípio, com a chamada teoria da sedução, em que Freud propunha que a origem psíquica das neuroses tinha suas raízes num acontecimento traumático. Essa hipótese primeira foi reinterpretada posteriormente, mas a psicanálise nunca pode se afastar dessa noção.
O trauma tem tudo a ver com o momento que vivemos. O impacto traumático pode ser definido como um acontecimento que marca uma descontinuidade espaço-temporal. O espaço e o tempo que organizam a vida do sujeito são literalmente eclipsados, e ele é tomado por uma forte angústia, pego de surpresa. Se vê numa sensação de desamparo, sem recursos simbólicos para processar a virulência do acontecimento traumático. Penso que aquilo que poderíamos chamar de traumatismo coletivo também traz como característica essa descontinuidade. Mas não apenas uma interrupção da atividade consciente de um sujeito em sua particularidade.
Falo aqui de uma descontinuidade histórica, grandes pontos de virada. O nazismo sem dúvida é o grande exemplo do século XX. Porém, também podemos incluir nessa lista os tsunamis, terremotos, epidemias e o ataque às torres gêmeas. Traumas cujo impacto se faz sentir para uma grande coletividade.
Daí a pergunta: a necropolítica que vivemos se inscreve como um traumatismo necropolítico? Não. Por quê? Pelo fato de que o fator surpresa não se faz presente nessa situação. Embora seja extremamente triste, a chacina do Jacarezinho não se inscreve como algo que surpreenda. Isso não se deve exclusivamente à cotidianidade dessas cenas; se deve também à política de inimizade que subjaz a esses massacres.
A necropolítica brasileira não é tomada como uma catástrofe, como um trauma que deixa um furo na malha simbólica de nossa sociedade. Esses massacres são tomados como acontecimentos dentro da normalidade, o estado de exceção como regra. Por isso, me parece, foi possível que a pandemia fosse tão avassaladora no Brasil. Estamos acostumados ao negacionismo. O negacionismo da escravidão e de suas marcas na população afrodiaspórica; o negacionismo da ditadura militar e seus desaparecidos. São dois grandes exemplos do modo como se lida com grandes traumatismos no Brasil, pela via do apagamento, do silenciamento.
Há trauma apenas para aqueles que são diretamente afetados. Há muito sofrimento, famílias dilaceradas, mas não há o reconhecimento social de um trauma coletivo. São raras as exceções. A tragédia do atirador da escola de Suzano é uma exceção, por exemplo. Nesse caso houve uma comoção geral que coloca tal fato como algo surpreendente e traumático. Inclusive com consequências reparatórias, próprias ao trauma coletivo. Essa tentativa de reparação se deu pela contratação de psicólogos para atuarem nas escolas do município.
Nem toda tragédia é socialmente interpretada como um trauma coletivo, com direito à reparação e luto nacional. Essa coletivização do sentimento de perda é importante para que os sujeitos afetos, os sobreviventes, tenham subsídios simbólicos para elaboração do seu sofrimento. Embora o trabalho de luto seja uma travessia que pressupõe uma resolução singular, tal trabalho não é realizado em isolamento. A significação da perda passa pelas narrativas que vêm do Outro social.
O trauma possui uma temporalidade própria. O primeiro tempo é o do impacto e o segundo tempo é o dos efeitos causados no sujeito. Só conseguimos verificar se uma situação gerou trauma nos sujeitos no segundo tempo. Entre o primeiro e o segundo tempo há um processo de subjetivação do choque traumático. Há situações em que os sujeitos encontram recursos para lidar com esse acontecimento e, consequentemente, não se observará a descontinuidade da narrativa que organiza sua vida. E há outras situações em que o sujeito é surpreendido, sem recursos simbólicos, desamparado. Apenas nesses casos podemos falar de trauma.
A questão é que os recursos dizem respeito à história do modo como o sujeito lidou com seus traumas ao longo de sua vida (desde o trauma originário de entrada na linguagem) e também àquilo que foi ofertado pela cultura para essa elaboração. De tal modo que é importante que os acontecimentos catastróficos sejam tomados, sim, como traumas coletivos para oferecer condições de processamento e simbolização para a multiplicidade de sujeitos afetados.
IHU – Há quem acredite que mesmo no mais profundo da consciência humana reside o mal. Sendo assim, podemos conceber que a necropolítica pode ser nutrida entre sujeitos e não apenas nas ações do poder estatal para com os sujeitos?
Paulo Bueno – Acho extremamente perigoso seguir por esse caminho. A necropolítica é uma forma de gestão de massas pela via de uma política de morte. Ou seja, não pode ser lida de modo individualizante. A causa não está nas propensões malignas de um sujeito. Se articula a uma política econômica e à racionalidade que lhe é correlata.
Dito isso, posso fazer um breve comentário desde o meu lugar, que é o de um psicanalista. No texto “Mal-estar na civilização” Freud indica que ao lado das forças que tendem a uma coesão social, com a constrição da agressividade, há as forças que tendem a uma dissolução da unidade grupal, seria uma inclinação contracivilizatória. Movimentos civilizatórios e contracivilizatórios. Os primeiros seriam movidos pela pulsão de vida e os segundos pela pulsão de morte.
Creio que a base da política de inimizade são movimentos contracivilizatórios. O próprio Mbembe nomeia essas políticas como “descivilizatórias”, fazendo alusão à Aimé Cesairé. No interior do projeto civilizatório operam forças descivilizatórias, de exclusão ou eliminação das diferenças. Entretanto, não podemos confundir com uma maldade no sentido moral do termo.
IHU – Como a tecnologia e seus usos podem contribuir para a potencialização da necropolítica?
Paulo Bueno – Acho importante não predicarmos a tecnologia como uma vilã. Faz parte de nossas vidas. O confinamento da pandemia tem nos mostrado diariamente sua importância. Trabalhamos, estudamos, e nos entretemos através dela. O ambiente virtual virou, inclusive, um espaço de afetos. Festas de aniversário; recém-nascidos que são apresentados aos avós, tios e amigos pelo celular; pessoas que se despedem por uma chamada de vídeo antes de serem intubadas no hospital. Já era um espaço de trocas de afeto antes da pandemia, agora isso se potencializou. Sem contar os aplicativos de encontros amorosos e sexuais.
Basta lembrarmos que na Gripe Espanhola a comunicação era realizada por cartas, para termos dimensão do papel da tecnologia no enfrentamento da pandemia atual. E não é apenas a comunicação que era diferente, o entretenimento também. O celular oferece meios infinitos de entretenimento.
Por outro lado, há o risco de a tecnologia servir como um anestésico. Jogos, Instagram, Facebook, Tik Tok, sites de compra. Porém esse risco também está sempre presente na vida não virtual, pelas drogas, comida, trabalho, futebol. A anestesia é uma forma de não lidarmos com um vazio, muitas vezes necessário. Certas doses de anestesia podem ser importantes para alguns, mas uma vida anestesiada é um problema. A pergunta é “qual o limite para além do qual o anestésico se torna um excesso?”.
Por exemplo, a discussão atual sobre as gestantes que optam por parto natural, pois querem viver integralmente o momento único em suas vidas, que é o parto. Para essas, a anestesia é um excesso, uma violência. Para outras, a anestesia é uma necessidade, mulheres para quem seria insuportável passar por essa experiência sem um anestésico. O médico anestesista é aquele que se preocupa com a dose exata que corresponda ao limiar de dor de sua paciente. Nem mais, nem menos. No entretenimento virtual nós mesmos precisamos ocupar esse lugar e assumir a preocupação constante dos excessos. Por isso é tão comum ultrapassarmos esse limite.
Dito isso, realizado o elogio às tecnologias, podemos passar para os aspectos políticos da discussão. Confesso que ainda não me debrucei demoradamente nessa questão, então certamente muita coisa restará como ponto cego em minhas observações. Ressalto apenas que a compressão do tempo possibilitada pelos avanços tecnológicos nas últimas duas décadas é um fator de grande importância. O tempo, Mbembe trabalhará na parte final de “Políticas da inimizade”, é avassalador para o processamento das experiências subjetivas. É uma temporalidade que não promove uma elaboração pela via das narrativas, da memória.
Nesse mesmo texto, o autor trabalha com a hipótese de que o neoliberalismo está conduzindo à liquidação do sujeito trágico, que se constitui por narrativas. É o chamado sujeito neuroeconômico. Esse sujeito não é mais capaz de se engajar em decisões coletivas, por isso observa-se um aprofundamento da fragilização dos grupos subalternizados, as massas supérfluas. O sujeito anestesiado não formula questões sobre seu sofrimento, seja no nível individual, seja no nível coletivo. Mas esse é apenas um aspecto.
IHU – No final do século XX, houve um tempo de progressismo em que se acreditou que realmente um outro mundo seria possível. No entanto, entramos no século XXI com o recrudescimento de velhas perspectivas vivenciando duramente a necropolítica. O que pode ter provocado esse revés?
Paulo Bueno – Falei no início que a necropolítica pressupõe uma noção fantasmática de inimigo e o estado de exceção. Quem trabalha mais extensamente sobre esse termo é o filósofo italiano Giorgio Agamben, partindo da proposição de Benjamin do estado de exceção tornado regra. O estado de exceção atravessa as democracias modernas. Em certos momentos, a exceção se localiza em determinados territórios, em outros ela se amplia. Acompanha a história dos Estados nacionais. De tal modo que sua ampliação, como vemos agora, está intimamente ligada às determinações econômicas.
IHU – Depois de um ano e meio de pandemia, o Brasil vive um estado melancólico, da periferia às regiões centrais. Como o senhor tem visto e lido esse sentimento nas pessoas?
Paulo Bueno – No texto “Luto e melancolia” Freud descreve o luto como um período de desinteresse pelo mundo. Tínhamos um investimento em uma determinada pessoa ou em algum ideal que se foi. Perdemos definitivamente a possibilidade de realização desse ideal em particular ou da realização dos ideais relativos a essa pessoa. O conceito de ideal se articula à noção de futuro. Como diria o Renato Russo em “Vento no Litoral”, “dos nossos planos é o que tenho mais saudades”. Junto com a pessoa, morrem os planos, aquilo que eu era e tudo o que queria fazer junto com essa pessoa. Como consequência toda essa energia investida fica sem um alvo. Por isso o desinvestimento generalizado é comum no luto.
O trabalho de luto (travessia que possibilitará o reinvestimento) tem, ao menos, dois tempos. O primeiro é o de reconhecer que algo foi perdido e o segundo é o de reposicionar-se diante do mundo, dos ideais e do futuro, se abrindo para um reinvestimento. Outro ponto, aquilo que falei acima sobre a compressão do tempo, foi potencializado durante a pandemia.
Atualmente, emendamos o café da manhã no trabalho, o trabalho no estudo, o estudo na Netflix e dormimos para recomeçar. O dia é vivido num único bloco sem intervalos. Todos os minutos do “entre” são preenchidos pelas redes sociais. Antes quando chegava o fim do expediente nos despedíamos dos colegas do trabalho, íamos por uma rua escura até o metrô ou ponto de ônibus, cruzávamos um olhar de flerte na rua, lembrávamos já na catraca que esquecemos de carregar o bilhete, nos culpávamos por isso, em seguida, nos espremíamos num vagão lotado. São diversas atmosferas psicológicas: de despedida dos amigos, medo da rua escura, desejo no olhar trocado, sentimento de culpa pelo esquecimento, nojo pelo cheiro de suor no vagão. Por isso precisamos de intervalos, para não fazermos de nosso cotidiano esse bloco único em que não conseguimos, por exemplo, nos desligar do trabalho.
Junta-se a isso a situação política, o luto generalizado, o desemprego, a necropolítica, a falta de perspectiva. O confinamento a princípio duraria apenas três meses, já estamos nisso há um ano e meio. Viver essa imprevisibilidade é bastante angustiante.
Há quem diga que o tempo é o remédio, eu discordo. O tempo por si só não remedeia. É preciso descomprimir o tempo. Primeiro com intervalos entre nossas atividades. Depois com o intervalo exigido pelo trabalho de luto. Por fim, a aceitação de que vivemos uma descontinuidade histórica. Precisamos ler esse período como aquele de um traumatismo coletivo. Legitimar que estamos fora da normalidade ao invés de aceitar o estado de exceção como parte dessa normalidade. Em outras palavras, é preciso que inventemos narrativas, pois são as narrativas que marcam um antes e um depois.
A queda do genocida do poder também marcaria um antes e um depois. Diria que é parte essencial de um projeto de futuro para o Brasil.