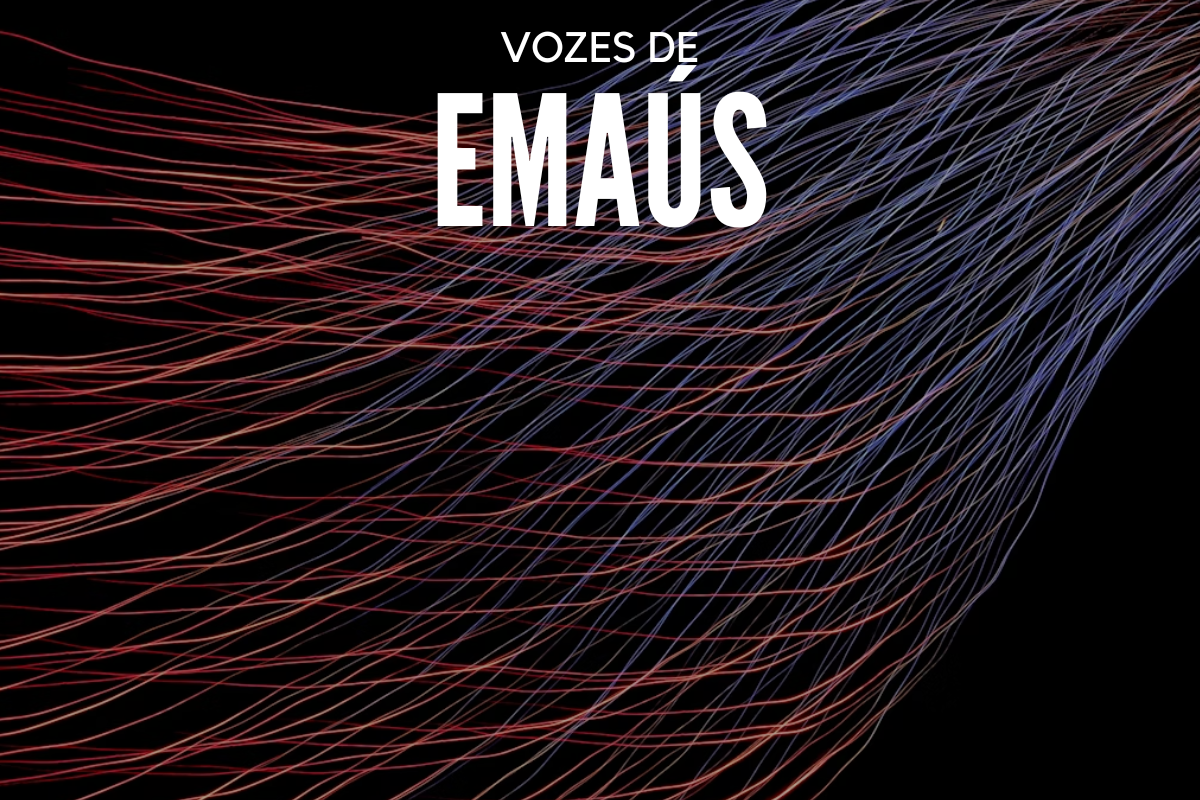09 Dezembro 2025
60 anos após o Concílio, um catolicismo enfraquecido pela secularização busca virar a página de suas guerras culturais.
A reportagem é de Ignacio Peyró, publicada por El País, 08-12-2025.
Em 8 de dezembro de 1965, há sessenta anos, o Concílio Vaticano II chegou ao fim. Bispos de todo o mundo saíram em procissão da Basílica de São Pedro, e Paulo VI abraçou sua eminência parda, Jacques Maritain, o filósofo do diálogo. Foram três anos de trabalho desde que João XXIII surpreendeu a todos não só ao convocar este importante encontro doutrinal e estratégico do catolicismo, mas também pela orientação de sua convocação. Pela primeira vez, seria um Concílio puramente pastoral. Sem definições dogmáticas. Sem anátemas.
O "Papa Bom" queria "um sopro de ar fresco" na Igreja. Queria um catolicismo que servisse ao seu tempo "demonstrando a validade de seus ensinamentos e não condenando". Desde o fim do século XIX, alguns teólogos já sabiam que o cristianismo, segundo uma testemunha do Concílio como o jornalista e escritor José Jiménez Lozano, não podia "simplesmente permanecer na defensiva".
Era necessário "definir de uma nova maneira" a relação entre a Igreja e seus contemporâneos. E isso seria feito por meio do diálogo, palavra que nunca havia aparecido na doutrina da Igreja e que apareceria 28 vezes nos documentos conciliares.
Quando o Papa Roncalli morreu, Paulo VI acolheu seu espírito. E em sua primeira sessão do Concílio, não precisou de palavras para transmitir sua mensagem: bastou abolir a tiara e a sedia gestatoria, símbolos do poder temporal do Papa.
O Concílio, como o próprio Paulo VI disse, deveria ser “um dia ensolarado para a Igreja”: sua adaptação ao mundo em um tempo de mudanças como a década de 1960. Nada, porém, correria conforme esse otimismo. Desde o início, quando dois cardeais progressistas — Liénart e Frings — solicitaram uma reorganização das comissões de trabalho planejadas pela Cúria, o cenário para o conflito estava armado.
Dois grupos se formaram rapidamente. De um lado, estavam os Padres Conciliares dos países onde a chamada nouvelle théologie havia sido forjada: Bélgica e Holanda, Áustria e Alemanha, uma “Aliança Europeia” com figuras de destaque como König e Bea, Suenens e Alfrink, além dos já mencionados Frings e Liénart.
Do outro lado, estava o Grupo Internacional de Padres, que reunia 250 prelados conservadores, desde o ex-aspirante ao papado Siri até o futuro cismático Marcel Lefebvre. As igrejas da África e da Ásia, dependentes de igrejas ricas como a alemã, se alinhariam à “Aliança Europeia”. Assim, desde o início, o Concílio teria um caráter claramente progressista, com teólogos como Karl Rahner desempenhando um papel de liderança.
Embora os Padres Conciliares mais conservadores tenham demorado um pouco mais para formular sua resposta, ela acabou por chegar, o que significa que a maioria dos 16 documentos conciliares — como a constituição Gaudium et spes — acabou exigindo mais negociação do que o previsto. Talvez por essa razão, nos anos que se seguiram à sua conclusão, surgiram duas perspectivas distintas a respeito do Concílio: uma que argumenta que a Igreja não concretizou todo o seu potencial, e outra que sugere que ele foi longe demais.
Na realidade, o que é verdadeiramente notável é como aqueles que iniciaram as mudanças posteriormente buscaram ajustá-las. Henri de Lubac, teólogo em voga na época, acabaria por se insurgir contra "uma nova Igreja, diferente da de Cristo, que eles querem estabelecer". E dois teólogos progressistas do Concílio, Karol Wojtyla e Joseph Ratzinger, lamentariam, já convertidos a João Paulo II e Bento XVI, que "verdadeiras heresias foram cometidas" e que "os resultados do Concílio parecem contrariar cruelmente as expectativas de todos".
O primeiro a acusá-lo foi Paulo VI: longe do que se previa, o período pós-conciliar foi “um dia cheio de nuvens e tempestades”. Cumpriu-se, assim, uma tradição que, desde o Concílio de Jerusalém no primeiro século, parece garantir que não há concílio sem trauma pós-conciliar. Paulo VI chegou a dizer, em palavras famosas pelo seu dramatismo, que “a fumaça de Satanás” se infiltrou “no templo de Deus”. A causa de sua angústia? 14 mil debandadas, contando apenas sacerdotes, entre 1964 e 1971. Rebeliões doutrinais como o Catecismo holandês de 1966 ou a “opção preferencial pelos pobres” que, acordada em um encontro de bispos latino-americanos em Medellín, em 1968, abriu caminho para a Teologia da Libertação.
E, sobretudo, as reações contra a reforma litúrgica. Embora intelectuais de todas as origens, de Jorge Luis Borges a Nancy Mitford, tivessem pedido ao Papa que mantivesse a missa tradicional, a nova missa não significaria apenas dizer adeus ao latim: a Santa Sé estava preocupada ao ver como, repentinamente, baterias estavam tomando conta dos santuários, e chegou-se a falar em padres consagrando a Eucaristia com donuts. Qualquer onda progressista foi interrompida quando, pouco depois do Concílio, Paulo VI, contrariando a vontade de grande parte do episcopado, estabeleceu a doutrina sobre a contracepção na encíclica Humanae vitae.
Para compreender como o Concílio permeou a vida da Igreja, é preciso perguntar como se pode renunciar hoje à sua abertura ecumênica à unidade cristã, à sua condenação explícita do antissemitismo ou ao seu compromisso com a liberdade religiosa. Esse compromisso e essa liberdade, em última análise, minaram as relações entre Paulo VI e Franco, tornando o regime, literalmente, mais católico do que o Papa. Mesmo sob a orientação do Pontífice, a Igreja, que apoiaria a Transição sob Tarancón, não defendeu uma democracia cristã na Espanha nos moldes da Itália.
Isso não agradaria a João Paulo II, que, além disso, não pôde herdar o Concílio com carta branca. Se, por um lado, interveio nos jesuítas por serem progressistas, por outro, excomungou Lefebvre por ser tradicionalista. E, embora tenha nomeado figuras da esquerda como cardeais, tentou compensar a crise na vida religiosa com novos movimentos: Opus Dei, Legionários de Cristo. Com Bento XVI e Francisco, as batalhas litúrgicas retornaram em relação à permissividade da Missa Tridentina.
E embora o próprio Bento XVI quisesse enquadrar o Vaticano II em uma “hermenêutica da reforma” respeitosa dos ensinamentos perenes da Igreja, apenas Leão XIV parece ter apaziguado as guerras culturais intracatólicas. Ele é o primeiro Papa, em termos de idade, não marcado pela dialética desencadeada na década de 1960. E, como escreve o jornalista católico britânico Dan Hitchens, o fato de não estar claro qual será o futuro das ideias liberais no mundo desvia o debate de como lidar com elas.
Sessenta anos após o Concílio, a Igreja sofreu sua maior crise de credibilidade com os escândalos de abuso. É uma Igreja que, na Europa, tem mais elites progressistas do que fiéis e clérigos. E está ganhando peso demográfico e moral na África e na Ásia. Talvez seja “um punhado de vencidos”, como previu Paulo VI, ou “o remanescente de Israel”, nas palavras de Bento XVI, mas conseguiu sobreviver, como aponta o convertido alemão Martin Mosebach, depois de “passar séculos sem estar totalmente atualizada”. E hoje é surpreendente que, de repente, netos comecem a se interessar — por iniciativas católicas como Hakuna ou Effetá — pela antiga religião de seus avós.
Leia mais
- Concílio, quando a Igreja recuperou a cor. Artigo de Marco Vergottini
- Concílio Ecumênico Vaticano II – 60 anos: profecia para o terceiro milênio e a vida da Igreja
- Francisco lembrou o Concílio Vaticano II e pediu que a Igreja volte “em unidade” às suas fontes: os pobres e descartados
- Papa Francisco diz que o Vaticano II moldou sua teologia, incluindo o Ensino Social
- Papa Francisco: O Evangelho não é uma lição fora do tempo
- Um impressionante “manual” sobre o Concílio Vaticano II
- Concílio Vaticano II. 50 anos depois. Revista IHU On-Line Nº 401
- ‘Oxford Handbook of Vatican II’ cobre de forma abrangente o Concílio e sua recepção. Artigo de Michael Sean Winters
- Luigi Bettazzi, o bispo do Concílio
- Christophe Dickès: “A Igreja caminha para um Concílio Vaticano III?”
- O canto e a música litúrgica no Brasil após o Concílio Vaticano II. Artigo de Eliseu Wisniewski
- “O Concílio Vaticano II foi na verdade uma visita de Deus à sua Igreja”. Entrevista com o Papa Francisco (1a. parte)
- Dois teólogos questionam o Concílio Vaticano II sobre questões que nunca havia se posto...
- Da história vivida ao legado vivo. Concílio Vaticano II aos 60 anos
- “Sem o Concílio Vaticano II, a Igreja hoje seria uma pequena seita”. Entrevista com Jean-Claude Hollerich
- Por que a recepção do Concílio Vaticano II ainda é um problema? Artigo de Massimo Faggioli
- Francisco lembrou o Concílio Vaticano II e pediu que a Igreja volte “em unidade” às suas fontes: os pobres e descartados
- “O Concílio Vaticano II, uma memória que ainda opera para a paz”. Entrevista com Daniele Menozzi
- No 60º aniversário do Concílio Vaticano II, o Cardeal Grech define o Sínodo como “um fruto dessa assembleia ecumênica”
- Memória de João XXIII e 60º aniversário da abertura do Concílio Vaticano II
- Cardeal Grech: “O Sínodo abriu processos na Igreja que nem o Concílio Vaticano II poderia imaginar”
- Concílio Ecumênico Vaticano II – 60 anos: profecia para o terceiro milênio e a vida da Igreja
- Papa Francisco destaca perigo de liturgias sérias que 'negam o Concílio Vaticano II'