Para o professor, este fim de ano nos provoca “não apenas esperança, mas também uma provocação inédita, de pensar num ‘plano para ressuscitar’ os corpos frágeis, cansados e desiludidos”
Mesmo que o ano não tenha sido tão bom, à medida que o calendário avança no mês de dezembro, normalmente somos tomados de um sentimento que nos faz sorrir mais, sentir mais o que nos cerca, olhar o que passou e pensar num novo tempo. Na verdade, um misto de sensações que podemos resumir como o desejo de esperança. No entanto, o ano de 2020 foi particularmente carregado. A pandemia trouxe dor, sofrimento, desilusão e ainda fez aflorar todos os dramas, pessoais e coletivos, que vínhamos vivendo. “A dura epidemia veio agravar uma situação que, em verdade, já estamos observando há tempos, com os descaminhos do Antropoceno, esse tempo de ‘perturbação humana’. Não é de hoje que vamos experimentando a nossa limitação e vulnerabilidade, esse sentimento de ‘perda de mundo’”, observa o professor e teólogo Faustino Teixeira.
Assim, o sentimento de esperança se torna um grande desafio ao fim de 2020. Como pensar e acreditar que o tempo por vir será melhor? Como enfrentar os desafios do deserto e não perder de vista o oásis? Faustino tem algumas pistas. “O Natal traz para nós não apenas esperança, mas também uma provocação inédita, de pensar num ‘plano para ressuscitar’ os corpos frágeis, cansados e desiludidos. Com a experiência da pandemia tomamos consciência viva de nossa pequenez e fragilidade”, reflete. E por isso pensa em exercícios que coloca a si mesmo. “Temos que buscar do fundo da alma as sementes de resiliência e esperança para lutar contra os descaminhos de nosso tempo da ‘rapidación’. E os anticorpos, como lembra Francisco, não podem ser senão a ‘justiça, a caridade e a solidariedade’”, acrescenta.
Faustino dedicou uma vida de estudos à mística, desenvolvendo uma sensibilidade para apreender muitos caminhos que levam ao Sagrado, o que é muito útil em tempos sombrios. Um desses caminhos é o da literatura e poesia brasileira, com cheiro de sertão e gosto de gente. E, talvez, seja por isso que consegue extrair uma teologia muito real, encarnada no humano, a partir de um clássico como Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa. “Aprendi ao ler o GSV que o maligno está sempre aí, nos rodeando por todo canto, com seu poder de contágio, e que o importante é cavar forças para reconduzir as coisas ‘a si próprias’, desvendando a ‘vozinha’ que habita também o mais fundo de nossa alma, e que nos ajuda a não prevaricar”, observa.
É por isso que nesta entrevista, concedida por e-mail à IHU On-Line, Faustino mergulha nesses traçados vicinais que podem nos levar para além do deserto de nossos tempos. “O caminho resvaloso se vence com muito amor, e com a ajuda de todas as nossas senhoras sertanejas, e em especial a Nossa Senhora da Abadia. E dá um alívio imaginar que, apesar do poder do demo, que age por todo canto, estamos envolvidos pela força protetora do Mistério Maior”, aponta, ao relacionar com a obra de Guimarães Rosa.
Além disso, o professor também fala de poesia, de autores e autoras, como Cecília Meireles, Clarice Lispector e Adélia Prado, que vão conectar-se com o belo e por ele alimentar a esperança de outros tempos. Também vai revelar como é preciso nos desconstruirmos e conhecer outros mundos revelados por Ailton Krenak e Davi Kopenawa. “Krenak sublinha que em diferentes partes do mundo os povos originários estão manifestando sua resistência contra os caminhos do desenvolvimento, e o fazem porque guardam ‘vivências preciosas’ que podem ser partilhadas nesses tempos de ruínas”, exemplifica.
Por fim, ainda olha para a música, como a de Gilberto Gil que, entre outros, nos ensina a entender e falar com Deus. Para Faustino, são caminhos que nos alimentam de outras forças para seguir não somente com esperança, mas renascendo de corpos doentes e cansados. “O falar com Deus hoje exige, de fato, aventurar-se por um nada criativo, que rompe com a cadeia dos deuses representados, nomeados pelas criaturas, e avançar para além, no sentido de um Deus que ultrapassa deus, de uma Deidade que se faz presente no tempo, e também no íntimo de cada um”, convida. Afinal, “é possível, sim, ressurgir a cada momento, de forma novidadeira, mesmo em tempos de ruína, aprendendo a dançar sobre escombros, como diz a poeta portuguesa Matilde Campilho”.
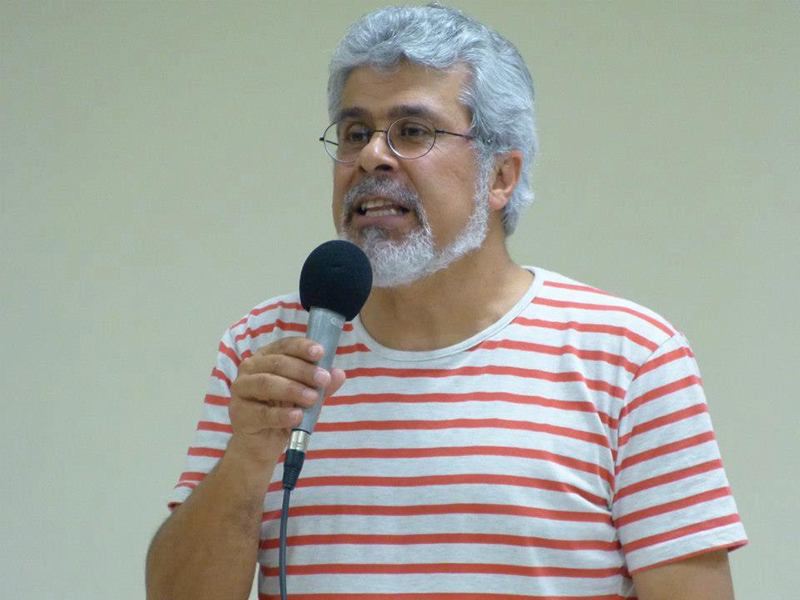
Faustino Teixeira (Foto: Arquivo Pessoal)
Faustino Teixeira possui graduação em Ciência das Religiões pela Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF, graduação em Filosofia pela mesma instituição. É mestre em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana, de Roma, na Itália. Atualmente é professor convidado da UFJF, no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião, depois de sua aposentadoria como professor titular na mesma Universidade. Dos últimos livros publicados, destacamos Malhas da Mística Cristã (Curitiba: Appris, 2019). Antigo colaborador do IHU, é idealizador das publicações semanais da seção Oração Inter-religiosa e, mais recentemente, das Orações Inter-religiosas Declamadas.
IHU On-Line – O Natal é sempre um tempo de esperança e celebração pelo que há de vir. Mas o ano de 2020 tem severamente revelado muitas dores e desafios. Como, a partir de nossa realidade concreta, animar a nós e aos outros para que renovemos as esperanças?
Faustino Teixeira – Tenho um carinho muito especial pelo Natal, quando celebramos a festa desse menino, nascido de mulher, que veio encantar o nosso tempo. Os mestres de folia cantam aqui no Brasil com vigor e emoção o dia especial em que esse menino veio ao mundo. Na preciosa voz de Ely Camargo, um dos cantos fala da “hora solene” e da “noite tão bonita” em que o menino foi nascido, “para dar exemplo ao mundo”.
Cada vez que ouço essa canção, a emoção repercute no mundo interior e sinto uma vibração singular, que reverbera. Assim como quando leio Alberto Caeiro, no Guardador de Rebanhos, falando dessa criança que de tão humana é divina; da “Criança Nova” que habita no coração de nosso mundo, e nos ensina a cada dia a “olhar para as coisas”, e olhar devagar, com devoção, ternura e carinho. Não é uma criança como outra, mas a “Eterna Criança” que mora junto a cada um de nós, o “divino que sorri e brinca”.
É esse menino que brilha para nós, mesmo nesse ano sombrio de 2020, um dos mais estranhos que vivemos no novo milênio. O sentimento que temos não é dos mais alvissareiros, mas de muita dor e desorientação, quando vemos a morte chegar assim tão perto, atingindo a amigos ou parentes queridos. Aquela imagem televisiva dos caminhões do exército, na Itália, levando os caixões para o sepultamento, é uma imagem que guardamos com dor, e não esquecemos. O papa Francisco, naquele fim de tarde de 27 de março, sozinho na Praça São Pedro, é outra imagem que fica para nós, fortíssima, a nos recordar a dor de uma peste que mostra suas violentas garras. Diante de milhões de assistentes, na TV, Francisco de branco, sem o sorriso que conhecemos, fala ao vazio:
“Desde há semanas que parece o entardecer, parece cair a noite. Densas trevas cobriam as nossas praças, ruas e cidades; apoderaram-se das nossas vidas, enchendo tudo dum silêncio ensurdecedor e um vazio desolador, que paralisa tudo à sua passagem: pressente-se no ar, nota-se nos gestos, dizem-no os olhares. Revemo-nos temerosos e perdidos” [1].
A dura epidemia veio agravar uma situação que, em verdade, já estamos observando há tempos, com os descaminhos do Antropoceno, esse tempo de “perturbação humana”. Não é de hoje que vamos experimentando a nossa limitação e vulnerabilidade, esse sentimento de “perda de mundo”. E isto é muito difícil para qualquer um, pois “o direito mais elementar é o de sentir-se seguro e protegido, sobretudo num momento em que as antigas proteções estão desaparecendo” [2].
O Natal traz para nós não apenas esperança, mas também uma provocação inédita, de pensar num “plano para ressuscitar” os corpos frágeis, cansados e desiludidos. Com a experiência da pandemia tomamos consciência viva de nossa pequenez e fragilidade. A partir dela temos que buscar do fundo da alma as sementes de resiliência e esperança para lutar contra os descaminhos de nosso tempo da “rapidación”. E os anticorpos, como lembra Francisco, não podem ser senão a “justiça, a caridade e a solidariedade”. Bruno Latour nos convida a prolongar o gesto profético de Greta Thunberg de impor “gestos barreira” que sejam capazes de barrar a loucura dessa globalização da indiferença.
IHU On-Line – Em outras entrevistas que o senhor nos concedeu, destacou uma leitura mística de Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa. Hoje, diante de todos os desafios e tensões vividas, que chaves de leitura indica para pensarmos sobre o bem e o mal, o desespero e a esperança a partir dessa obra?
Faustino Teixeira – Tenho mesmo um “caso” com Grande Sertão: Veredas (GSV) [3]. É um livro que me ajudou de forma exemplar a compreender o mistério do “homem-humano”, a desvendar sua dimensão de ambiguidade. Não somos apenas esse “dom” precioso de Deus, mas nos vemos surpreendidos também com uma dimensão “torva da alma”, o “avesso” nosso, que faz explodir muitas vezes traços estranhos de um ódio que não tem razão ou explicação (GSV 284). Ele apenas surge e desencaminha nossa rota.
Aprendi ao ler o GSV que o maligno está sempre aí, nos rodeando por todo canto, com seu poder de contágio, e que o importante é cavar forças para reconduzir as coisas “a si próprias”, desvendando a “vozinha” que habita também o mais fundo de nossa alma, e que nos ajuda a não prevaricar. É essa vozinha que Thomas Merton chamou de “ponto virgem” [4], esse ponto intocado, de beleza singular, esse recanto “de miúdos remansos aonde o demônio não consegue espaço de entrar” (GSV 338), esse pontinho de nada que é a razão mais profunda do nosso ser.
Há que seguir a intuição de Riobaldo e manter sempre acesa a coragem, mas também, o que é fundamental, acertar no caminho de vida escolhido: “o espírito da gente é cavalo que escolhe estrada: quando ruma para a tristeza e morte vai não vendo o que é bonito e bom” (GSV 138). Comentando o lindo poema de Murilo Mendes, “Jogo”, Silviano Santiago reconhece que a vida é “cara ou coroa”: “a cara (da moeda) da vida é excludente, mas a coroa (da moeda) da vida é amorável. Se se guarda a moeda na mão fechada, ela dá sempre cara. É bom abrir a mão generosamente para que dê coroa. Deus e o demônio, o amor e o abandono, atividade e solidão” [5].
Guimarães Rosa tinha um apreço especial pela alegria, e esse toque de luz perpassa também o Grande Sertão: Veredas, bem como outros romances do escritor. Diante de tanta maldade no mundo, Rosa chora, e chora “porque ao mundo faltava aquela santa alegria, que tanto desejava” [6].
IHU On-Line – O que mais o seduz e encanta na obra de Guimarães Rosa? Como ler esse autor?
Faustino Teixeira – Muitas coisas me seduzem em Guimarães Rosa, talvez um dos maiores escritores do século XX. Fixo-me aqui no romance Grande Sertão: Veredas. Sou tocado pela forma como aborda a ambiguidade no ser humano, a presença da religiosidade como eixo organizador do nomos fundamental, a forma magnífica como trata o amor e suas neblinas, e também a beleza como descreve a natureza, suscitando um amor profundo pelos pequenos sinais do cotidiano. É esplêndida a capacidade documental de Guimarães Rosa, seu potencial de expressar “os grandes lugares comuns”: os grandes rios de Minas, o vento, os buritis, e o Mar, esse “grande desconhecido, mistério que se associa à morte, à eternidade, ao fim de tudo, quando a vida deságua no infinito” [7].
Na ocular de Paulo Dantas, escritor que foi seu grande amigo, Rosa “não é só o nosso maior escritor de todos os tempos. É o próprio tempo – vida mineira presente, passada, vida mais do que narrativa, vida vivida posta em letra e forma” [8]. O seu grande romance é peça preciosa, que a cada leitura desvenda novas e surpreendentes visadas. Ele trata de uma travessia perigosa, que na verdade é nossa vida mesma. Daí o traço metafísico da obra. Ele foi publicado em 1956, e no ano seguinte apareceu num suplemento da Tribuna da Imprensa um artigo de Afonso Arinos de Melo Franco, que expressa muito bem o significado do livro:
“Grande Sertão é como certos casarões velhos, certas igrejas cheias de sombra. No princípio, a gente entra e não vê nada. Só contornos confusos, movimentos indecisos, planos atormentados. Mas, aos poucos, não é luz nova que chega: é a visão que se habitua. E, com ela, a compreensão admirativa. O imprudente ou sai logo, e perde o que não viu, ou resmunga contra a escuridão, pragueja, dá rabanadas e pontapés. Então arrisca se chocar inadvertidamente contra coisas que, depois, identificará como muito belas.”
Nessa obra de Guimarães Rosa, como sublinha Antonio Candido, “há de tudo para quem souber ler, e nela tudo é forte, belo, impecavelmente realizado” [9]. Ao olhar superficial, a obra revela um romance de cavalaria, ou, nas palavras de Ferreira Gullar, que reagiu à obra: “uma história de cangaço contada para linguistas” [10]. Não, a obra é muito mais, tem uma dimensão metafísica que toca todo ser humano, uma vez que o sertão é o mundo e o jagunço Riobaldo somos nós. A metafísica de Riobaldo, assinala Paulo Mendes Campos, “percorre os tempos do mundo de ponta a ponta”[11]. Estamos diante de um potencial novidadeiro impactante, num “jorro de imaginação criativa” que não se esgota.
Grande Sertão: Veredas tem um poder de sedução que encanta, e também a capacidade de nos ajudar a entender o enigma do homem-humano, suas mazelas, tentações, violências, ódios; mas também o lado sedutor do amor faísca que vence a morte. Como apontou Fernando Sabino, em carta para Clarice Lispector, em julho de 1956, o livro é difícil de engatar logo no início, mas depois toma o leitor com seu ritmo encantatório que não o larga jamais. É um livro esplêndido, como também sublinhou Clarice, em resposta a Sabino: “Nunca vi coisa assim! É a coisa mais linda dos últimos tempos (...). O livro está me dando uma reconciliação com tudo, me explicando coisas adivinhadas, enriquecendo tudo” [12].
Gosto também no livro da forma genial com que Rosa delineia a dinâmica de transformação permanente do ser humano. Ele está sempre em processo de mudança: “O mais importante e bonito, do mundo, é isto: que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas – mas que elas vão sempre mudando” (GSV 24). E igualmente o poder de resiliência do humano, que nunca se deixa vencer pelo desânimo ou cansaço: “Todo caminho da gente é resvaloso. Mas, também cair não prejudica demais – a gente levanta, a gente sobe, a gente volta” (GSV 226). O caminho resvaloso se vence com muito amor, e com a ajuda de todas as nossas senhoras sertanejas, e em especial a Nossa Senhora da Abadia. E dá um alívio imaginar que, apesar do poder do demo, que age por todo canto, estamos envolvidos pela força protetora do Mistério Maior, do Deus que é “uma beleza de traiçoeiro”, que age é “na lei do mansinho”, que “ataca bonito, se divertindo, se economiza” (GSV 24).
IHU On-Line – Em alguma medida, a distopia do nosso tempo pode ser associada à nossa perda de sensibilidade de apreender o mundo que nos cerca, como fazia Guimarães Rosa? Por quê? E o que nos levaria à perda de sensibilidade, da habilidade de auscultar os sinais?
Faustino Teixeira – Através do olhar de Riobaldo, mas também de Diadorim, somos convidados a captar sinais que nos passam desapercebidos ao nosso redor. E em particular os elementos da natureza. Ao ler o GSV, nos deparamos com passagens belíssimas que nos abrem uma chave singular para uma nova leitura do mundo e da natureza. Como Riobaldo, somos desafiados a sentir os contornos do real, a “matéria vertente” que dá razão ao traço integral de nosso ser, apequenado por nossa trajetória usual.
Linda a passagem em que, advertido por Diadorim, Riobaldo começa a se dar conta da beleza de seu mundo ao redor. Passou a admirar o manuelzinho-da-crôa e outros pássaros, que antes eram apenas objeto de sua diversão com a espingarda (GSV 108). Aprendeu a olhar “com todo carinho” para as quisquilhas ou miudezas da natureza. Um outro exemplo bonito está no conto “Campo Geral”, na figura maravilhosa de Miguilim, com sua sensibilidade imarcescível. Vivendo distante de tudo, o menino desperta para algo novo quando um homem que chega na sua casa desconfia de algo errado em sua visão. Empresta, então, os seus óculos ao garoto e o espetáculo se realiza:
“Nem não podia acreditar! Tudo era uma claridade, tudo novo e lindo e diferente, as coisas, as árvores, as caras das pessoas. Via os grãozinhos de areia, a pele da terra, as pedrinhas menores, as formiguinhas passeando no chão de uma distância. E tonteava. Aqui, ali, meu Deus, tanta coisa, tudo...” [13].
E Miguilim, um pouco adiante, levanta uma interrogação central para a mãe: “Mãe, mas por que é, então, para que é, que acontece tudo?!” Uma pergunta sem resposta, que só pode encontrar guarida no regato da delicadeza e do carinho expresso pela mãe: “Miguilim, me abraça, meu filhinho, que eu tenho tanto amor...” [14].
Como parte da distopia de nosso tempo, que é tempo de perturbação e ruína, está a perda da capacidade de admiração. O místico e pensador judaico Abraham Heschel fala na perda de capacidade de maravilhar-se. Para ele, a maravilha é “a única bússola capaz de dirigir-nos para o polo do significado” [15]. Há, porém, que ter igualmente muita ira e fúria, sagradas, para denunciar os traços necrófilos produzidos e continuados pela ação do homem-humano, como fez lindamente a atriz Denise Fraga:
Santo Deus,
não aplaque a minha fúria.
Proteja a minha indignação dos dias iguais,
dos dias banais.
Renove a minha perplexidade diante do absurdo.
Deus, meu pai
mantenha aceso o fogo que incendeia a minha alma
para que eu possa forjar o magma da minha fúria
em assertividade e paixão.
Canalize o jorro da minha indignação furiosa
em gotas de lucidez implacável
para a minha luta diária
a caminho da verdade e da liberdade [16].
IHU On-Line – O sertão, cenário de obras de Guimarães Rosa e outros como João Cabral de Melo Neto, é árido, o sol castiga a pele e brinca com a vida, permitindo um florescer somente daquilo que é mais adaptado. Ainda assim, o sertanejo pode viver 100 anos noutras terras e nunca esquece do seu chão. Como o senhor compreende essa relação? E no que ela pode nos inspirar?
Faustino Teixeira – O sertão de Guimarães Rosa não é o mesmo sertão calcinado de Graciliano Ramos, como no caso de sua obra Vidas Secas, mas vem reconhecido como os campos gerais, “com suas pastagens boas para o gado, a perder de vista. E – pasmem – pela abundância de água” [18]. Há, porém, um significado simbólico quando Rosa trata do sertão: “o de um espaço amplo e perigoso, cheio de percalços e armadilhas, verdadeiro labirinto existencial, mas que admite brechas levando a saídas, vias de comunicação – talvez vias de salvação” [19].
No sertão de Rosa, não há apenas o lado fasto do sertão, que é o lado direito do rio São Francisco; há também o lado nefasto, com topografia existencial perigosa, que é o lado esquerdo do rio [20]. O jagunço de Rosa, personificado por Riobaldo Tatarana, é alguém corajoso, capaz de lidar com vigor com as situações mais adversas, e levantar de novo:
“O correr da vida embrulha tudo, a vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre a mais, no meio da alegria, e inda mais alegre no meio da tristeza” (GSV 230).
Mas o que vale para o sertanejo de Graciliano Ramos, ou o jagunço de Rosa, é uma impressionante “reserva ética” acumulada numa condição humana degradada, mas honrada. Os jagunços como Riobaldo querem “céu”, para além do “cansaço de esperança”; querem o “perfume da virgem”, que perdura e “dá saldos para uma vida inteira” (GSV 338); assim como a cachorra baleia de “Vidas Secas”, que sonha em acordar feliz “num mundo cheio de preás” [21].
IHU On-Line – Em Morte e Vida Severina, João Cabral de Melo Neto esboça um “Jesus Severino”. O que o senhor destaca como mais tocante nessa obra, que pode ser considerada um auto de Natal? E, novamente, como ela pode nos falar de esperança diante de nossa conjuntura, marcada especialmente pelos efeitos da crise pandêmica?
Faustino Teixeira – É uma das obras mais bonitas e simbólicas da literatura brasileira. Tive o privilégio de dirigir a peça quando era professor numa escola de Juiz de Fora, a Academia de Comércio, no final da década de 1970. Foi uma experiência única para mim e para toda a turma que fez parte da peça, que na ocasião teve uma viva repercussão em Juiz de Fora e nas redondezas.
A obra nos apresenta, de fato, um personagem muito especial, Severino, o retirante que atravessa muitas dificuldades numa vida “infeccionada” pela miséria e o sofrimento. Chega mesmo a pensar em suicídio, mas vem acordado novamente pelo milagre da vida, com sua surpresa e alegria. As ciganas não perdoam, e advertem Severino pelo que terá pela frente: “Aprenderá a engatinhar por aí, com aratus, aprenderá a caminhar na lama, com goiamuns, e a correr o ensinarão os anfíbios caranguejos, pelo que será anfíbio como a gente daqui mesmo”.
A vida falou mais forte que qualquer palavra: ela “respondeu com sua presença viva”. É a essa explosão de vida, que podemos vislumbrar nos interstícios da caminhada, como brechas salvadoras, suscitando um novo hálito para a travessia, que devemos nos apegar com esperança e alegria. É possível, sim, ressurgir a cada momento, de forma novidadeira, mesmo em tempos de ruína, aprendendo a dançar sobre escombros, como diz a poeta portuguesa Matilde Campilho.
IHU On-Line – O senhor é um apreciador da literatura e da poesia brasileira, capaz de apreender nelas uma mística que conecta com o sagrado. Quais obras com maior potência nesse sentido o senhor destacaria e por quê?
Faustino Teixeira – É tarefa muito difícil destacar poetas em particular, num campo literário tão rico como o nosso, com autores maravilhosos como Carlos Drummond de Andrade e Graciliano Ramos, dois ilustres maiores no repertório nacional. Mas citaria também Clarice Lispector, Manuel Bandeira, Marco Lucchesi e Mariana Ianelli, que são autores com os quais tenho uma afinidade surpreendente. A meu ver, a grande obra da literatura nacional é mesmo Grande Sertão: Veredas.
E respondo com o pensamento de Paulo Mendes Campos: “Porque esse livro conta uma história que ainda não ouviríamos, que precisávamos ouvir, uma história que agora se torna impossível imaginar não existindo”. E o que me impressiona em Rosa, sobretudo em GSV, é a capacidade linguística do autor: “Ávido por atribuir à língua o máximo de fluidez e plasticidade, ele a renova com todos os meios, sem preocupações com a estilística nem com as regras gramaticais tradicionais” [23].
IHU On-Line – Como o senhor analisa a mística feminina em nomes da poesia e da literatura, como Clarice Lispector e Cecília Meireles? Que outras mulheres o senhor destaca nesse mundo das letras, com uma mística tão particular?
Faustino Teixeira – Cecília Meireles é uma paixão antiga. Estar em contato com sua poesia é tocar o limiar do mistério. Difícil encontrar algum poeta que descreve a morte e o luto de forma tão magnífica como Cecília: “Minha tristeza é não poder mostrar-te as nuvens brancas, e as flores novas, como aroma em brasa, com suas coroas crepitantes de abelhas” [24]. Linda também a elegia a uma pequena borboleta, onde narra a morte daquela pequena vida, recém saída do casulo, “inacabada seda viva” [25].
Sublimes são os poemas escritos na Índia, onde a poeta alcança uma plasticidade e profundidade que comovem. Gosto muito do poema “Participação”, no qual Cecília descreve as mudanças que movem o olhar na medida em que se aproxima de uma mesquita. De longe, o que se avista são os minaretes. Na medida de uma maior aproximação, captam-se os pássaros embrenhados nas paredes ou os desenhos perfeitos. Mas mais próximo ainda, os sentidos captam “a velha voz do amor naquelas salas (...) e os nomes de Deus, inúmeros” [26].
Clarice é a paixão presente, que venho descobrindo a cada ano e me encantando como nunca. Com ela, a paixão pelos animais, a consciência de nossa proximidade deles, como “espécies companheiras”. Em sintonia com o conto de Rosa “Meu tio o Iauaretê”, Clarice descreve com arte a vontade de uma maior proximidade ao reino da pureza animal:
"Como se uma mulher tranquila tivesse simplesmente sido chamada e tranquilamente largasse o bordado na cadeira, se erguesse, e sem uma palavra – abandonando sua vida, renegando bordado, amor e alma já feita – sem uma palavra essa mulher se pusesse calmamente de quatro, começasse a engatinhar e a se arrastar com olhos brilhantes e tranquilos: é que a vida anterior a reclamara, e ela fora" [27].
Para os que estudam a mística, como no meu caso, são inspiradores alguns dos romances de Clarice, como A paixão segundo G.H. (1964), Água viva (1973) e Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres (1969). As crônicas de Clarice são também peças preciosas, dotadas de mistério e delicadeza que encantam.
É o caso de Estado de Graça. Ali ela aborda a leveza que envolve a experiência: “No estado de graça vê-se às vezes a profunda beleza, antes inatingível, de outra pessoa” [28]. Um tal estado não é algo requerido, mas vem de graça, sem razão: “só vem quando quer e espontaneamente”. E nem seria viável acontecer como rotina na vida de uma pessoa, pontuada pelo “destino simplesmente humano”. É algo que também não pode durar muito tempo, pois romperia um “mistério” da Natureza [29].
Poderia destacar ainda a poeta mineira Adélia Prado, com sua singular capacidade de captar o ritmo cotidiano da vida e o Mistério que se irradia por todo canto. A riqueza e ousadia de seus poemas tocam uma dimensão erótica da religiosidade raramente encontrada nos poemas brasileiros.
IHU On-Line – Muito recentemente, os escritos e pensamentos de indígenas como Davi Kopenawa e Ailton Krenak têm ganhado espaço. O que as letras desses integrantes de etnias originárias de nossa terra têm nos revelado? Que leitura o senhor tem feito dessas obras?
Faustino Teixeira – Fiz a leitura da obra de Davi Kopenawa e Bruce Albert, A queda do céu, ainda em sua versão francesa, que foi a original, publicada em 2010. A tradução brasileira só saiu em 2015, com sugestivo prefácio de Eduardo Viveiros de Castro: O recado da mata [30]. A leitura do livro provocou em mim uma mudança paradigmática, sendo fundamental para minhas atuais reflexões em torno das questões relacionadas à religião, cultura e diálogo inter-religioso.
A obra demorou vinte anos para ser gestada, e foi realizada com muito esmero. Como mostrou Eduardo Viveiros de Castro em seu prefácio, a obra constitui “um acontecimento científico incontestável”, e mesmo para a comunidade antropológica só deverá ser assimilada em alguns anos. A obra é fundamental porque lança um novo olhar sobre um dos fundamentais povos originários, os Yanomami, lançando um forte questionamento à tradicional visão antropocêntrica dos brasileiros e os povos de outras nacionalidades do Novo Mundo, “embrutecidos pelos mesmos velhos sonhos de cobiça e conquista e império vindos nas caravelas, com a cabeça mais ‘cheia de esquecimento’, imersa num tenebroso vazio existencial” [31]. O livro é uma expressão patente de novos tempos na reflexão antropológica e mesmo nas ciências humanas, quando se abre espaço para a voz das cosmologias antigas e suas inquietações, que como mostrou Bruno Latour, não são assim tão infundadas [32].
Davi Kopenawa sinalizou com extrema sensibilidade que esse dualismo que rege o pensamento tradicional entre cultura e natureza é extremamente pobre. Isto se reflete também na visão sobre o meio ambiente: “Na floresta, a ecologia somos nós, os humanos. Mas são também, tanto quanto nós, os xapiri, os animais, as árvores, os rios, os peixes, o céu, a chuva, o vento e o sol. É tudo que veio à existência na floresta, longe dos brancos; tudo que ainda não tem cerca” [33].
Quanto a Ailton Krenak, a familiaridade também é grande. Ele foi agraciado aqui em nossa Universidade (UFJF) com o prêmio de doutor honoris causa, em 2016. Sobre o seu pensamento, temos o livro publicado na Azougue Editorial (2015), organizado por Sergio Cohn [34]. O livro foi apresentado por Eduardo Viveiros de Castro, que indicou que a obra “merece um lugar bem ao lado do monumental A queda do céu” [35]. Krenak e Kopenawa
"são índios que se ‘descobriram’ índios, que voltaram a ser índios sem nunca deixar de tê-lo sido; são sobreviventes de massacres e epidemias, que ficaram longe de seus povos por anos; que tomaram como missão refletir, a partir de seu exílio forçado e seu trabalho de campo reverso, sobre sua condição, sobre sua diferença insistente perante os destruidores de seus mundos, e a partir daí ser capaz de falar a estes últimos, de resistir a eles, de indicar por onde passa o corte, a divergência, e quais são as possibilidades de um entendimento possível...” [36].
Krenak voltou a publicar recentemente dois livros fundamentais: Ideias para adiar o fim do mundo (2019) e A vida não é útil (2020), ambos pela Companhia das Letras. Nos livros ele denuncia sobretudo a “falta de reverência” dos humanos com respeito aos outros seres da natureza, com “as outras companhias que fazem essa viagem cósmica com a gente” [37]. Sua ocular é radicalmente crítica aos rumos do Antropoceno, esse tempo de “perturbação humana”. A seu ver, o que hoje está ocorrendo, de forma mais impressionante, é uma queda ininterrupta: “A gente não fez outra coisa nos últimos tempos senão despencar. Cair, cair, cair” [38].
No livro A vida não é útil, Krenak sublinha que em diferentes partes do mundo os povos originários estão manifestando sua resistência contra os caminhos do desenvolvimento, e o fazem porque guardam “vivências preciosas” que podem ser partilhadas nesses tempos de ruínas [39]. É bem incisivo quando diz que “temos que parar de nos desenvolver e começar a nos envolver”. Quando escreveu o livro, a pandemia da covid-19 já estava em curso. Krenak relata como ela conseguiu manter parte da população em casa, alterando a vida produtiva. Se a peste conseguiu desacelerar o ritmo da produção, é possível que os seres humanos possam também reagir com desaceleração, ouvindo o chamado ancestral que indica a necessidade de “parar de predar o planeta”. Ele diz: “Nós somos muito piores do que esse vírus que está sendo demonizado como a praga que veio para comer o mundo. Somos nós a praga que veio comer o mundo” [40]. Sinaliza que é possível uma existência diversa, que “não se rendeu ao sentido utilitário da vida”.
Para tanto, é necessário criar “um lugar de silêncio interior” para refletir e agir diversamente.
IHU On-Line – Como a experiência da pandemia pode ressignificar a nossa vivência do Natal, do contato com os outros e a própria relação com o planeta?
Faustino Teixeira – Os tempos atuais são propícios para uma ampliação do olhar, e sobretudo romper com a ideia problemática de um antropocentrismo que situa o ser humano como umbigo do mundo ou ponto de convergência de todas as energias da Terra. Isso é um equívoco que traz como fruto violência e exclusão. Somos, na verdade, parte do vivente, como espécie companheira e não dominadora. Essa é a grande lição para o século XXI, que parece dar continuidade ao descalabro que foi o século XX, o mais violento de todos os tempos, como afirma Eric Hobsbawm.
Somos convocados, como diz o papa Francisco, a uma nova solidariedade em favor de uma outra globalização, a da solidariedade e comunhão. A palavra-chave é interconexão. Estamos estreitamente ligados a todos os seres e devemos respeitar esse laço essencial, que é condição para a nossa ressurgência. Para além da indiferença cotidiana, devemos ouvir o grito da Terra e o grito dos pobres. O horizonte desejado é o da “comunhão universal”. Como indicou Francisco em sua última encíclica sobre a fraternidade e a amizade social, “ninguém amadurece nem alcança a plenitude isolando-se. Por sua própria dinâmica, o amor exige uma progressiva abertura, uma maior capacidade de acolher os outros” [41], expandindo o “nosso repertório de ‘pessoas’”. Esses outros hoje têm uma amplitude maior, para além do “nós” que encerra a dinâmica antropocêntrica.
IHU On-Line – Ainda nesse sentido, Milton Nascimento e Beto Guedes, em “Nada será como antes”, dizem:
Sei que nada será como antes amanhã
Que notícias me dão dos amigos?
Que notícias me dão de você?
Sei que nada será como está
Amanhã ou depois de amanhã
Levando em consideração que no pós-pandemia ‘nada será como antes’, como o senhor vê o ‘amanhã ou depois de amanhã’? E como devemos construir esse tempo?
Faustino Teixeira – Estamos ainda no coração da covid-19, e o que vemos ao nosso redor ainda é muita irresponsabilidade, a começar pelos nossos próprios dirigentes, incapazes de lidar com a gravidade da situação. Não sei se tudo será como antes, como indica a canção. Há indícios de que as coisas vão continuar em ritmo semelhante ao que ocorria antes do vírus chegar. O mundo será ainda permeado pelos grandes desvios que marcam o nosso modo de ser no Antropoceno.
Como disse um filósofo amigo, Carlos Drawin, numa rede particular, “o mundo pós pandêmico não será mais o mesmo (...). O mundo vai ser mais duro, o trabalho mais precarizado, a competitividade maior (...). As contradições vão ficar mais acirradas e mais nuas sem a máscara imaginária dessa onipotência narcísica pós-moderna”. Tudo tende a piorar, a não ser que intensifiquemos os “gestos barreira”, de que fala Bruno Latour em recente publicação [42]. Não há saída viável sem que todos nós, juntos, possamos lutar para interromper ou barrar a globalização em curso. Como diz Latour:
“O que o vírus consegue com a humilde circulação boca a boca de perdigotos – a suspensão da economia mundial – nós começamos a poder imaginar que nossos pequenos e insignificantes gestos, acoplados uns aos outros, conseguirão: suspender o sistema produtivo” [43].
Quem sabe não pode haver também brechas para uma “era de emergências”, em rota de vivo questionamento ao tempo presente de “perturbação humana” ou de afirmação de “ecologias de proliferação da morte”. Para isso é necessário ampliar nossa fúria contra o senso comum e dar início, pacientemente, a caminhos alternativos da habitabilidade mais integrada e hospitaleira. Talvez seja possível, de alguma forma, traços de ressurgência positiva em favor de ecologias habitáveis [44].
IHU On-Line – Gilberto Gil diz que ‘se quiser falar com Deus é preciso desatar os nós’. O que, hoje, é preciso para falarmos com Deus? E o que ele nos diria?
Faustino Teixeira – Essa é uma das mais preciosas canções de Gilberto Gil, composta em 1980 para Roberto Carlos. Ele tinha pedido a Gil uma canção e Gil prontamente realizou. Ocorre que o rei não se sentiu à vontade para acolher a música, e disse que “aquela não era a ideia de Deus” que ele tinha. E Gil respeitou, tendo falado mais tarde a respeito: “Respeito a visão que ele tem. Como uma religião deve respeitar a outra. É essa exigência do respeito que ele teve por ele mesmo, no sentido de não trair o menino cristão” [45]. A canção, na verdade, tinha um perfil mais filosófico que propriamente religioso. Não era “necessariamente sobre um Deus, mas sobre a realidade última; o vazio de Deus: o vazio-Deus” [46].
Ao falar sobre essa canção, Gil indica que sua composição nasceu como uma “interrogação” feita pelo compositor a si mesmo, uma forma de responder à questão fulcral: “Se eu quiser falar com Deus, o que é necessário?”. Já estava em curso, na ocasião, a linda ideia de Gil que identifica Deus como movimento, potencial e virtualidade, que vai adornar a canção Tempo Rei, de 1984. Gil identifica três movimentos na música, que podem ser associados ao Pai, ao Cristo e a Buda.
Essa ficha só caiu posteriormente, e não na ocasião da composição. Foi fruto de uma interpretação tardia, mas plausível. Na primeira estrofe, o tema que está presente é o do Pai, das condições que presidem à relação com ele. Para tanto é necessário muito despojamento: há que “ficar a sós”, “calar a voz”, “encontrar a paz” e “folgar os nós”. Tudo tão atual...
Na segunda estrofe entra o tema do Filho: para encontrar a Deus tem que ocorrer seguimento, ou seja, “aceitar a dor” e “comer o pão que o diabo amassou”. Há que passar por doses de tristeza e renúncias, sem perder, porém, a alegria que deve alegrar o coração. Finalmente, a terceira estrofe tem um toque budista, de radical desvencilhamento dos apegos: “Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus, sem cordas para segurar”. A estrada da vida, sublinha Gil, tem como horizonte derradeiro o nada, o vazio búdico [47]. Daí a significativa sequência de 13 nadas presentes na última estrofe, que guardam um simbolismo muito especial. São como “sucessivas camadas de buraco, criando a expectativa de algo e culminando como uma luz no fim (do túnel, da estrada, da vida) ...” [48].
Com base nessa linda letra de Gil, devo dizer que o falar com Deus hoje exige, de fato, aventurar-se por um nada criativo, que rompe com a cadeia dos deuses representados, nomeados pelas criaturas, e avançar para além, no sentido de um Deus que ultrapassa deus, de uma Deidade que se faz presente no tempo, e também no íntimo de cada um, mas que escapa às representações movediças e ambíguas tecidas pelo repertório ambivalente e nebuloso das palavras humanas.
IHU On-Line – Deseja acrescentar algo?
Faustino Teixeira – Gostaria apenas de indicar aos leitores do IHU o belíssimo discurso de Marco Lucchesi na cerimônia de posse da diretoria da Academia Brasileira de Letras - ABL para o ano de 2021. Suas palavras foram doses de luz, coragem, ousadia e esperança em tempos tão sombrios. Dedicou seu discurso às primas Emilly e Rebecca, de 4 e 7 anos, que foram fuziladas em Duque de Caxias, no dia 06 de dezembro de 2020. Diante de uma assembleia vazia, Lucchesi discursou em rede para a comunidade dos amigos da ABL [o discurso está no vídeo abaixo, com toda cerimônia de posse. A fala que Faustino indica está a partir de 19min30s do vídeo].
Num discurso extremamente duro, Lucchesi manifestou a solidariedade da Academia a todas as vítimas da violência no Brasil. Sublinhou que o ano de 2020 tem sido um ano de “tempestade perfeita”, de “terra em transe”. No Brasil, em particular, foi um ano de “democracia hipertensa”, de atos necrófilos contra os povos e a terra amazônica. De dirigentes da nação ouviram-se frases que desenham uma verdadeira “ontologia do horror”.
Foi também um tempo frágil de debate e de diálogo, numa sociedade civil atemorizada pela pandemia do coronavírus. Diante de tudo isso, assinalou a importância da ação das instituições culturais, que “não podem calar sua voz e nem tampouco deixar de cumprir seu destino”. Um discurso que fecha o ano com chave de ouro para, quem sabe, um novo despertar.
[1] Momento extraordinário de oração em tempo de epidemia presidido pelo papa Francisco. Adro da Basílica de São Pedro, sexta feira, 27 de março de 2020:
[2] Bruno LATOUR. Onde aterrar? Como se orientar politicamente no Antropoceno. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2020, p. 20.
[3] João Guimarães ROSA. Grande Sertão: Veredas. 22ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.
[4] Thomas MERTON. Reflexões de um espectador culpado. Petrópolis: Vozes, 1970, p. 151, 175 e 183.
[5] Silviano SANTIAGO. Genealogia da ferocidade. Ensaio sobre Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa. Recife: Cepe, 2017, p. 68-69.
[6] Paulo DANTAS. Sagarana emotiva. Cartas de J. Guimarães Rosa. São Paulo: Duas Cidades, 1975, p. 27.
[7] M. Cavalcanti PROENÇA. Trilhas no Grande Sertão. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Cultura – Departamento de Imprensa Nacional, 1958, p. 65.
[8] Paulo DANTAS. Sagarana emotiva, p. 39.
[9] Antonio CANDIDO. Tese e antítese. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1971, p. 121.
[10] Silviano SANTIAGO. Genealogia da ferocidade, 19.
[11] Veja aqui (Paulo Mendes Campos, 13 de outubro de 1956).
[12] João Guimarães ROSA. Grande Sertão: Veredas, p. 439-440.
[13] João Guimarães ROSA. Campo Geral. São Paulo: Global 2019, p. 128.
[14] Ibidem, p. 129. A questão de Miguilim nos faz recordar o verso de Caetano Veloso em Cajuína – “Existirmos: a que será que se destina”.
[15] Abraham Joshua HESCHEL. L´uomo non è solo. Una filosofia della religione. Milano: Mondadori, 2001, p. 29.
[16] Confira também nas Orações Inter-religosas declamadas.
[18] Walnice Nogueira GALVÃO. Guimarães Rosa. São Paulo: Publifolha, 2000, p. 29.
[19] Ibidem, p. 29-30.
[20] Antonio CANDIDO. Tese e antítese, p. 124-125.
[21] Graciliano RAMOS. Vidas secas. Rio de Janeiro, 2018, p. 181.
[23] Paulo RÓNAI. Rosa & Rónai. O universo de Guimarães Rosa por Paulo Rónai, seu maior admirador. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2020, p. 202.
[24] Cecília MEIRELES. Obra poética. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1985, p. 303 (Elegia – 1933-1937).
[25] Ibidem, p. 318-319.
[26] Ibidem, p. 636-637.
[27] Roberto Corrêa dos SANTOS (Curadoria). As palavras de Clarice Lispector. Rio de Janeiro: Rocco, 2013, p. 130 (trecho de A paixão segundo G.H.).
[28] Clarice LISPECTOR. Todas as crônicas. Rio de Janeiro: Rocco, 2018, p. 93.
[29] Ibidem, p. 94-95.
[30] Davi KOPENAWA & Bruce ALBERT. A queda do céu. Palavras de um xamã yanomami. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.
[31] Ibidem, p. 15 (prefácio).
[32] Ibidem, p. 35.
[33] Ibidem, p. 480.
[34] Ailton KRENAK. Encontros. Rio de Janeiro: Azougue, 2015.
[35] Ibidem, p. 11 (apresentação).
[36] Ibidem, p. 13.
[37] Ailton KRENAK. Ideias para adiar o fim do mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 2019, p. 31.
[38] Ibidem, p. 30.
[39] Ailton KRENAK. A vida não é útil. São Paulo: Companhia das Letras, 2020, p. 115.
[40] Ibidem, p. 64.
[41] FRANCISCO. Fratelli tutti, sobre a fraternidade e a amizade social. São Paulo: Paulus, 2020, n. 95.
[42] Bruno LATOUR. Onde aterrar? Como se orientar politicamente no Antropoceno. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2020, p. 131.
[43] Ibidem, p. 131.
[44] Anna Lowenhaupt TSING. Viver nas ruínas. Paisagens multiespécies no Antropoceno. Brasília: IEB Mil folhas, 2019.
[45] Bené FONTELES. Gil luminoso. Brasília/São Paulo: Editora Universidade de Brasília/Sesc, 1999, p. 215.
[46] Carlos RENNÓ (Org). Gilberto Gil, todas as letras. São Paulo: Companhia das Letras, 2003, p. 292.
[47] Bené FONTELES. Gil luminoso, p. 213.
[48] Carlos RENNÓ (Org). Gilberto Gil, todas as letras, p. 292.