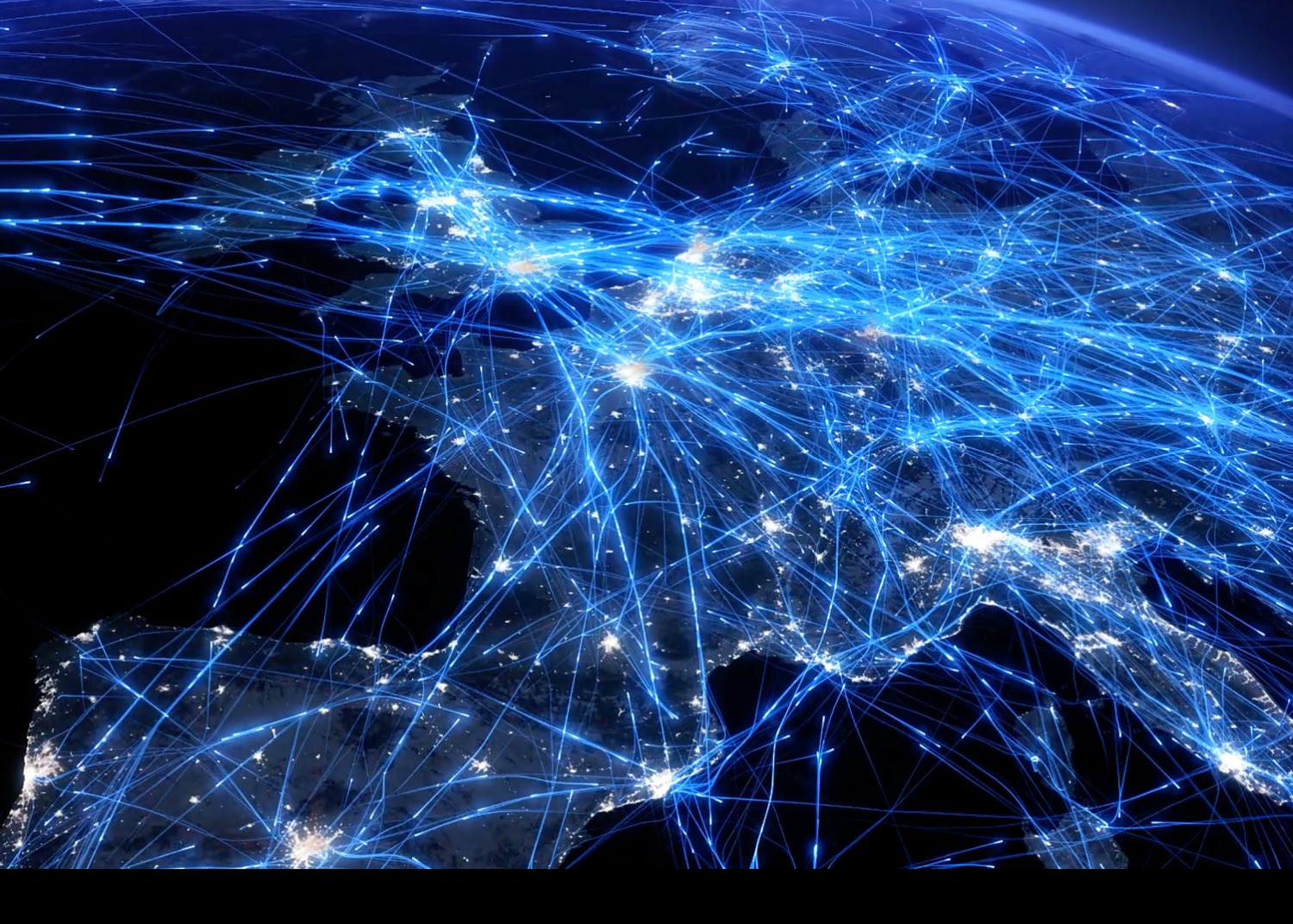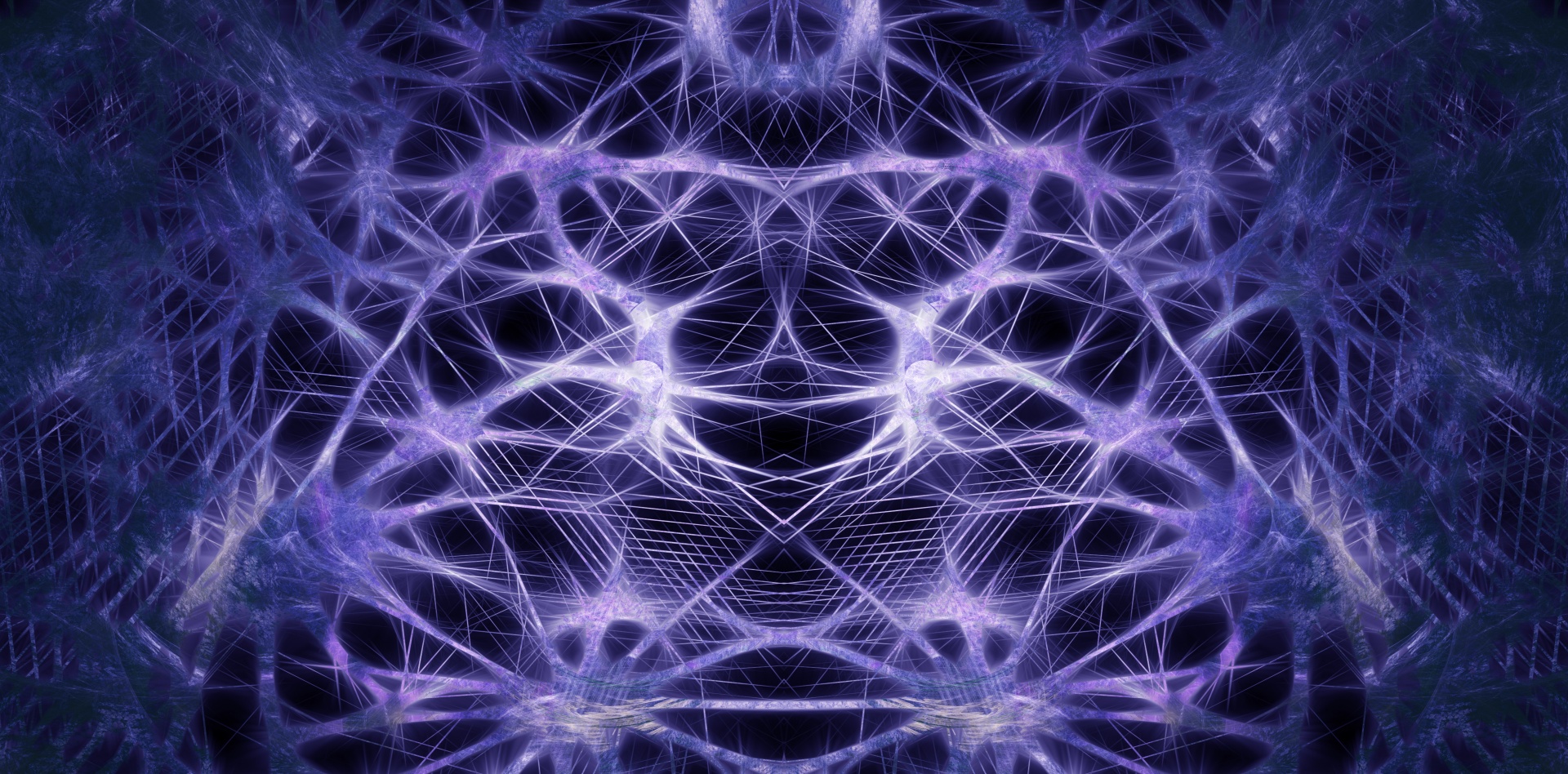28 Março 2020
Ingrid Guardiola, professora e pesquisadora cultural, aborda o papel das tecnologias em nossos imaginários coletivos em El ojo y la navaja: um ensayo sobre el mundo como interfaz (Arcadia). Aqui, responde várias perguntas por escrito.
A entrevista é de Berna González Harbour, publicada por El País, 22-03-2020. A tradução é do Cepat.
Eis a entrevista.
Esta crise volta a valorizar as relações físicas reais. A relação virtual perderá prestígio em comparação à física tradicional ou, pelo contrário, se reafirmará neste contexto de confinamento?
Acredito que esses momentos de confinamento não apenas provocam um uso excessivo da tecnologia digital conectada (um barulho global insuportável), como também, em muitos casos, estão gerando um uso consciente das ferramentas, ganham valor.
Seria hipócrita e esnobe não enxergar assim, eu mesma estou a vivendo assim. Meu filho de dois anos me disse que quer entrar na tela para ver seus primos. Com meus alunos, fazemos aulas virtuais com programas nos quais nos conectamos juntos. A conexão abre passagem à comunicação, a relação virtual permite traçar uma experiência coletiva, sentimo-nos parte de uma comunidade.
Nesse momento, penso em três cenários:
1) Aqueles que não precisam fazer o trabalho remoto, contam com o tempo e as ferramentas de comunicação, mas também com o dilema sobre o que fazer com tudo isso. Este passo havíamos pulado: como nos relacionamos com essas ferramentas?
2) Também está ocorrendo um abuso irrefletido, está claro, e inclusive as pessoas fizeram aflorar o influencer que carrega dentro delas, tornando as redes sociais um espaço tomado por identidades dominantes (branco, homossexual, classe média), fazendo coisas supostamente graciosas ou instruindo o público.
3) E aqueles que, diante do pânico, buscam uma terapia transitória pelas telas para não pensar nas devastadoras futuras consequências.
Que risco corremos pelo excesso de dependência da tecnologia e Internet?
Este risco já existia, são ferramentas esboçadas para que sejamos dependentes, geram vício. Para mim o problema não é a dependência destas tecnologias, mas como as empresas do capitalismo de plataforma estão acumulando mais poder do que já tinham, e isso não estava previsto a tão curto alcance: Google-YouTube, Amazon (acaba de anunciar a contratação de mais de 100.000 novos trabalhadores nos Estados Unidos), as teleoperadoras, Facebook (WhatsApp), Microsoft (Skype), Netflix... e as grandes cadeias comerciais.
O confinamento está nos levando a consumir por meio desses monopólios baseados em companhias que funcionam como plataformas de dados. Há alternativas (Filmin, Zoo, Teatroteca, meios de comunicação especializados, os canais de muitas instituições culturais, os livros – imprescindíveis -, etc.), mas, sobretudo, será o caso de, quando tudo isso passar, recuperarmos o comércio de proximidade, a cultura de proximidade e uma aproximação responsável com o consumo e a política, votando não a partir da punição, a inércia e o medo, mas da certeza de que aqueles em quem votamos priorizarão o bem comum, as lógicas distributivas, frente à tendência sociopata dos mercados e das políticas mais reacionárias.
Em termos de empatia, as redes nos permitem substituir o que uma conversa presencial oferece?
Sherry Turkle (En defensa de la conversación, Ático de los Libros) e a psicanalista britânica Gillian Isaacs Russell publicaram um artigo no qual afirmavam que alguns já sonham que a inteligência artificial e a robótica logo poderão simular a experiência emocional e as consciências de estar fisicamente com outra pessoa, como uma intimidade artificial. Contudo, o confinamento evidenciou que há um elemento que o cativeiro inibe, e é o acaso.
Nas formas de comunicação humana, existe um componente de acaso muito estimulante, concernente ao progressivo, ao que está vivo. Sem isso, não é possível nem mesmo pensar. O pensamento é um processo em curso, aberto. A inteligência artificial não poderá arremedar o imprevisível. O que dá medo não é que a máquina se humanize, mas que nós nos maquinizemos. Se a conversa é presencial, existem mais elementos para o acaso, mas as conversas on-line também geram autoestima e empatia.
A diferença reside em que as conversas não presenciais podem ser rompidas sem motivo aparente, são mais transitórias, nem sempre seguem um início-desenvolvimento-fim, são mais fragmentadas. Há fenômenos como o ghosting que encontram na esfera virtual seu melhor aliado. Isto nos faz sentir vulneráveis. Com o confinamento, a conversa virtual adquire outra dimensão. Por não haver alternativa, esse uso interessado, conectivo, aleatório, é substituído por uma comunicação mais buscada, mais certeira.
Corremos o risco de ser arrastados pelo algoritmo ou saberemos buscar informação credível?
O espectro comunicativo mudou radicalmente. Nas redes sociais e em alguns outros meios, são oferecidos serviços de terapia cultural ou ofertas de conteúdos de qualidade, ao passo que nos canais oficiais públicos ou mais gerais privados prima-se pela informação sobre a pandemia e as convocações oficiais. Diante de um cenário tão monolítico (pouca diversidade informativa), o risco de sermos arrastados pelo algoritmo não é tão diferente do risco de se criar uma agenda reducionista e alarmista.
De fato, a falta de profissionais e o momento excepcional que vivemos faz com que não possa ser de outra maneira. Já não existem refugiados, nem a justiça, nem uma monarquia fraudulenta... Só em alguns meios de comunicação especializados on-line, e a duras penas nos meios de comunicação que se jactam como “serviço público” [...]. O que, sim, é verdade, é que os algoritmos estão aprendendo muito sobre nós. As consequências veremos em breve, quando tivermos uma distância crítica, física e emocional suficiente.
Existe o risco de a brecha digital aumentar nesses dias?
Sim, claro, há o risco de aumentar a brecha digital. Mas também a brecha salarial, trabalhista, cultural...
Leia mais
- Os desafios de uma tecnologia que sirva ao humano e não que se sirva do humano. Revista IHU On-Line, Nº. 544
- Um guia para compreender a quarta Revolução Industrial. Revista IHU On-Line, N° 506
- Homo Deus e a grande revolução algorítmica no século XXI. Revista IHU On-Line, Nº 516
- Vaticano, governo, Microsoft, IBM e Fao. Nasce a carta ética para a inteligência artificial
- Encerrada a sessão plenária da Pontifícia Academia para a Vida. Uma linguagem ética para a inteligência artificial
- Por uma inteligência artificial humanística. Entrevista com Paolo Benanti
- Direitos na era do algoritmo. Entrevista com Andrés Gil Domínguez
- Apelo de Roma por uma ética da inteligência artificial
- "Estudamos a inteligência artificial. O Papa nos pediu", afirma D. Vincenzo Paglia
- O Vaticano reúne especialistas mundiais em ética da inteligência artificial
- Como lutar contra o racismo da inteligência artificial
- Inteligência artificial: a máquina capitalista que pensa como uma empresa. Artigo de Paolo Benanti
- A inteligência artificial e o fim do trabalho. Artigo de Andrea Komlos
- Karl Marx, 200 anos. Do capitalismo industrial às lógicas do mundo em rede
- 'Tenho esperança na Humanidade. Vamos sair melhores', aposta o papa Francisco
- A fé em tempos de coronavírus. Artigo de James Martin
- Lições dadas pelo coronavírus da COVID-19: Um decrescimento “ordenado” é possível
- O coronavírus de hoje e o mundo de amanhã, segundo o filósofo Byung-Chul Han
- Coronavírus. Artigo de Raoul Vaneigem
- As pandemias e o fantasma do medo
- O vírus do medo
- Nos dias de vírus, para encontrar Deus não são necessárias igrejas e celebrações: o convite do biblista Maggi
- O vírus também divide as igrejas
- Coronavírus. Artigo de Raoul Vaneigem
- Coronavírus: “Esta é uma oportunidade ímpar para fazer uma verdadeira transição ecológica”
- Itália. Coronavírus, pico de contágio na Campânia após um retiro religioso. O bispo: “Nenhum rito místico, ninguém bebeu no mesmo cálice”
- A frustração do Papa Francisco com o coronavírus e o “confinamento litúrgico”
- A Eucaristia para além do hábito. Artigo de Ghislain Lafont
- Não desperdicem esses dias difíceis”. Entrevista com o Papa Francisco
- “Doloroso fechar o santuário. Transmissões ao vivo na TV para cristãos no mundo”. Entrevista com o reitor do Santuário de Lourdes, França
- O Vaticano. O Angelus e as audiências públicas serão apenas em vídeo. O Papa também está se blindando
- Arquidiocese de Porto Alegre determina suspensão das missas e catequeses
- A propensão laica da televisão, entre igrejas silenciosas e missas ao vivo
- “Como cientista, eu peço: cancelem todas as missas”
- A missa acabou
- O coronavírus e o “jejum de missa” na Quaresma
- O vírus também divide as igrejas
- O coronavírus, o monge e os párocos: Enzo Bianchi acusa a Igreja italiana
- “As igrejas não devem ser fechadas.” Entrevista com Enzo Bianchi
- Nos dias de vírus, para encontrar Deus não são necessárias igrejas e celebrações: o convite do biblista Maggi
- Clausura sanitária e abertura simbólica. Uma igreja aberta na cidade fechada?
- Igrejas e coronavírus, entre boas práticas e atitudes inconsistentes
- A Eucaristia para além do hábito. Artigo de Ghislain Lafont
- O Papa pede aos padres que tenham coragem “de levar aos doentes a força de Deus e a eucaristia”
- Roma vazia. A dramática visita do Papa Francisco para rezar pelo fim do vírus
- Papa manda reabrir paróquias romanas em seu aniversário pontifício
- Arquidiocese da PB suspende celebrações e encontros religiosos com mais de 100 ou 200 pessoas
- A fé em tempos de coronavírus. Artigo de James Martin
- Coronavírus, distanciamento social e a companhia da fé. Artigo de Massimo Faggioli