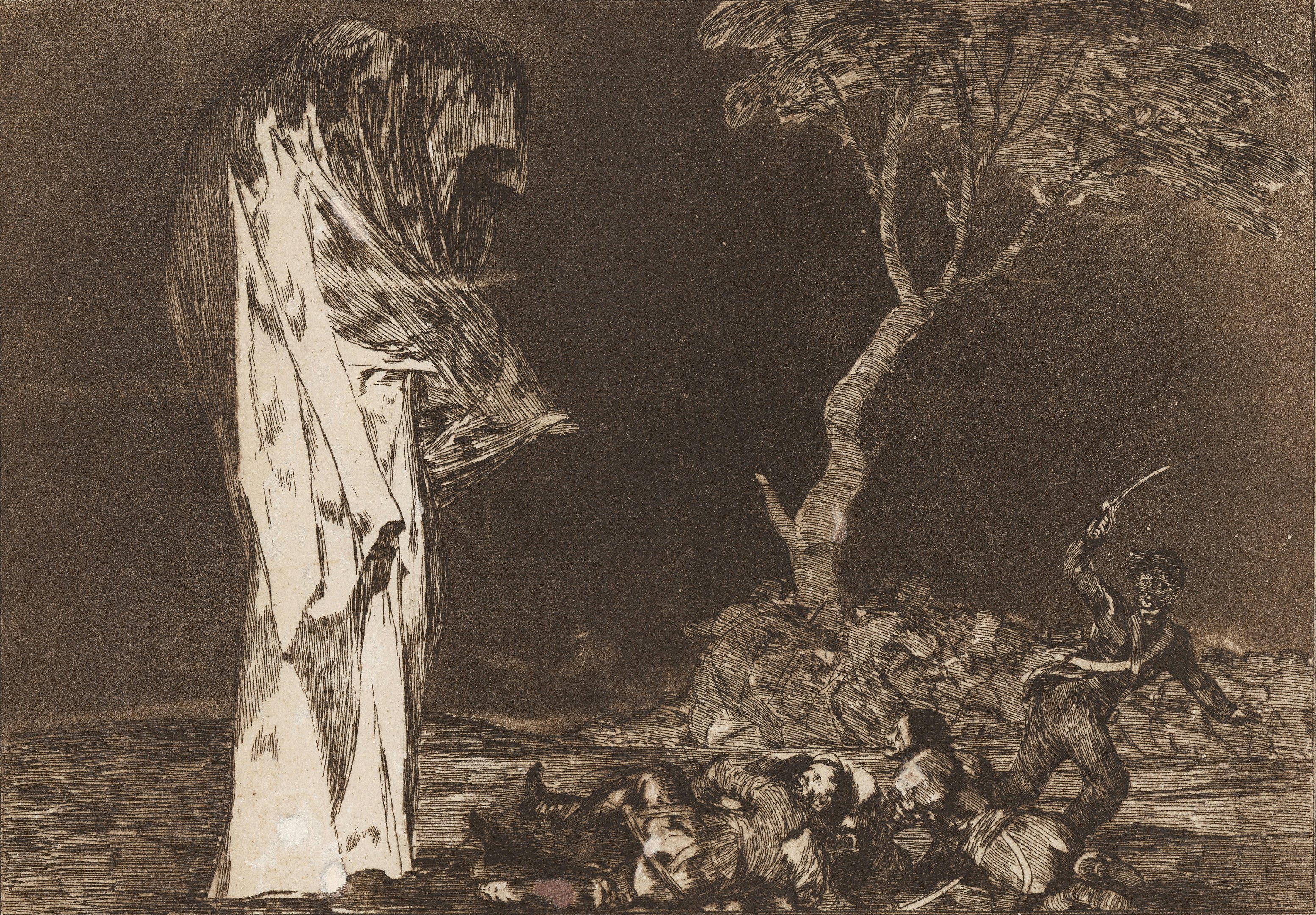25 Outubro 2025
“A maioria dos cristãos, durante quase cerca de dois mil anos, viveu sem saber o que era o papa”, diz o historiador António Matos Ferreira, que orientará o curso sobre “Recomposição do catolicismo contemporâneo: intervenções e contributos dos papas (séc. XIX-XXI)”, promovido pelo 7MARGENS, em parceria com a congregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima.
A entrevista é de António Marujo, publicada por 7Margens, 23-10-2025.
A primeira parte da entrevista pode ser lida aqui.
O curso inicia-se na próxima terça-feira, 28, e pode ser frequentado presencialmente ou em linha, sendo o acesso por esta via facultado a todos os inscritos – para o fazer basta preencher o formulário disponível aqui. A inscrição tem o custo de 20 euros.
Numa entrevista que procura abrir o horizonte dos temas a abordar nas cinco sessões (sempre às terças, às 21h, na Rua da Escola Politécnica, 100, em Lisboa) o ex-diretor do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica afirma: “Estar à espera de que o Papa nos venha dizer o que devemos pensar, o que devemos sentir, o que devemos atuar, é uma infantilidade. É por isso que a Igreja tem receio de alterar a sua estrutura eclesiástica: os próprios católicos não querem, estão sempre à espera.”
António Matos Ferreira, que tem um vasto currículo na investigação da história religiosa em Portugal, percorre nesta longa conversa temas como as posições dos papas perante a ascensão do liberalismo, as alterações das relações sociais do trabalho desde o século XIX, a modernidade social, cultural e ética, a questão da guerra e da paz ou a diversidade religiosa no marco de novas compreensões do universalismo das religiões.
Eis a entrevista.
O atual Papa diz que a sua inspiração foi Leão XIII. O que é que nos traz o século XIX como inspiração para o século XXI? É, de novo, a questão social da condição do trabalho?
O trabalho foi, efetivamente, uma questão central nas sociedades europeias – é importante perceber que falamos essencialmente da Europa que era, nessa época, a região onde se concentravam as potências que, de uma maneira ou de outra, eram hegemónicas em grande parte do mundo.
O processo, normalmente considerado como a industrialização, corresponde a uma alteração profunda nas condições de vida. Por um lado, há as migrações internas das pessoas que vêm dos campos para as cidades. Mas há, sobretudo, o surgimento – muito documentado pela literatura e que as pessoas conhecem daí – da população que, em torno dos núcleos urbanos, vai alargar essas cidades. Há mesmo cidades que surgem associadas ao desenvolvimento industrial; e surge aquilo que, normalmente, é designado pelo operariado.
Esta expressão envolve muita coisa, porque vai desde a evolução dos antigos artesãos e desse profissionalismo que começa a ser mecanizado até às pessoas que vão trabalhar em condições muito precárias em dois sectores importantes: as minas – há cidades desenvolvidas em torno de núcleos mineiros – e a indústria, que também acentua a passagem da manufatura para uma produção intensiva.
E isso é a Revolução Industrial.
A Revolução Industrial é isto. É preciso, tanto quanto possível, compreender do que estamos realmente a falar: também do crescimento demográfico, por alteração de condições, sobretudo de ordem alimentar e de prevenção sanitária, que começa a ter também impacto, mesmo se, quer no campo, quer na cidade, os que poderíamos designar como trabalhadores viviam em condições de grande miséria. Não é só um problema de pobreza, é mais do que isso, é de miséria a muitos níveis.
Incluindo para muitas crianças que trabalham…
Crianças que trabalham, o aumento da prostituição, a fome, a falta de condições de habitação… Questões que se prendem – e que não são exclusivamente do passado –com a mudança das relações sociais. Há todo um campo que fica a descoberto, e é apreciado genericamente no âmbito religioso, católico ou protestante, como de desafetação religiosa, sobretudo de natureza confessional: as populações mantêm alguns níveis de religiosidade, mesmo que depois, em certos sectores, nomeadamente nesse operariado, se desloquem para o que poderíamos designar como as ideologias revolucionárias. O anarquismo vai ter impacto, tal como também formas socializantes diversas.
É um período onde se veem surgir novos tipos de associativismo, novas formas de agregação social que provêm desses sectores. E que, normalmente, é designado pelo movimento operário – ainda que o movimento operário seja muita coisa.
Há uma grande diversidade…
A transformação de natureza social coloca vários desafios: os problemas da instrução, das condições de trabalho – o trabalho das mulheres e das crianças, o tempo de trabalho, em torno do qual nasce o Primeiro de Maio… Nas condições de trabalho deu-se uma profunda alteração, facto que temos hoje dificuldade de compreender: desde o trabalho na agricultura, que era muitas vezes intenso, sazonal, de sol a sol, até às doze, quinze ou às vezes mais horas de trabalho diário em fábricas e nas minas – insisto nas minas, porque muitas vezes, pelas suas condições, houve forte componente de mão de obra infantil.
Não podemos esquecer que havia um setor do operariado que também estava ligado a profissões tradicionais: marceneiro, carpinteiro, pedreiro… até outras profissões de onde irão surgir muitas figuras que depois se destacam no movimento operário: por exemplo, o campo editorial da tipografia, porque os jornais e a atividade tipográfica desenvolvem-se bastante, até pela instrução à leitura.
E o que dizem essas novas realidades sobre a questão social?
No século XIX, as questões sociais revelam que há uma grande diferenciação e às vezes até concorrência dentro do operariado. De onde decorrem os níveis de consciência que esses sectores tinham. O operariado não era todo operariado; a grande questão era exatamente as pessoas trabalharem, ganharem muito ou pouco (mais pouco do que muito) e depois, como utilizavam esse dinheiro.
Aparece a intervenção social católica e protestante, o trabalho infantil, a questão da mulher e o problema em torno do papel da mulher em garantir um convívio social que pudesse combater dois flagelos da sociedade, assim considerados: a prostituição e o alcoolismo. O Exército de Salvação é uma experiência, uma corrente cristã da área do metodismo, que em Inglaterra faz um trabalho de recuperação e de combate a essas situações.
Podemos dizer que hoje, mudados os tempos e as condições, vivemos questões semelhantes a essa miséria dominante na condição de muitas pessoas?
As situações são ainda muito mais diferenciadas. Porque, passados dois séculos, há outros protagonismos. Comecei por dizer que estávamos a falar do ambiente da Europa. Poderia acrescentar que no século XIX se desenvolve um grande movimento de emigração: no caso português, para o Brasil.
Um movimento maior do que hoje, ao contrário do que algumas pessoas pensam. Os grandes especialistas dizem que a grande vaga foi na transição e no início do século XX.
Quando sai a Rerum novarum, o grande problema que o bispo da Guarda da altura assinala é o da emigração. Com argumentos que correspondem a uma certa visão sobre a vida das pessoas, mas que, sobretudo, entende que esse movimento migratório tem duas consequências: a desagregação do tecido social das aldeias de onde as pessoas saem – que se compreende, por exemplo, no facto de que os homens faziam os filhos e depois emigravam para fazer fortuna e muitas vezes não voltavam e constituíam até outras famílias; e o materialismo que daí decorre: as pessoas vão à procura de melhores condições de vida que estão associadas à procura de riqueza que, em vez de contribuir para a melhoria das condições morais da sociedade, são um fator de agravamento da coesão moral da sociedade, na visão destas figuras eclesiais.
Há um problema importante: como é que em mudanças tão profundas de natureza populacional se mantém uma coesão moral? No mundo contemporâneo há um indiscutível avanço cosmopolita das sociedades: não temos noção do que era a população em Portugal nas aldeias nessa altura…
Ou seja, surge a questão da moral.
Essa circulação e as mutações colocavam o problema: como se mantém uma coesão moral na sociedade, sobretudo quando o paradigma fundamental, quer no campo do protestantismo, quer no do catolicismo, quer mesmo das ortodoxias, se traduzia na coesão moral nessas sociedades que se cosmopolitizavam, mas ao mesmo tempo vinham de uma grande homogeneidade. Hoje dizemos: como é que se preservavam valores entendidos como os valores tradicionais, onde entravam as práticas religiosas e as visões que as pessoas tinham do mundo.
A partir do século XVIII há uma mutação de fundo: as pessoas não perdem o manto do religioso, todavia há uma mutação muito importante: a cristianização – que foi durante séculos o paradigma que modelou as sociedades europeias, mesmo com as reformas – centrava-se na questão da salvação e esta tinha a ver fundamentalmente, até no imaginário, com o outro mundo, muitas vezes representado como o reflexo da vida que as pessoas tinham.
Esse imaginário religioso vai ser progressivamente transferido para outra coisa: todas as pessoas procuram alguma coisa que diz respeito à salvação, mas introduz-se aí a valorização da riqueza. O paradigma da riqueza e a ideia do colonialismo, as formas de colonialismo ou de exercício de hegemonia estão associados a uma paulatina transferência que marca mais profundamente aquilo que normalmente designamos por secularização: a valorização do século do mundo, em que os universos religiosos vêm esbater o que era o seu horizonte de realização dos homens, das mulheres, etc.
Podemos integrar aí a leitura de Max Weber, sobre a abertura que o campo protestante permite ao capitalismo?
Essa é uma discussão em que eu não queria entrar: ela atribui à ascese calvinista um protagonismo que hoje os historiadores também sabem que existiu no campo do catolicismo.
Aí nasce um paradigma: enquanto a relação com os pobres era um exercício do equilíbrio social que se fazia por um ativismo de caridade que levará mesmo as forças mais laicizantes a falar da beneficência, passará paulatinamente a haver a ideia de que as pessoas, desde que queiram, podem ser ricas ou muito ricas.
Essa ideia alimentou alguns filões da colonização, uma colonização que foi feita por pessoas: há a parte militar, de domínio, mas há também as populações que foram para as Américas, para a África e para a Ásia, e viam aí já não a busca do paraíso, mas da riqueza da missionação…
A colonização é feita também com a evangelização, que tem um grande incremento no século XIX, com o aparecimento de várias ordens religiosas.
Sim. E a expansão do cristianismo… A experiência missionária é muito diferente: há ordens que aparecem para tratar de leprosos, outras para fazer instituições de caridade… A ideia é a da expansão, na ambiguidade de que o agir missionário se encontra confrontado com várias coisas. Uma delas é o reconhecimento ou não das populações autóctones e o valor que elas poderão acrescentar à própria experiência cristã, um debate que é anterior à Época Contemporânea, mas que se vai tornando cada vez mais pertinente: durante muito tempo, a missionação católica ou protestante esteve ligada ao poder dos Estados, ao poder político. Mas progressivamente esse poder político deixa de ter os recursos suficientes.
A Igreja Católica utilizou muitas vezes essa mediação – a Igreja no século XIX tinha mais claro o que queria do Estado: um papa importante na definição dos contornos da missionação do século XIX, Gregório XVI, opôs-se claramente à ideia de um Estado que não fosse confessional, o que criou uma ambiguidade que se prolongou, entre um cristianismo que já está latente na vida dos povos ou um cristianismo que é uma fórmula europeia de viver uma determinada experiência religiosa e ser instrumento de enquadramento.
Essa tensão está nas várias igrejas cristãs?
Esse problema põe-se ao cristianismo católico ou protestante ou ortodoxo: a religião enquanto vivência dos indivíduos ou experiência de enquadramento dos indivíduos – não se pode dizer que é uma coisa ou outra, é as duas ao mesmo tempo, o que tem o problema de dificultar as coisas novas.
Não podemos esquecer dois fatores importantes desde o século XVIII, que se tornaram muito claros com o aparecimento dos movimentos anti-escravagistas: o anti-escravagismo libertou um conjunto de gente para o mundo do trabalho mas, ao mesmo tempo, esse mundo de gente libertada para o trabalho entrava em concorrência com quem já estava no mundo do trabalho. Não podemos esquecer as contradições que tudo isto comporta.
O movimento escravagista, que teve raízes fortemente religiosas e cristãs, inscreve-se no movimento humanista que paulatinamente se desenvolveu, mas ainda havia uma forte luta anti-escravagista. Já não estou a falar da Época Contemporânea, porque, como tudo, a escravatura também vai mudando configurações. O que é a escravatura? É o domínio das pessoas, tornando-as objetos, despersonalizando-as, não lhes permitindo assumir a sua individualidade tornando-as dependentes. E a dependência alimenta aquilo que designamos por exploração.
E que permanece ainda hoje…
… uma sociedade como o Império Russo só aboliu os servos de gleba, ou seja, a dependência das pessoas à terra, no princípio do século XX. Essa libertação, em grande medida, é o que também vai alimentar nessa época uma parte do esforço militar que a Rússia faz, quer em ordem ao Extremo Oriente, com o avanço até ao Alasca, mas depois restringida à expansão na Ásia Central e na Ásia Extrema, e depois também nos esforços de guerra que fará na Grande Guerra de 1914-18 e na Segunda Guerra Mundial.
O que ocorre também em certa medida com a Europa: as duas guerras mundiais incorporaram, nas potências que tinham colónias, pessoas dessas colónias. A história europeia tem escamoteado o facto. Nós não falamos das pessoas das colónias que combateram por Portugal na Grande Guerra nem tão pouco dos que combateram na Guerra Colonial.
O liberalismo é um dos temas que se afirma durante o século XIX, como um dos confrontos da Igreja com a sociedade. Esse confronto ainda não acabou, embora se manifeste hoje de outras formas?
Estamos a falar de que liberalismo? Para simplificar, temos o liberalismo político, o liberalismo económico, o liberalismo social…
Comparemos sobretudo o liberalismo social e cultural.
Nenhuma das áreas enunciadas é homogénea e o liberalismo político é muita coisa. O campo católico, genericamente, como todo o resto da sociedade, vive muito do que herda e cultiva pouco: é como herdar um pinhal e achar que se tem ali sempre uma riqueza, depois vem um fogo e deixa de a ter.
O liberalismo é alguma coisa que se inscreve num debate fundamental que atravessou o cristianismo, que tem a ver com a concepção sobre a condição humana: o homem é ou não é livre? O homem, a mulher, as pessoas são ou não são livres, na sua individualidade? E livres de quê? De escolher. Na medievalidade já se pôs o problema dos homens livres, aqueles que tinham a possibilidade de ter uma atividade própria e o que hoje também chamamos de um grau de autonomia.
Esse debate é longo…
A questão foi mais debatida no século XVI, em torno do problema que já referi da salvação. Para simplificar, há duas posições distintas. Uma é que o homem está marcado pelo mal: o ser humano é propenso a fazer o mal, é a sua condição de pecador; essa condição é marcante e não se elimina; nesse contexto, a salvação é só entendida como a graça de Deus, isto é, Deus é que dá e garante a salvação. A salvação é o sentido da vida, sabendo que, nesse sentido da vida, há a questão central de que a vida é mais forte que a morte.
Há muito debate de pensamento. As populações, na sua maior simplicidade, vivem esta questão através de uma religiosidade que é tentarem cumprir aquilo que são consideradas as Escrituras. E aí temos claramente o campo do luteranismo, do calvinismo onde há muito essa questão, que não está ausente do terreno católico.
Todavia, no século XVI, há pessoas que discutem esta perspectiva e que dizem que, se o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, a liberdade, a capacidade de escolha, é algo que se mantém: pode-se escolher o bem, pode-se escolher o mal. A liberdade é um tema central e quando as sociedades valorizam a liberdade ou começam a acentuá-la, há uma outra visão sobre a sociedade e sobre os indivíduos na sociedade: os homens e as mulheres são criados livres para escolher.
O tema da liberdade cruza-se com o baptismo.
É aí que a teologia do baptismo, sobretudo a partir de Lutero, é muito importante. O Concílio Vaticano II [1962-65] também dirá que é pelo baptismo que as pessoas são mediação entre o divino e o humano – portanto, são sacerdotes.
Este posicionamento foi evoluindo e foi-se secularizando ligado a uma questão que depois se traduziu nos movimentos de ruptura política: primeiro no contexto inglês, sem sair do quadro da confessionalidade, no campo da liberdade religiosa; na Revolução Americana, e depois na Revolução Francesa (que é muita coisa…), em que passa a ser o fundamento da própria sociedade: os direitos do homem e do cidadão – evidentemente, com concepções muito restritas, porque também havia uma concepção muito restrita de quem era a Igreja, de quem eram os batizados…
Estava-se muito longe de considerar que o verdadeiro povo de Deus é a humanidade. Não sei se o mundo católico já compreende isto: o povo de Deus, se há só um Deus e tem um povo, é toda a humanidade. Não há nem uns nem outros. Outra coisa, depois, é a responsabilidade que cada um sente em relação a essa filiação, que se expressa, nas igrejas cristãs, através do batismo.
E que implica um olhar diferente para a realidade…
Quando, por exemplo, as pessoas começam a dizer que se perderam valores cristãos, a maioria dos cristãos não sabem é onde estão os valores. Estão na sociedade, porque a experiência cristã traduz-se socialmente e essa tradução social, muitas vezes obviamente não está nas igrejas, nem nos colégios católicos, nem nas irmandades, nem nos movimentos. Há uma ausência profunda de uma perspectiva antropológica que permite fazer a articulação – estou a falar como historiador.
Há um problema fundamental: o homem, na sua autonomia, tem direitos – certo, vir-se-á falar depois dos deveres, que podem ser traduzidos pela responsabilidade. Houve sectores que trouxeram a questão, e certamente não deixam de ter razão, de que se há direitos do homem, também deve haver direitos de Deus. E estamos aqui no cerne da problemática política. Os direitos de Deus são o que legitima, para muitos, a autoridade; para outros, o que legitima a autoridade é a autonomia humana.
O que será um dos temas de discussão na transição do século XIX para o século XX…
E que está no cerne do II Concílio do Vaticano.
Com a questão da liberdade religiosa.
É por isso que há um triângulo documental que os cristãos não conhecem – tenho a experiência de ser professor durante quase 40 anos e as pessoas sabem os nomes, mas nunca aprofundaram criticamente a articulação entre a [constituição do Concílio] Lumen gentium, a declaração sobre a liberdade religiosa e a [constituição pastoral] Gaudium et spes, que funcionam articulados, mesmo se não está aí tudo o que é possível refletir. Todo o século XIX e o século XI foi acompanhado por uma riqueza enorme do ponto de vista cultural que se traduziu nas correntes múltiplas da teologia. Que é uma coisa que também os cristãos ignoram.
Por exemplo, um dos grandes problemas do século XIX era a catequese: num momento em que a dinâmica societária é marcada pelo ensino nas escolas para as crianças, o desenvolvimento da estrutura de ensino, que hoje pretende, em muitos sítios, ser universal, como é que incorpora na estrutura do conhecimento as questões religiosas? E quando se diz que a fé é transmitida hoje pelas avós, há um grande problema: qual é a relação? Normalmente, a transmissão era feita através da valorização da experiência pessoal e relacional. Contudo, há uma outra: como se compreendem as coisas, não diria só racionalmente, mas de uma maneira aprofundada, articulando com outras formas de conhecimento?
Creio que a grande maioria dos crentes cristãos não entenderam o que decorre exatamente da questão da batismo: a cidadania. O que é o cidadão? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão tem várias formulações durante esse período de profunda mudança na França. O país era uma sociedade homogeneamente católica, mesmo se tinha, e passou depois a ter, uma componente protestante, reformada e judaica.
E também uma outra anticlerical.
Sim, mas muitas vezes o anticlericalismo só se compreende pelo clericalismo. O que vemos emergir em França, e em muitos outros sítios, são as tentativas de superar as religiões tradicionais por religiões filosóficas, espiritualidades, etc.. O anticlerical é para criar um espaço.
Foi a ausência de consciência geral da cidadania na sociedade, que no século XIX foi trabalhada por outra ideia que, no fundo, desvalorizou a cidadania. Esta tem a ver mais com uma percepção cosmopolita da realidade: é cidadão quem trabalha, vive, constitui família, etc., numa determinada sociedade.
A cidadania foi alimentada durante muito tempo, e até reduzida, pelo nacionalismo e depois misturada com o patriotismo. As sociedades liberais, do ponto de vista político, tentaram sempre manter um quadro de legalidade, mas muitas vezes caíram em formas de ditadura. E nessa ditadura, há um ponto muito importante: a militarização. É o resultado da Revolução Francesa que, de certa maneira, produz o Império Napoleónico que, no mundo contemporâneo, com o Império Inglês, a Alemanha e a Rússia, serão as forças que se afrontarão.
Sempre o fenómeno da guerra…
Guerra sempre houve. Fazer a guerra é até, mais do que a prostituição, a mais antiga profissão do mundo, se quisermos pegar nesse slogan. A guerra é a sobrevivência, é a defesa do património, etc. E há uma reflexão sobre o direito à propriedade, que não é exclusiva do catolicismo, que está muito ligada a sectores liberais e ao direito que as pessoas têm de defender o que consideram que é o seu património. Há outras soluções, como a coletivização dos bens, mais numa utopia de tipo anarquista ou estatal, associada ao desenvolvimento de certas formas do socialismo e do comunismo.
E que foi adoptada em muito países.
Depois da Segunda Guerra Mundial, metade da Europa esteve nessa perspectiva. Fala-se muitas vezes da Europa de Leste e não se percebe o que ali estava em jogo no sentido mais profundo: as pessoas aspiravam por uma liberdade de ter, de possuir, de consumir, etc., mas, ao mesmo tempo, viviam de uma proteção do Estado, que hoje não é garantida, porque mais do que a sociedade liberal, a sociedade assente na liberdade pressupõe o exercício da cidadania.
No mundo religioso não se desenvolve muito esta temática. Em qualquer época, ele tende a viver para dentro de si de uma forma que designaríamos tendencialmente como sectária. Porque, ao lado do nacionalismo, se valoriza, como aconteceu com João Paulo II, a questão identitária: uma coisa é a identificação – vivo em Lisboa, nasci em Portugal, identifico-me… – outra a cidadania; a minha cidadania é o exercício, nesta sociedade, dos meus direitos e dos direitos dos outros.
As questões contemporâneas da moral individual são ainda sequência desse processo de afirmação da cidadania e da pessoa enquanto sujeito, trazido pelo liberalismo? E os papas e a doutrina católica ou de outras igrejas cristãs afrontam o liberalismo, mas por outro lado, estão politicamente mais rendidos ao liberalismo?
Essa perspectiva corre muito, mas não penso assim. A maioria dos cristãos, durante quase cerca de dois mil anos, viveu sem saber o que era o papa. Sabiam que havia o papa, dividiram-se, fizeram a guerra entre si por causa de serem romanos ou não…
… Mas o papa não tinha a centralidade que hoje tem.
Até porque não podia ter, porque não lhe era dada.
E essa centralidade aparece sobretudo precisamente neste período de que estamos a falar.
Por duas razões. Uma, porque o próprio cristianismo vai paulatinamente redescobrindo o fundamento evangélico. Não quer dizer que não existisse antes – São Francisco de Assis não precisou do Concílio Vaticano II para viver a sua fé. Mas a centralidade do papado tem uma evolução grande e rápida. No final do século XVIII, alguns católicos dialogam com um certo movimento… A ideia que aprendemos no oitavo ano é para deitar fora: a Igreja [Católica] divide-se, perde a sua força com a Reforma e depois aparece um Leão XIII no século XIX, com a questão social. Historiograficamente, isto é uma autêntica manipulação ideológica.
O mundo católico, o mundo religioso, o mundo protestante, sempre tiveram conexões, até no mundo da ciência e do conhecimento – não podemos esquecer que grandes cientistas eram eclesiásticos. E esse movimento tinha as suas resistências – que é uma coisa que as pessoas nunca referem quando se fala da Igreja. A Igreja é a expressão também da sociedade e há quem favorece umas coisas e quem resiste a elas. Noutros tempos todos se chamaram mutuamente hereges e essa ainda é uma tendência, que durante muito tempo dividiu. Não é secundário quando João XXIII diz: “vamos fazer um concílio, mas não é para condenar”. Apesar do paradigma da condenação ainda se manter em muitas cabeças, isso foi quebrado com João XXIII. Que altera o quê? Pelo menos altera o que vinha desde o Concílio de Trento [1545-1563].
A centralização do papado foi um processo lento…
O processo foi-se afirmando. E foi-se afirmando de acordo com a iniciativa do papa, mas também em grande medida também da Cúria, de quem estava à volta dele. E as resistências e o desenvolvimento de outras perspectivas também existiram na Cúria. Não se pode pensar que a Cúria estivesse toda de acordo com a ação do Papa.
Podemos dizer que o grande período da centralização é entre Pio XII e João Paulo II?
Não. Pelo contrário. Pio VI [1775-1799], o papa da Revolução [Francesa] desautoriza duas coisas fundamentais: a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e a Igreja constitucional. A centralização é um processo. E vem de quê? O Papa que se segue e que é eleito quase no trânsito entre o período revolucionário e o poder de Napoleão é Pio VII. É eleito na perspectiva de que dialogaria com essa nova ordem social…
Havia muitas pressões, sobretudo dos monarcas, não podemos esquecer. Até para o atual Papa houve a pretensão de intervir dizendo quem é que devia ser eleito, numa época em que essas coisas já são consideradas ilegítimas. No princípio do século XIX era legítimo. Havia coroas que tinham o poder de veto…
O que se mantém até ao início do século XX, até à eleição de Pio X.
… o que tinha a ver com o modo de entendimento da Igreja Católica e da Cúria com os poderes políticos. Pio VII aceita estabelecer com Napoleão uma concordata, em que há uma mudança fundamental: enquanto no início da Revolução Francesa se dizia que a religião católica apostólica romana era a religião da nação francesa, com a concordata diz-se que a religião católica apostólica romana é a religião de uma parte dos cidadãos franceses. Esta mudança foi fundamental, porque é de ordem estrutural.
Napoleão decidiu que desse acordo faria um conjunto de parágrafos que passariam a contar como lei. Pio VII não aceitou. Napoleão – no que alguns consideram o seu maior erro – prendeu o Papa, o que foi o primeiro momento de uma galvanização daqueles que tinham uma posição contra a Revolução Francesa. Mas também assustou o mundo católico, que percebeu a vulnerabilidade não de um padre ou de um bispo, mas de um papa.
O papa, nesta época, era senhor dos Estados Pontifícios. E isso provoca uma galvanização porque, mesmo os sectores católicos que poderiam ter sido favoráveis ao movimento revolucionário, de alguma maneira perceberam que o papa surgia como a figura de resistência. É assim que um homem considerado da contra-revolução, católico, mas fundador de uma corrente maçónica, Joseph de Maistre, vai dizer que o papa é quem protege a liberdade. E no caso dele, era a liberdade do corpo social.
E ele admite que o Papa possa usar exército?
Se ele era soberano, tinha exército. Mas nessa altura, o Papa nunca fez a guerra sozinho. Fê-la com soberanos. O que se passou em 1814-15, no Congresso de Viena, é muito interessante: é nessa altura que os cardeais são reconhecidos diplomaticamente como príncipes. Toda a conversa sobre os príncipes da Igreja vem daí e desaparece quando desaparece essa ordem internacional. Hoje, um cardeal é um cardeal, ponto final. O episcopado português, e os que derivam dele, é que ainda usa uma coisa do Antigo Regime, que é o “dom”, porque também passou a ser um episcopado muito recrutado, depois da crise liberal, entre o clero secular.
Para fechar a questão da centralização do papado: não foi no período de Pio XII a João Paulo II que ela se acentuou.
Pelo contrário: de Pio XII ao atual papado, a Igreja Católica desenvolveu-se como nunca no mundo.
Pergunto sobretudo pelo papel de João Paulo II, no sentido da universalização do catolicismo com as viagens, com…
Isso é descentralização, porque é dar um protagonismo, um olhar à realidade. Outra coisa era a atuação do Papa…
Pio XII criou uma grande dinâmica internacional, sobretudo nos anos 50, muito associada ao processo de descolonização. Roma, nessa altura, estava disponível e interessada, porque tinha tido também já uma experiência das Américas um continente que se tinha colonizado.
E surgem as independências em África.
E na Ásia: Pio XI e Pio XII ainda lidam com a problemática do fim do Império Chinês, mas lidam, sobretudo, com a guerra civil na China, que depois vai dar a Revolução. As igrejas na China não eram tão minoritárias como isso.
Há um outro problema: a maioria dos católicos acha que o catolicismo só tem relevância se totalizar a população do mundo. Isso vai ser impossível, a não ser que haja um milagre extraordinário. Porque há todo o universo das grandes áreas religiosas e este é um dos grandes problemas do entendimento que os cristãos têm sobre o ecumenismo: como é que, estando presentes nas várias sociedades, fazem brotar aquilo que é a experiência cristã, tendo em conta que se vive em sociedades que cultural e religiosamente têm outros paradigmas de crença e de outros fatores.
E a missionação provoca o confronto com essa questão…
Esta reflexão foi transportada, não exclusivamente pelo mundo católico, no âmbito do debate sobre a missionação. O terreno da missionação é muito importante, porque envolve as questões da escravatura, do trabalho forçado, do lugar das populações cristãs no meio de populações que não o eram, até questões mais atuais.
Voltando ao tema da centralização: uma maior descentralização tem resistências e até tem paradigmas. Dou um exemplo. Paulo VI já vive numa outra época diferente de Pio XII, que é o Papa da rádio. A televisão já tem importância com João XXIII, mas é sobretudo Paulo VI e o Concílio Vaticano II que se torna um acontecimento em grande medida alimentado por um mundo que transformava a capacidade de comunicação com as viagens e os aviões.
É o primeiro papa a fazer grandes viagens.
É o primeiro a ter condições para as fazer. E isso criou condições do exercício do papado que a Cúria sempre tentou controlar. A Cúria é muita coisa, é o aparelho administrativo mais forte da Igreja Católica, com um problema: a valorização dos bispos, que vem das posições de Trento, foi sempre para reforçar uma unidade e eles respaldavam-se no Papa – havia bispos que só faziam o que eram obrigados a fazer e muitas vezes nem isso; nós não conhecemos o “desleixo” em que muitas dioceses viviam.
O que ocorre é uma lenta apreciação por parte do mundo católico e das autoridades eclesiásticas, daquilo que nós poderíamos chamar a progressiva autonomia da Igreja Católica em relação aos Estados, que tem como momento fundante a ocupação de Roma em 1870.
E o fim dos Estados Pontifícios.
Há um trânsito muito interessante, que é a passagem da devoção da realeza do Papa para o Cristo Rei, que é a festa da Ação Católica: a passagem de uma percepção de que a autonomia da Igreja assentava numa territorialidade, para uma outra dimensão que se vai aprofundando, de ordem religiosa, espiritual, que é o campo que a Igreja passa a reivindicar, e a reivindicar como acto social. Cada papa vai exercer esta orientação de maneiras muito diferentes e de acordo com os seus carismas.
Depois, há um processo de descentralização que vem com o alargamento, que já acontece no final do século XIX, de outras realidades eclesiais. Sendo que no final do século XIX há um programa de romanização, por exemplo com a criação dos colégios. Há centralização, Roma tende a ser a cabeça, os institutos passam a querer lá ter a sua sede. O que fará evoluir também a própria composição da Cúria.
O grande obreiro desta mudança é Montini. Já como substituto na Secretaria de Estado tinha essa perspectiva, e depois como Papa Paulo VI. Consta que ele nunca conseguiu a reforma da Cúria, porque esta sempre se opôs. E a reforma passaria pela valorização das conferências episcopais, das conferências episcopais continentais, e isso faria a cúpula da representação sinodal.
É ele que retoma os sínodos…
É Paulo VI quem recria a dimensão sinodal. Quando vem João Paulo II, que tem a perspectiva da identidade católica e se percebe de onde ele vem, isso vai reforçar uma perspectiva de que a identidade é homogénea. O comportamento e a pregação de João Paulo II é que a identidade se defende pela homogeneidade.
Bento XVI tem ideias, é um homem que se vai confrontar com uma questão que já tinha sido levantada desde os anos 1950, mas que se agudizou com Paulo VI: o problema da sexualidade. Quando João Paulo II ataca frontalmente determinados comportamentos contemporâneos, ele responde às ansiedades de uma parte do catolicismo, mas vai despertar a denúncia de uma vivência, que muitos chamarão hipócrita, que existia no interior da Igreja, e que fica centrada no clero. Mas se nós fôssemos a ver o que temos no corpo eclesial…
Aí vai haver uma onda que se avolumou. E aí surge a escolha de um Papa, de uma figura que já tinha sido sugerida, de um continente que, apesar de todas as contradições, resistia…
Falemos do Papa Francisco.
E resistia a quê? Ao modelo de uma sociedade que busca a riqueza em detrimento da salvação, de uma sociedade que se confrontou com regimes militares, portanto, com o problema da militarização da sociedade, com a invasão de correntes espirituais fundamentalmente marcadas por este espírito que nós chamamos evangélico, que é, no fundo, uma literalidade das Escrituras para substituir uma normatividade disfuncional, etc., etc.
Hoje não se mantém o confronto com o liberalismo nas questões mais individuais…
Há um equívoco: se as pessoas estão convencidas de que é preciso viver em liberdade, portanto, respeitar os direitos expressos pelas leis e que as leis se transformam para melhorar a liberdade das pessoas, a questão fundamental é o sentido de responsabilidade.
O mundo católico, o mundo religioso, geralmente vive à custa do que o Papa diz. Há muita gente que detesta o que dizia o Papa Francisco, há quem detesta o que dizia João Paulo II, há quem deteste o que dizia Paulo VI. É o problema das resistências.
Estar à espera de que o Papa nos venha dizer o que devemos pensar, o que devemos sentir, o que devemos atuar, é uma infantilidade. É por isso que a Igreja tem receio de alterar a sua estrutura eclesiástica: os próprios católicos não querem, estão sempre à espera. Os grupos católicos não se reúnem, na grande maioria, sem ter um padre que, no princípio e no fim, diz o que devem pensar. Ser cristão não é uma identificação: eu não nasci cristão; torno-me cristão e espero que, ao morrer, ainda tenha esses sentimentos.
Leia mais
- Um impressionante “manual” sobre o Concílio Vaticano II
- Concílio Vaticano II. 50 anos depois. Revista IHU On-Line Nº 401
- ‘Oxford Handbook of Vatican II’ cobre de forma abrangente o Concílio e sua recepção. Artigo de Michael Sean Winters
- Luigi Bettazzi, o bispo do Concílio
- Christophe Dickès: “A Igreja caminha para um Concílio Vaticano III?”
- O canto e a música litúrgica no Brasil após o Concílio Vaticano II. Artigo de Eliseu Wisniewski
- Leitura do pontificado de Leão: 5 conclusões da longa entrevista do papa. Artigo de Justin McLellan
- Polarização e sinodalidade. À margem da recente entrevista com Leão XIV. Artigo de Linda Pocher
- Primeira entrevista de Leão XIV: "Seguirei Francisco em questões femininas e LGBTQ, mas não mudarei a doutrina"
- Diálogo, proximidade e espiritualidade: as chaves para ler a revolução silenciosa de Leão XIV para garantir o espírito profético de Francisco. Artigo de José Manuel Vidal
- "Leão XIV continuará o caminho de Francisco, mas não em questões LGBT ou femininas." Entrevista com Elise Ann Allen
- Francisco foi um revolucionário pastoral aos católicos LGBTQIA+
- Leão XIV, o desaparecido
- Leão XIV: cidadão do mundo, missionário do século XXI. Prevost concede sua primeira entrevista a Elise Ann Allen
- Guerras, abusos, finanças: a visão de Leão XIV na primeira entrevista
- "Leão XIV continuará o caminho de Francisco, mas não em questões LGBT ou femininas." Entrevista com Elise Ann Allen
- Dois novos livros sobre o Papa Leão olham em 2 direções diferentes. Artigo de Kat Armas