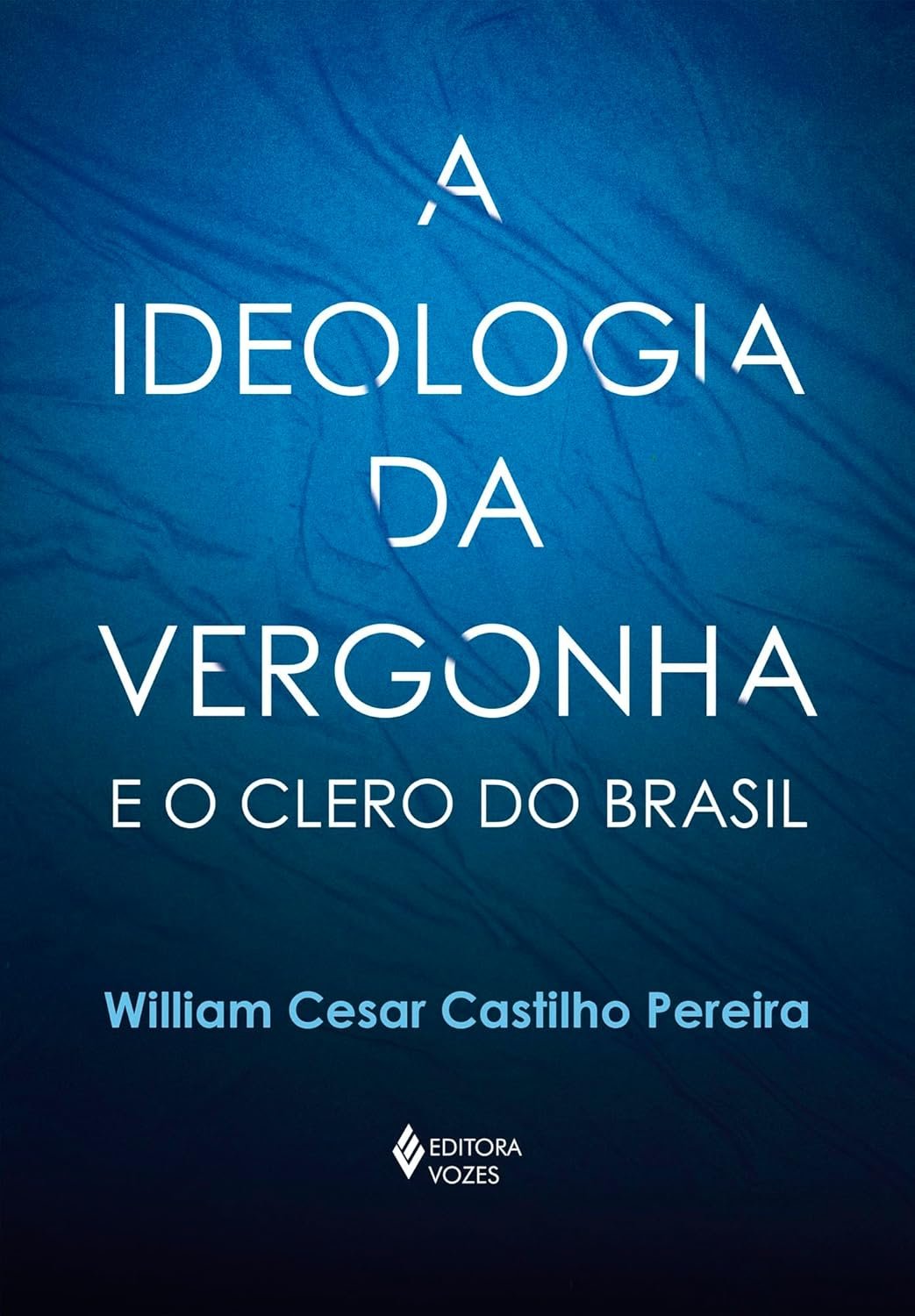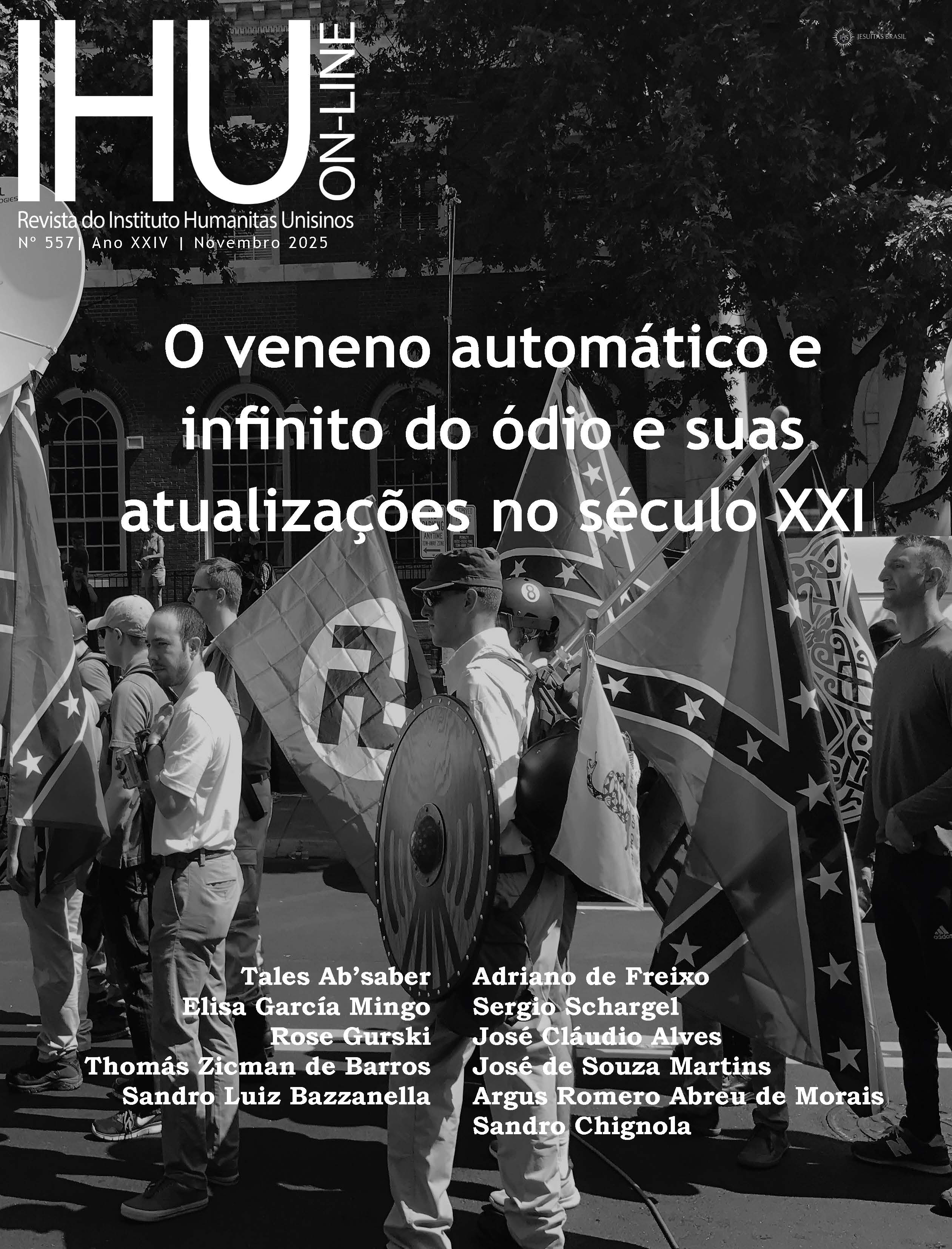20 Outubro 2025
"Reindustrializar o Brasil hoje significa enfrentar o viés político dominante sobre o controle das contas públicas, as pressões internas e externas, e constituir uma estratégia consistente para o capital externo", escreve Pamela Kenne.
Pamela Kenne é doutoranda e mestra em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pesquisa na área de sociologia econômica, com foco na estruturação institucional das finanças sustentáveis e suas relações com a economia agroexportadora. Desenvolveu estudos nas áreas de desenvolvimento econômico, economia política do agronegócio, trabalho e sindicalismo rural. É graduada em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Maria, com atuação na área da psicanálise e psicologia institucional.
Eis o artigo.
Introdução
Diante das agendas globais de transições econômicas, a perspectiva para uma transição industrial no contexto brasileiro provoca reflexões sobre vários aspectos da sua estrutura produtiva. A consolidação, ao longo das duas últimas décadas, da “economia do agronegócio” tem como particularidade a sua conformação em uma estratégia macroeconômica moldada em face das novas relações de dependência externa (Delgado, 2012). De outra forma, as políticas industriais, não ocupando lugar central em uma estratégia de desenvolvimento, foram altamente impactadas pelas crises e restrições fiscais, além de serem atingidas pelos reflexos das políticas monetárias que beneficiam o mercado de commodities.
Estudos sociológicos discutem amplamente o poder das estratégias de governos centrais para impulsionar a economia de países a partir de processos de industrialização e de políticas de inovação, estabilizar mercados, além de formular instituições para trajetórias de crescimento econômico e distribuição dos recursos (Arbix, 2017; Block, 2018; Fagerberg, 2022; Fligstein; McAdam, 2012; Mazzucato, 2014). Teorias de formação econômica do Brasil (Delgado, 2012; Furtado, 1979, 1998) também apontam com centralidade para as instituições e agência estatal para explicar o desenvolvimento da economia nacional.
Nesse sentido, observa-se que no presente contexto, envolto pela mudança na direção política do governo nacional, um projeto de “neoindustrialização” está ganhando contornos institucionais no Brasil. As projeções, ainda difusas, visam modernizar a indústria nacional ou recuperá-la diante de suposta depreciação da estrutura produtiva. As atribuições para a “indústria de novo tipo” indicam a sua reestruturação a partir da digitalização e da descarbonização dos processos, com o objetivo expresso de reinserção competitiva nos mercados globais. Esse desenho institucional está sendo feito por agentes políticos (de governo e representantes do setor) em um cenário mundial de enfrentamento a crises econômicas e ambientais, marcado por reordenamentos geopolíticos e reconfigurações nas cadeias globais de valor.
As crises globais nos paradigmas produtivos, as difusões de inovações e os investimentos externos apresentam-se como oportunidades para impulsionar o crescimento econômico do Brasil. Além do que, diante da reestruturação global das relações de produção, prospecta-se possibilidades para reposicionar o país na economia mundial e modificar a sua política externa, de modo a alterar trajetórias de dependência - que têm sido solidificadas por via dos mercados de commodities e pelas agendas fiscais. Mas para tais fins é necessário que a reindustrialização nacional esteja, de fato, no centro de uma estratégia de desenvolvimento, como tem apontado a literatura de forma diversa (Cassiolato; Lastres, 2015; Delgado, 2012; Furtado, 1979, 1998; Pomar, 2023).
Sobretudo, a recomposição da estrutura econômica sob novas bases produtivas parece ser condição necessária para, minimamente, abordar problemas estruturais do Brasil vinculados à crescente concentração de riquezas, à desvalorização cíclica do trabalho e à repressão sistemática de investimentos em áreas estratégicas devido à escassez de recursos disponíveis. Ou seja, “uma grande transição” na economia brasileira, como afirma Pomar (2023): “de subpotência primário-exportadora para potência industrial, tecnológica e científica”.
A estratégia primário-exportadora e a política externa dependente
Em 2015, com a explosão da crise econômica e política, evidenciou-se no Brasil a “guerra fiscal” em torno dos recursos públicos. As políticas de ajuste fiscal que foram adotadas no período visavam restabelecer a confiança dos credores da dívida externa. Apesar da grande crise mundial, o déficit nas contas públicas - proporcional aos compromissos com uma dívida pública sustentada a juros exorbitantes e com as despesas necessárias para o desenvolvimento de setores fundamentais e estratégicos - foi abordado como um crime de responsabilidade fiscal. O que decorre do golpe político é um desmonte de políticas públicas, com impactos diretos na distribuição de renda e na desvalorização do trabalho.
Apesar dos efeitos sociais perversos da restrição orçamentária que explodiram durante a pandemia de Covid-19, a estratégia econômica foi comemorada devido ao cumprimento dos compromissos fiscais impostos pelo sistema monetário internacional. A política cambial e monetária, impulsionando as exportações de commodities, dominou a agenda macroeconômica do período. E diante dos saldos na balança comercial, o “agronegócio” legitimava-se novamente como o “motor da economia brasileira” e o “supermercado do mundo”, sendo altamente produtivo. Mas quando a pandemia agravou o desemprego, a desvalorização salarial, a queda no acesso à renda e aos recursos de modo geral, além da inflação no preço dos alimentos, expondo a cena da fome, essa contradição foi amplamente explicitada.
A “economia do agronegócio” tem seus contornos já nos anos 2000, mediante a urgência de formular uma nova estratégia estatal para controlar o déficit das contas públicas que se agravara no período. Delgado (2012) e Rangel (2004) identificam a centralidade que o desenvolvimento do mercado das commodities tem em uma estratégia macroeconômica condicionada por imposições externas. A desvalorização da moeda nacional, em 1999, é explicada nesses estudos a partir da conjunção das crises globais das décadas anteriores, as crises cambiais do período 1980-1990, e os assaltos especulativos da década de 1990. Ou seja, como efeito de uma estratégia ineficiente para proteger o país das especulações e dos choques externos diante das políticas de liberalização econômica.
Em decorrência do agravamento das crises, empréstimos foram concedidos pelo Fundo Monetário Internacional (1999, 2001, 2003), acirrando a necessidade de gerar saldos para conter o endividamento. Ao fim, reformula-se um conjunto de políticas para relançar o agronegócio no mercado externo, em uma estratégia que visa gerar esses saldos de forma emergencial.
No contexto das crises globais, a concessão de empréstimos pelo FMI teve como contrapartida pacotes de medidas de austeridade orçamentária e instituições liberais, expressas principalmente em privatizações e cortes em investimentos públicos. A meta fiscal imposta aos países para estabelecer a confiança do mercado tem sido atingir o superávit: arrecadação maior do que a despesa. Na década de 1980, o FMI formulou as políticas institucionais que orientam países endividados a atrair capitais externos - viabilizando saldos na balança de pagamentos - e a privatizar empresas estatais, aumentar impostos e realizar ajustes fiscais de forma a ampliar as receitas, como garantia do compromisso com os juros da dívida externa (Chossudovsky, 2002; Eichengreen, 2000).
Dessa forma, países em desenvolvimento, como o caso do Brasil, são pressionados externamente a adotar um conjunto de políticas fiscais que impactam a capacidade de realizar investimentos na produção interna. Assim, justifica-se abordar os aspectos da dependência externa dessa política. Entretanto, não se pode resumir as escolhas nacionais apenas pelo fator externo. O “relançamento do agronegócio” se deu por uma reconstrução de um aparato estatal de sustentação: sistemas nacionais de crédito, subsídios exorbitantes dos bancos públicos e privados, compras públicas, incentivos para políticas de estoques, controle de preços, isenções de impostos, investimentos em pesquisa, desregulamentação fundiária e ambiental (Delgado, 2012).
Transição econômica: a industrialização de novo tipo
Diante das problemáticas expostas, no que consistiria, afinal, uma industrialização de novo tipo para o Brasil? Embora não haja um modelo único, há definições emergentes e um contexto político-econômico que delineia os contornos dessa transição. A recente ruptura na condução política do governo federal é acompanhada por novos símbolos e significados atribuídos às crises, os quais expressam estratégias institucionais em formação. A própria denominação da chapa presidencial - “Reconstrução do Brasil” - revela a amplitude da coesão social que se formou, após anos de arrocho fiscal, em torno da ideia de reconstrução produtiva e nacional.
Essa mudança política se articula com transformações concretas na economia global, marcadas por transições tecnológicas e pela intensificação das crises ambientais. A demanda por descarbonização dos processos produtivos, como resposta à crise energética, tem impulsionado revoluções tecnológicas que extrapolam o campo ambiental e alcançam outras esferas da economia.
Nesse sentido, a transição energética, aliada à transição digital, inspira expectativas para uma “neoindustrialização” brasileira. Para os atores políticos do setor, essas transições representam oportunidades para recuperar a defasagem industrial e reinserir o país de forma competitiva nos mercados globais - desde que haja adesão e estímulo público às inovações.
Essa perspectiva está presente nos sentidos sentidos atribuídos à “neoindustrialização” por instituições como a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Contudo, outros atores também participam da formulação desse projeto. As centrais sindicais, por exemplo, têm se reunido em torno da ideia de “transição justa”, que delimita a coesão nacional em torno de um projeto de desenvolvimento que não se restrinja à modernização produtiva, mas que também enfrente os riscos das transições tecnológicas sobre o emprego e a valorização do trabalho. Nesse campo, a reindustrialização é necessária, mas não é condição suficiente para o desenvolvimento social.
As políticas de governo e os discursos institucionais indicam a valorização científica, a busca por recursos para o fomento industrial e o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis. Visualiza-se também a presença de investimentos externos como elemento de consolidação dessa transição. No entanto, como já discutido, é preciso apreender a estratégia estatal que orienta essa abertura, especialmente diante da política externa brasileira.
Investimentos externos e reestruturação produtiva
Pomar (2023) propõe traços gerais de reestruturações econômicas necessárias para uma industrialização de novo tipo: a realização de uma reforma agrária; a recuperação do controle público sobre o setor financeiro e sobre mercados estratégicos; e o fortalecimento de empresas públicas como instrumentos de desenvolvimento - com destaque atual para a Eletrobrás e a Petrobrás. Além disso, aborda a questão estratégica da política externa, agora diante da ampliação dos investimentos estrangeiros.
As análises contemporâneas sobre os efeitos desses investimentos apontam tanto para seu potencial de alavancar a produção nacional - por meio de cooperação internacional e transferência tecnológica (Arbix et al., 2017; Braga; Gouvea; Gutierrez, 2023) - quanto para os riscos de desindustrialização local, em função das tendências monopolistas das transnacionais e da financeirização do sistema produtivo (Cassiolato; Lastres, 2015). Em outro sentido, estudos demonstram que Estados conseguiram desenvolver suas forças produtivas a partir da entrada de capitais externos, mesmo diante da “sentença” do endividamento e da expansão das empresas transnacionais (Banik; Padovani, 2014; Salvagni et al., 2022; Sun, 2021; Weber, 2023).
As experiências da China e da Índia revelam como estratégias estatais foram capazes de condicionar esses processos econômicos, alterando inclusive percursos globais do capitalismo. Em ambos os casos, a abertura aos investimentos externos foi articulada a planos estratégicos voltados ao desenvolvimento da estrutura produtiva nacional, à ampliação da capacidade de investimento interno e à redução da pobreza. Os recursos provenientes do capital externo foram utilizados para gerar poupança pública e ampliar os dispêndios em educação, ciência, tecnologia e infraestrutura - o que, no caso chinês, permitiu inclusive a elevação da renda média da população.
Para o Brasil, além de não esperar efeitos automáticos dos investimentos externos, é necessário compreender a estratégia que constitui a política externa. A consolidação da “economia do agronegócio” (Delgado, 2012) demonstra a pertinência dos alertas de Cassiolato e Lastres (2015) sobre o risco de sujeição da produção aos interesses dos investidores, além de outras distorções econômicas oriundas da financeirização globalizada. Ainda assim, ressalta-se que as opções políticas e institucionais dos governos têm capacidade de alterar percursos econômicos estruturados, gerando crises e transformações. Como propõe Rangel (2004): é possível reformar o sistema econômico, bancário, fiscal, a política cambial e os mecanismos do comércio exterior - desde que haja poder público.
Reindustrializar o Brasil hoje significa enfrentar o viés político dominante sobre o controle das contas públicas, as pressões internas e externas, e constituir uma estratégia consistente para o capital externo. Quais investimentos estrangeiros reforçam o caráter primário-exportador? Quais contribuem para consolidar a infraestrutura tecnológica no país? A conjuntura da transição energética, por exemplo, encontra-se com a intensificação da crise hídrica europeia e com a busca por mercados vinculados ao setor energético. Essa conjunção já esbarra na reduzida regulamentação dos recursos naturais no Brasil. Em outro sentido, os investimentos chineses, sob o programa “Nova Rota da Seda”, têm concretizado relações de cooperação com países em desenvolvimento por meio de investimentos em infraestrutura e pesquisa científica - ainda que não estejam livres de contradições.
Para o caso brasileiro, questiona-se o preparo da estrutura institucional e regulatória para receber essas diversas formas de investimento e se encarregar da expansão global dos mercados - o que, sob qualquer ângulo, caracteriza a transição tecnológica.
Referências
ARBIX, G. Dilemas da Inovação no Brasil. In: TURCHI, L. M.; DE MORAIS, J. M. (org.). Políticas de apoio à inovação tecnológica no Brasil: avanços recentes, limitações e propostas de ação, Brasília: Ipea, 2017.
ARBIX, G.; SALERNO, M. S..; ZANCUL, E.; AMARAL, G.; LINS, L. M.. O Brasil e a Nova Onda de Manufatura Avançada: O que aprender com Alemanha, China e Estados Unidos. Novos Estudos - CEBRAP, v. 36.03, São Paulo, 2017.
BANIK, A.; PADOVANI, F. Índia em Transformação: o novo crescimento econômico e as perspectivas pós-crise. Revista de Sociologia e Política, v. 22, n. 50, p. 67-93, jun. 2014.
BLOCK. Tornar o Estado visível: a busca de uma nova história da modernidade econômica. Desenvolvimento em Debate, v. 6, n. 2, p. 153-164, 2018.
CASSIOLATO, José. E.; LASTRES, Helena. M. M. Celso Furtado e os Dilemas da Indústria e Inovação no Brasil. Cadernos do Desenvolvimento, Rio de Janeiro, v. 10, n. 17, p. 188-213, jul./dez. 2015.
CHOSSUDOVSKY, M. Globalización de la Pobreza: y nuevo orden mundial. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2002
BRAGA, Helson.; GOUVEA, Raul.; GUTIERREZ, Margarida. Brazilian Export Processing Zones & Green Powershoring: Challenges and Opportunities. Modern Economy, v. 14, n. 10, p. 1366-1392, 2023. Disponível aqui.
DELGADO, Guilherme Costa. Do Capital Financeiro na Agricultura à Economia do Agronegócio: mudanças cíclicas em meio século (1985-2012). Porto Alegre: Editora UFRGS, 2012.
EICHENGREEN, B. A Globalização do Capital: Uma história do Sistema Monetário Internacional. São Paulo: Editora 34, 2000.
FAGERBERG, Jan. Missão (im)possível? O papel da inovação (e das políticas de inovação) no suporte às mudanças estruturais e transições sustentáveis. Em Tese, v. 19, n. 2, p. 108-155, set./dez. 2022.
FLEXOR, G.; LEITE, S. P. Land Market and Land Grabbing in Brazil during the Commodity Boom of the 2000s. Revista Contexto Internacional, Rio de Janeiro, v. 39, n. 2, mar./ago. 2017.
FLIGSTEIN, Neil; DAUTER, Luke. A Sociologia dos Mercados. Caderno CRH, v. 25, n. 66, 2013. DOI: 10.9771/ccrh.v25i66.19426. Disponível aqui. Acesso em: 21 set. 2021.
FLIGSTEIN, Neil; MCADAM, Doug. A theory of fields. New York: Oxford University Press, 2012.
FURTADO, Celso. O Capitalismo Global. São Paulo: Paz e Terra, 1998.
FURTADO, Celso. Teoria Política do Desenvolvimento Econômico. 7. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1979.
GEREFFI, Gary; POSTHUMA, Anne Caroline; ROSSI, Arianna. Introducción. Disrupciones en las cadenas mundiales de valor: ¿continuidad o cambio para la gobernanza laboral? Revista Internacional del Trabajo, v. 140, n. 4, 2021.
MAZZUCATO, Mariana. O Estado Empreendedor: Desmascarando o mito do setor público vs. setor privado. Portfolio-Penguin, 2014.
MDIC, Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. COMEX STAT: Portal para acesso gratuito a estatísticas de comércio exterior do Brasil. 2023. Disponível aqui. Acesso em: 08 ago. 2023.
POMAR, Valter. Os desafios das relações internacionais no governo Lula. In: MAGALHÃES, Juliana Paula; OSÓRIO, Luiz Felipe (org.). Brasil sob Escombros: desafios do governo Lula para reconstruir o país. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2023.
SALVAGNI, Julice; SILVA, Magda Georgia; VERONESE, Marília Veríssimo; AVILA, Róber Iturriet. A ascensão chinesa e a nova rota da seda: mudanças globais, novas hegemonias. Revista Sociedade e Estado, Brasília, v. 37, n. 2, mai./ago. 2022.
SUN, S. China’s Challenges in Moving towards a High-income Economy. Innovation and its growth effects in China. ANU Press, 2021.
Leia mais
- “Nova Indústria” e o desafio à ortodoxia. Artigo de Paulo Kliass
- Quem tem medo da reconstrução industrial. Artigo de Antonio Martins
- Reindustrialização: o passo crucial que faltou
- A reindustrialização brasileira precisa compreender a profunda reorganização do trabalho. Entrevista especial com José Luís Fevereiro
- China e América Latina: uma nova matriz para uma velha dependência?
- A revolução tecnológica informacional com a subsequente superindustrialização dos serviços altera profundamente a natureza do trabalho. Entrevista especial com Márcio Pochmann
- Desindustrialização é subproduto da financeirização e da falta de um projeto de país soberano. Entrevista especial com Miguel Bruno e José Luis Fevereiro
- Economia brasileira: o futuro depende da reindustrialização. Entrevista especial com José Luis Oreiro
- A cegueira estratégica na política industrial brasileira diante da Revolução 4.0. Entrevista especial com Marco Antonio Rocha
- A esquerda deve superar velhas concepções de ‘industrialização’ e política industrial
- Pesquisa revela perfil da indústria 4.0 no Brasil
- Revolução 4.0. "Há muito mais promessa do que realidade. Mas mudanças importantes estão à vista". Entrevista especial com Mario Sergio Salerno
- A crise atual reflete dependência estrutural da economia brasileira, constata economista
- O agro é tudo? Pacto do agronegócio e reprimarização da economia