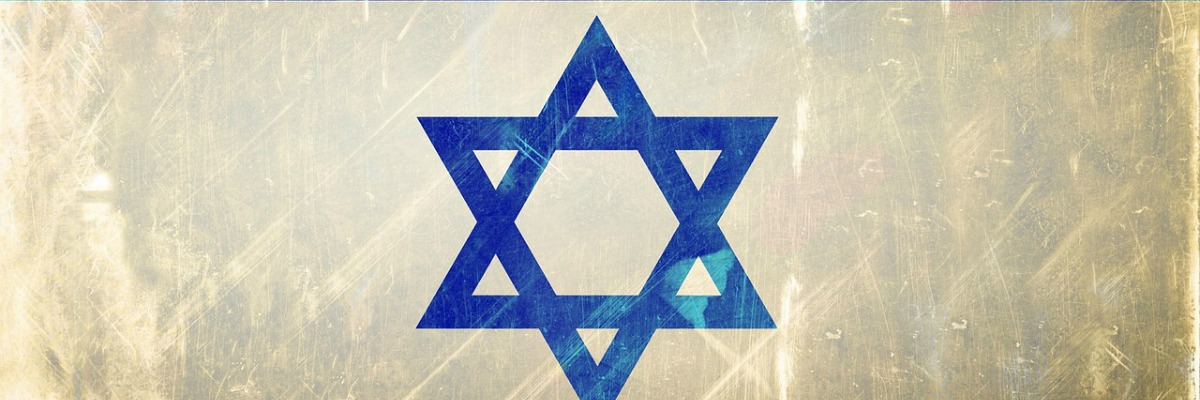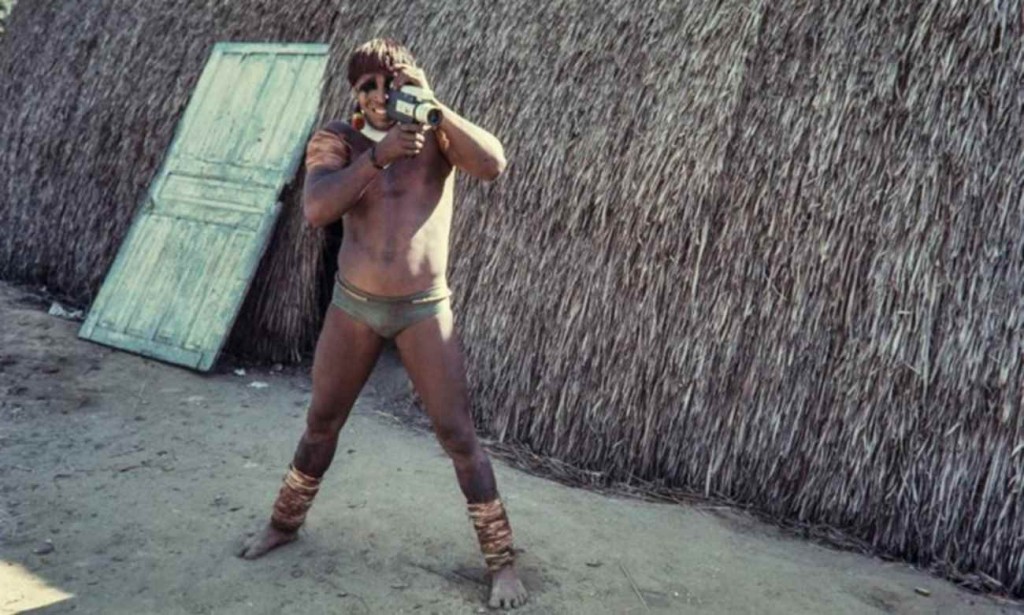28 Julho 2025
"A revolta contemporânea, parece-me, tem a ver precisamente com uma tentativa de restaurar a terra, mas a terra entendida não como território. O território é sempre o regime do capital, da equivalência geral, dos muros. A terra, por outro lado, é o lugar da habitação".
O artigo é de Rodrigo Karmy, doutor em Filosofia e acadêmico da Universidade do Chile, publicado por Laizesquerda Diario, 20-07-2025.
“A Destruição da Palestina é a Destruição da Terra”, de Andreas Malm, foi publicado recentemente em uma edição conjunta da LOM, Verso Libros e Carcaj. O livro é baseado em uma palestra proferida pelo autor na Universidade Americana de Beirute em abril de 2024. Andreas Malm parte de um evento histórico: em 1840, a marinha britânica bombardeou a cidade palestina de Akka, utilizando pela primeira vez navios a vapor movidos a carvão como arma de guerra. Para o autor, esse episódio marca a origem comum de dois processos intimamente relacionados: a colonização da Palestina e a crise climática. Andreas Malm é um escritor, jornalista e ativista sueco conhecido por ser uma das vozes mais relevantes no debate sobre mudanças climáticas.
Reproduzimos a apresentação feita pelo filósofo e escritor chileno Rodrigo Karmy na apresentação do livro realizada em 17 de junho deste ano em Santiago, Chile.
Eis o artigo.
A primeira questão que me parece importante em termos metodológicos é a operação que Malm realiza neste texto. Essa operação consiste em enfatizar que a questão palestina não se refere exclusivamente ao problema de um território distante do mundo, localizado em um lugar específico, a uma distância de 350 quilômetros, etc., mas sim que a questão palestina constitui uma imagem do mundo a partir da qual podemos observar um processo muito mais agudo, que se refere precisamente à destruição da terra.
Esta é uma primeira pergunta que me parece interessante, porque este é um livro de muitas constelações, quase astrológicas, onde datas e obras convergem. O que Malm está dizendo é: a Palestina não é simplesmente um problema restrito ao território, mas é basicamente uma imagem do mundo, com o entendimento de que o que está em jogo hoje é a destruição da Terra, particularmente pelo capital dos combustíveis fósseis. Esta é uma questão que tem sido abordada em vários textos publicados tanto no Chile quanto em outras partes do mundo.
Alguns intelectuais e artistas já notaram essa questão. Como é o caso de Elia Suleiman, o cineasta palestino. Certa vez, em uma entrevista, perguntaram a ele: "Por que você continuou fazendo filmes sobre a Palestina? Você não se cansava de fazer filmes sobre a Palestina?" E Suleiman responde que, basicamente, na contemporaneidade, a Palestina é indistinguível do resto do mundo. Essa Palestina poderia ser qualquer lugar. Poderia ser uma favela no Rio de Janeiro, poderia ser o Wallmapu, poderiam ser outras desterritorializações do mesmo paradigma que começa a se disseminar. Parece-me que essa atitude, que aparece em Suleiman, também aparece aqui na obra de Mauricio Amar quando ele publicou seu livro "O Paradigma Palestino". De certa forma, faz parte dessa mesma constelação. Eu mesmo, no livro "Palestina Sitiada: Ensaios sobre o Devir da Nakba do Mundo", também apontei a ideia de que a Nakba não é simplesmente a catástrofe palestina, mas o tempo em que vivemos. Nesse sentido há uma convergência com a tese de Malm.
Portanto, quero abordar primeiro essa questão metodológica. O que Malm estabelece é que a Palestina, portanto, não é simplesmente um território que existe, mas basicamente o limiar do imperialismo contemporâneo. Ou seja, o cadinho a partir do qual podemos contemplar o futuro do imperialismo. Isso é particularmente verdadeiro em duas dimensões: primeiro, em algo como o clichê do marxismo clássico — infraestrutura e superestrutura.
Primeiro, enfatiza-se que o surgimento do imperialismo cristalizado na Grã-Bretanha teria o carvão como elemento fundamental e, portanto, remeteria ao capital fóssil. Mas, posteriormente, ele se desdobraria não apenas como carvão, mas também como petróleo e, por fim, como gás. Desde o início do uso do carvão pela Grã-Bretanha em seus navios de guerra, em 1840, até o projeto israelense de construir um porto chamado Ben Gurion para explorar massivamente as fontes de gás em Gaza (agora deveríamos escrever Gaza com S), ao longo de todo esse movimento há uma única jornada imperial, uma única racionalidade imperial no contexto de praticamente dois séculos.
E a segunda questão se relaciona não apenas ao capital fóssil, mas também ao sionismo. Para aqueles de nós que regularmente se dedicam ao ativismo, à teorização ou à escrita sobre a questão palestina, a questão do sionismo tem sido frequentemente problematizada de forma restrita como a ideologia que convoca e estrutura o Estado de Israel. Mas muitas investigações foram lançadas nos últimos 20 anos que fornecem uma visão mais ampla do surgimento do sionismo. Por exemplo, a de um historiador palestino chamado Nur Masalha; a de outro historiador palestino chamado Rashid Khalidi; a de Noura Erekat, também intelectual palestina nos Estados Unidos; a de um historiador americano chamado Donald Lewis, e assim por diante.
A partir daí, começou a ser demonstrado que a questão do sionismo não é simplesmente a articulação de uma ideologia nacional judaica que emergiu no final do século XIX, mas que o pano de fundo é o imperialismo britânico, uma vez que o sionismo foi articulado entre o século XVIII e o início do século XIX a partir de uma camada de grupos evangélicos que se opunham completamente tanto ao imperialismo espanhol e seu catolicismo quanto à Revolução Francesa e seu imperialismo. Esse evangelicalismo recupera uma espécie de filossemitismo — isto é, um amor pelos judeus — para encontrar neles aquela palavra autêntica, a autêntica, única e revelada palavra de Deus, que os católicos corromperam, e os franceses também, por serem seculares. Nessa perspectiva, essa camada de evangélicos começou a penetrar no gabinete britânico no final do século XVIII e início do século XIX e, progressivamente, passou a influenciar a política e a construir o imaginário imperial britânico. A Grã-Bretanha deveria se tornar um império na medida em que tivesse a possibilidade — diz esta grande teologia que começa a ser articulada — de fazer os judeus retornarem à Terra Prometida, para que finalmente se convertessem ao cristianismo e Cristo acabasse reinando sobre toda a terra.
Essa tese, que pode parecer maluca, ainda circula no sionismo cristão, que, claro, trouxe a vitória a Bolsonaro, Trump, Milei e outros. Mas o que vemos não é um novo discurso, mas sim um discurso imperial que está enraizado no próprio cerne do imperialismo britânico. Essa tese de que Cristo reina na Terra pode parecer muito insana, mas na realidade é pura geopolítica. Que Cristo reine na Terra significa, da perspectiva do discurso imperial britânico, que o imperialismo reina. E quando o imperialismo britânico reina, a ideia é que não haverá mais judeus. Portanto, é na verdade uma ideologia completamente antissemita.
O sionismo cristão é uma ideologia completamente antissemita que foi posteriormente cristalizada, posteriormente assimilada, pela burguesia judaica europeia, particularmente austríaca, e que, com o apoio britânico e especialmente austríaco, deu origem ao movimento sionista como um movimento colonial que, a partir do final do século XIX, começou a migrar para a Palestina. Ele acabou fundando o Estado de Israel em 1948 justamente com base nessa ideologia sionista territorialista. O sionismo é uma ideologia completamente territorialista e — quero dizer isso como nota de rodapé — não é simplesmente uma ideologia de direita; há também sionismos de esquerda e progressistas. Ambos concordam plenamente em uma coisa: que a Palestina deve ser colonizada porque, dessa perspectiva, a Palestina era uma terra vaga disponível para apropriação. O sionismo é uma cultura de direita, mas não é apenas uma ideologia de direita.
O que Malm demonstra é que o sionismo cristão, originalmente, e eu diria estruturalmente cristão, é o que poderíamos chamar de ideologia do capital fóssil. O capital fóssil — carvão, petróleo, gás etc. — é a grande ideologia imperial que torna possível a extração dessas matérias-primas, e a circulação dessas matérias-primas é precisamente o sionismo como sua expressão. Em outras palavras, há outra leitura que Malm possibilita ao considerar a questão do sionismo: esse movimento colonial existe precisamente porque é articulado pelo capital fóssil, pela extração de capital fóssil.
Um segundo ponto que considero interessante — que Malm não menciona neste texto, mas que está de alguma forma implícito — tem a ver com a história que ele conta. Malm pinta uma imagem de como navios britânicos se aproximam das costas da Palestina — particularmente de Akka, também conhecida como Acre — e a bombardeiam. O combustível que os navios usam é basicamente carvão, o que contrasta com o combustível clássico dos imperialismos da época, que era o vento e as velas dos navios. Quem resiste na Palestina é Mohammed Ali. Quem é esse cara? Obviamente não é o boxeador. Mohammed Ali era um armênio que foi empossado governador do Egito no Cairo no início do século XIX, em 1805, e cujo objetivo era reprimir a série de revoltas que ali ocorriam. O Egito naquela época pertencia ao Império Turco-Otomano, que era o grande monstro com o qual as potências ocidentais tinham que lidar. E acontece que Mohammed Ali introduz uma reforma secular modernizadora na qual propõe estabelecer educação gratuita, saúde gratuita, propõe estabelecer um grande exército nacional e, portanto, propõe estabelecer uma indústria nacional que não esteja vinculada, muito menos subordinada, ao imperialismo britânico.
Foi por isso que o conflito surgiu, porque os britânicos queriam circular mercadorias globalmente e, fundamentalmente, queriam controlar as fábricas de algodão no Egito. Queriam assumir o controle das fábricas de algodão, e foi isso que acabou acontecendo. O projeto de Mohammed Ali foi finalmente derrotado, não apenas na Palestina, mas mais tarde no próprio Egito, em 1881. Os britânicos entraram e tomaram posse do Egito, e entre as coisas que acabaram fazendo estava a conclusão da construção do Canal de Suez (que a administração francesa havia iniciado). É por isso que o Egito continua sendo uma localização tão estratégica, porque o Canal de Suez foi aberto, e isso permitiu uma economia de commodities, a circulação de mercadorias, o que lhes permitiu evitar passar pelo sul da África e dar a volta para chegar àquele pequeno país que é a Inglaterra.
A história de Mohammed Ali é muito importante nesse sentido. Mas também muito importante, em relação às constelações que estamos vendo aqui, é a Questão Turca. Em 1839 e 1840, não apenas navios britânicos exportaram carvão para a costa palestina, mas também o processo de modernização do Império Otomano-Turco, que começou em 1839 e 1840. Envolveu, por exemplo, a introdução ou substituição de escolas islâmicas por escolas científicas e humanistas. Envolveu a transformação da Sharia de um mecanismo moral para regular comunidades em uma espécie de lei civil do Estado. Envolveu a transformação dos ulemás em funcionários públicos. E todo esse processo, chamado Tanzimat, que é a modernização do Estado turco, começou em 1840 — sob pressão das potências ocidentais — e terminou com o desmantelamento do Império Otomano-Turco em 1920 e a fundação da República Turca.
Aqui também há uma linha que converge astrologicamente com as datas propostas por Malm. A penetração do capitalismo sob a hegemonia britânica não pode ser concebida sem o desmantelamento progressivo do Império Otomano, porque esse desmantelamento permitiu que mercadorias pudessem ser transportadas e capital pudesse ser produzido em locais onde a Sharia proibia a produção de capital. É por isso que a Sharia acabou sendo desmantelada e convertida em uma simples lei civil e, em última análise, a modernização do Império Otomano acabou contribuindo para a penetração do capitalismo e a configuração do império em um Estado-nação. Muitos palestinos que chegaram ao Chile no início do século XX têm péssimas lembranças dos turcos. E isso porque os turcos os perseguiram no momento em que deixaram de ser um império que funcionava pela diversidade de comunidades e, ao se nacionalizarem, os perseguiram justamente porque o conceito moderno de nação já estava estabelecido. Isso ocorreu a partir de 1840. Em outras palavras, o que Malm descreve é um pequeno fragmento da instalação do capitalismo no Oriente Médio.
Por fim, há um terceiro ponto que abre o livro de Malm e que considero muito interessante. A jornada imperial que vai da Grã-Bretanha do século XIX ao Israel do século XXI diz respeito à jornada do capital fóssil, dos combustíveis fósseis, como diz o livro. Mas esses combustíveis fósseis também sofrem mutações com base em certos elementos e com base nos graus de abstração do capital. Malm não menciona isso, mas pode-se pensar que sim. Em que sentido? A indústria britânica do século XIX é baseada no carvão; o material é o carvão, ou seja, a rocha.
A indústria norte-americana que substituiu o imperialismo britânico na segunda metade do século XX, os Estados Unidos, agora se baseia não no carvão, mas no petróleo. A rocha se torna líquida. E no século XXI, as novas formas de apropriação da terra não têm a ver apenas com o petróleo, mas com o gás, que não é mais rocha, nem líquido: é ar. Uma questão que, semiologicamente, anda de mãos dadas com a instauração do capital financeiro. Tudo o que é sólido se desmancha no ar, como disse Marx. É a desmaterialização de matérias-primas, na jornada imperial da Grã-Bretanha a Israel. É nesse contexto que Israel agora quer transformar Gaza não tanto em um resort, para desgosto de Trump, mas em um porto para hidrocarbonetos. Particularmente gás, e assim substituir geopoliticamente a fonte de gás que agora vem da Rússia para a Europa por Israel, deixando a Rússia de fora. Isso é parte do cenário que acho que Malm está tentando retratar.
Há dois comentários interessantes com os quais quero concluir, especialmente porque Malm termina com um comentário final sobre o Hamas que eu realmente gostei. Eu também faço um comentário muito semelhante no meu livro. Um ponto importante que Malm levanta no final do seu texto é uma tentativa de desfazer preconceitos sobre o que entendemos por Hamas ou a representação que temos do Hamas. Ele problematiza o orientalismo que opera no discurso liberal quando se pensa no Hamas e mostra muito claramente como o Hamas não é apenas um grupo guerrilheiro como os outros grupos guerrilheiros que existiram em diferentes momentos históricos anticoloniais, mas também está intrinsecamente ligado a outras organizações dentro de Gaza que são inteiramente seculares, como a Frente Popular e a Frente Democrática, que são grupos guerrilheiros de inspiração marxista. É claro que o Hamas controla em grande parte o grupo, mas há uma cooperação interna sem a qual o Hamas não pode funcionar, e que responde precisamente à solidariedade interna que se desenvolveu em Gaza entre os diferentes grupos guerrilheiros. Isso é importante porque o Hamas não pode ocupar todo o espaço crítico da discussão; em vez disso, tem a ver precisamente com o fato de que o que está em jogo em Gaza é também a resistência palestina. E uma resistência que vai além de qualquer grupo específico, e me parece que Malm deixa esse ponto bem claro em uma de suas respostas, reproduzida no texto.
E, finalmente, termino com este outro comentário. Gosto muito do título do livro e gosto que Vicente de Carcaj o tenha traduzido desta forma, porque em inglês a palavra é, de fato, terra. E acredito que há precisamente uma batalha, mas muito aguda em nosso tempo, entre terra e território. Ou seja, a luta na Palestina, em solidariedade a tantos outros movimentos pelo mundo, é fundamentalmente uma luta pela terra, contra as formas em que o imperialismo se articula, que tenta territorializar permanentemente através do capital, através das formas do Estado. Parece-me que a terra é mais um lugar de habitação, mesmo pós-humano, no sentido de que é um lugar que acolhe seres vivos — mais ou menos é o que Malm pensaria nesta leitura — e, inversamente, o território já é uma restrição que estabelece formas de equivalência geral em diferentes pontos e formas de apropriação da terra.
Então, acho este título muito importante: a destruição da Palestina é a destruição da terra. A revolta contemporânea, parece-me, tem a ver precisamente com uma tentativa de restaurar a terra, mas a terra entendida não como território. O território é sempre o regime do capital, da equivalência geral, dos muros. A terra, por outro lado, é o lugar da habitação.
Para dar apenas um exemplo, e termino com este. Quando há revoltas, por exemplo no caso da Primavera Árabe ou da revolta chilena, o que acontece numa revolta é que se apropriam de espaços frequentemente mortos, por exemplo uma rua, um muro — o muro na Palestina, do lado palestino, está completamente coberto por tinta, ou seja, há um uso ali, portanto há uma tentativa de habitar esse espaço — e eu diria que esse é o lugar da terra. Um lugar que irrompe como modo de habitar, precisamente na contramão da forma do território.
Muito obrigado a Andreas Malm por este livro. Muito obrigado aos editores da Carcaj e da LOM. E muito obrigado pelo convite.
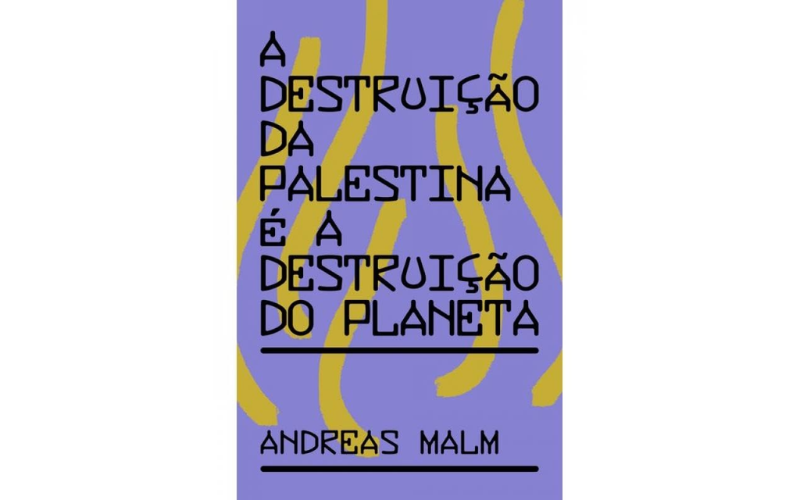
"A Destruição da Palestina é a Destruição do Planeta", de Andreas Malm (Editora Elefante, 2024).
Leia mais
- “O genocídio na Palestina, a crise climática, a pobreza e o racismo têm as mesmas causas”. Entrevista com Ilan Pappé
- Porque o campo ambiental precisa olhar para a guerra Israel-Palestina
- Gaza: um protótipo de ecofascismo? Artigo de Henry Luzzatto
- Gaza, biosfera morta: da guerra dos lixões às 85.000 toneladas de explosivos
- Palestina. O ecocídio dentro do genocídio
- Gaza: sob os escombros de 125 mil toneladas de bombas, palestinos tentam resistir à fome e à sede. Entrevista especial com Arlene Clemesha
- Al Nakba, uma tragédia sem fim. Artigo de Arlene Clemesha
- Pela ruptura das relações comerciais com Israel. Artigo de Marilena Chaui, Paulo Sérgio Pinheiro, Leda Paulani, Carlo Augusto Calil, Arlene Clemesha, Vladimir Safatle e Paulo Casella
- Uma guerra ilegítima. Entrevista especial com Arlene Clemesha
- Os países do Grupo de Haia concordam em encerrar o fornecimento de armas a Israel
- Gaza: os negociantes do extermínio. Entrevista com Francesca Albanese
- “Todos os Estados devem suspender imediatamente todos os laços com Israel”. Artigo de Francesca Albanese
- Relatório Albanese: neutralizar a impunidade, reinterpretar a lei. Artigo de Pedro Ramiro e Juan Hernández Zubizarreta
- O "massacre sem sentido" em Gaza. A Santa Sé entre a diplomacia e a censura. Artigo de Daniele Menozzi
- O que é a Nakba palestina?
- Palestinos, judeus, armênios e mais: a limpeza étnica que mancha a história do mundo