O professor de antropologia, em conferência realizada pelo IHU, esclarece conceitos e pautas que colocam animais e sociedade em foco, seja em embate, seja em acordo
É impossível e inviável conceber uma sociedade sem a presença dos animais. Ao longo do tempo, as formas de dominação, representação e importância deles foi mudando e, com isso, as teorias sociais precisaram se adaptar e propor novas formas de pensar o animal na sociedade. O campo da antropologia é exemplo concreto dessa transformação. “[Surgiram] novas perspectivas sobre o papel dos animais na sociedade. Esses seres não são vistos apenas como recursos ou símbolos, mas como participantes e sujeitos sociais. Pensar os animais como parte das relações sociais é um desafio”, comenta o professor Caetano Kayuna Sordi Barbará Dias no evento “Criação animal, ideologia zootécnica e contrato domesticatório”.
O evento faz parte do Ciclo de Estudos O Novo regime climático e a complexidade da Casa Comum. Possibilidades de um novo existir, promovido pelo Instituto Humanitas Unisinos – IHU. O principal objetivo do ciclo é compreender, transdisciplinarmente, a complexidade dos modos de existência diante do Novo Regime Climático e seus impactos na Casa Comum. Como forma de explorar a complexa realidade que surge destas contradições, as análises aqui propostas servem como tentativas políticas de sensibilizar e apreender a rede infinita de vidas que se interligam a partir da coabitação nas esferas geológicas, biológicas, antropológicas e tecnológicas.
Durante sua fala, Caetano definiu como central o conceito de domesticação e suas diversas ramificações, sejam elas socioculturais, sejam elas biológicas, ecológicas e etológicas. Entretanto, um conceito geral de domesticação é calcado no modelo de controle. “O ato de domesticação é entendido como um ato de controle humano sobre os animais, baseado na incorporação do animal a uma estrutura social, uma comunidade humana. Essa incorporação pressupõe um processo de alienação do animal e da sua linhagem domesticada em relação ao seu meio natural ou selvagem”, completa.
Dentro desse conceito e das mudanças significativas que os animais – e os não humanos – passaram com a evolução do tempo, na sociedade contemporânea com a conexão entre o individualismo atual e o fenômeno dos pets. Segundo Caetano, os serviços para animais de estimação, a comercialização de raças cada mais caras e todo crescimento da indústria pet “refletem transformações na estrutura das famílias e nas dinâmicas sociais”.
O professor de antropologia expressa haver uma dissonância cognitiva na sociedade contemporânea causada pelo seguinte paradoxo: a sociedade, ao mesmo tempo, hipersubjetiva os animais de estimação e hiperobjetifica os animais de produção, além de ocultar aqueles destinados ao consumo alimentar. “Essa dissonância cognitiva revela uma tensão estrutural nas relações entre humanos e animais nas sociedades modernas”, finaliza. A seguir, publicamos a videoconferência “Criação animal, ideologia zootécnica e contrato domesticatório” no formato de entrevista.
Caetano Kayuna Sordi Barbará Dias é professor adjunto do Departamento de Antropologia e Docente Permanente do PPG em Antropologia Social da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Atuou como técnico (antropólogo) no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Superintendência do Rio Grande do Sul, entre 2019 e 2022.
Foi professor da Área do Conhecimento de Humanidades da Universidade de Caxias do Sul (UCS) entre 2016 e 2019. Possui graduação em Ciências Sociais (2011) pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Mestre (2011-2013) e doutor (2013-2017) em Antropologia Social pela UFRGS, com período de estágio sanduíche (PDSE/CAPES) na University of Aberdeen, Escócia (2015-2016).

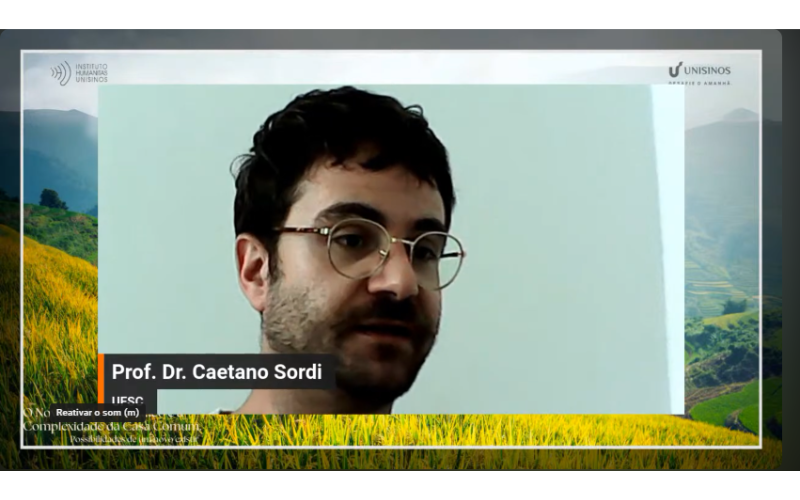
Prof. Dr. Caetano Sordi | Reprodução: Youtube
Eis a entrevista.
IHU – Como o campo da antropologia mudou e passou a pensar sobre os animais e os “não humanos”?
Caetano Kayuna Sordi Barbará Dias – Historicamente, existem duas expressões que foram de início usadas por Claude Lévi-Strauss que são interessantes para entendermos a transição que ocorrerá nas últimas décadas com relação à discussão antropológica sobre os animais em específico e os não humanos. Em “O pensamento selvagem”, o antropólogo francês diz que a antropologia clássica, o utilitarismo, os paradigmas do início do século: o estrutural-funcionalismo, o evolucionismo social... entendiam e pensavam muito os animais na sociedade acima de tudo como recursos. Os animais como sendo “bons para comer”. O animal ingressa na sociedade como um recurso que vai suprir necessidade do ser humano, materiais e nutricionais. O autor mostra que esses não humanos, além desse aspecto utilitário, são bons para pensar, para significar coisas.
O que o Lévi-Strauss pensava mais especificamente era o fenômeno do totemismo nas sociedades australianas e outras ao redor do mundo nos quais certos animais com as suas qualidades se tornam propícios para representar segmentos das suas sociedades, clãs, famílias, linhagens. Isso, na sociedade moderna, é visto claramente na eleição de mascotes para representar times de futebol, países... Quando pensamos em uma transição do “bom para comer” para “bom para pensar”, pensamos uma transição para uma ideia de antropologia de decifrar o lugar dos animais como símbolos. Ainda assim, podemos pensar que é uma visão instrumental dos animais. Não tanto como recurso, mas os animais estão suprindo outra necessidade que é a do pensamento, do simbólico, da mente humana fazendo analogias: leão como símbolo da coragem, galo como símbolo da França.
Durante um certo tempo, o totemismo foi um objeto central na antropologia. No entanto, atualmente surgiram algumas perspectivas sobre o papel dos animais na sociedade. Esses seres não são vistos apenas como recursos ou símbolos, mas como participantes e sujeitos sociais. Pensar os animais como parte das relações sociais é um desafio. Donna Haraway, em “Quando as espécies se encontram”, propõe essa ideia, afirmando que os animais são “bons para viver”, ou seja, sempre fizeram parte da nossa convivência cotidiana.
Isso representa uma dificuldade para o pensamento ocidental, que, desde autores clássicos como Marx, Durkheim e Weber, definiu o sujeito social com base em características humanas exclusivas, como a linguagem simbólica e o comportamento técnico. Contudo, essa visão é limitada e excludente. Muitas sociedades, incluindo a nossa, não funcionariam sem a participação dos animais. Embora eles não acessem a linguagem e o simbolismo da mesma forma que nós, nossas vidas dependem profundamente dessa convivência.
Essa relação não é apenas funcional, mas também moral. Animais despertam em nós sensibilidades éticas, especialmente em um contexto onde convivemos com animais de estimação ou criação. Apesar da influência do pensamento cartesiano, que reduz os animais a um estatuto mecânico, é difícil ignorar a presença deles ou ficar indiferente ao seu olhar.
Assim, torna-se relevante para as ciências sociais refletir sobre o papel dos animais no tecido social. Eles não apenas estabelecem formas de comunicação conosco, mas também desempenham papéis essenciais em diferentes sociedades, desafiando os limites da definição de sujeito social. Isso nos leva a reconsiderar como as relações humano/animal moldam o funcionamento e o sentido da vida coletiva.
Pensando em como os animais nos interpelam em termos de sensibilidades morais, é interessante também discernir dois planos pelos quais a antropologia tem discutido essa questão. Esses planos se sobrepõem, mas, analiticamente, apresentam diferenças importantes que precisam ser identificadas e postuladas.
Por um lado, encontramos questões normativas a respeito das relações com os animais, que dizem respeito a uma dimensão do dever-ser: Como devemos agir? Esse é um campo relevante, não apenas de discussão acadêmica, mas também de ativismo e movimentos sociais emergentes, focados na expansão da ideia de direitos para abranger os animais.
Essa discussão tem avançado bastante na filosofia e no direito, inspirada por correntes como o utilitarismo, exemplificado pelo trabalho de filósofos como Peter Singer. Esses debates buscam responder a perguntas fundamentais: Quais são nossas responsabilidades e obrigações para com os animais? Quais são as fontes de justificação ética para a atribuição de direitos aos animais?
Outra questão relevante é: Quem pode falar legitimamente pelos interesses dos animais? Esse ponto é central, uma vez que, ao ampliar o reconhecimento de direitos a esses seres, surge a necessidade de determinar quais agentes estão habilitados para representar seus interesses – seriam os ativistas da causa animal ou aqueles que convivem mais de perto com eles cotidianamente?
É essencial pensar nas especificidades dos direitos dos animais e como eles se diferenciam dos direitos humanos, pois essas particularidades moldam a forma como esses direitos são reivindicados e aplicados.
Por outro lado, há um conjunto de questões em que a antropologia, por meio do método etnográfico, tem se debruçado. São questões mais analíticas e descritivas, voltadas a entender como as relações entre humanos e animais funcionam e se caracterizam tanto nas sociedades modernas quanto em outras culturas.
Essas relações não se limitam ao campo dos direitos dos animais, mas são regidas por uma espécie de ética prática ou por regimes éticos locais que condicionam as interações. Uma das contribuições da antropologia nesse debate é investigar como diferentes culturas e sociedades percebem os animais e codificam suas relações com eles em termos de valores que orientam suas ações.
Outro ponto crucial é compreender quais mudanças socioculturais e econômicas estão por trás das novas formas de sensibilidade moral com os animais que emergem no contexto contemporâneo. Fenômenos como o crescimento expressivo da indústria pet e dos serviços para animais de estimação, além da comercialização de raças cada vez mais caras, refletem transformações na estrutura das famílias e nas dinâmicas sociais.
Surge, então, a seguinte questão: haveria uma conexão entre o avanço do individualismo moderno e a proliferação do fenômeno dos animais de estimação em diferentes classes sociais? E como se dá essa aparente dissonância nas sociedades contemporâneas, que, ao mesmo tempo, hipersubjetivam os animais de estimação e hiperobjetificam os animais de produção, ocultando cada vez mais aqueles destinados ao consumo alimentar? Essa dissonância cognitiva revela uma tensão estrutural nas relações entre humanos e animais nas sociedades modernas.
É interessante pensar como, ao longo das discussões sobre as relações entre humanos e animais na antropologia, o conceito de domesticação se tornou fundamental. Essa ideia aparece como uma característica distintiva da interação humana com outras espécies, especialmente animais, mas também vegetais. A antropologia não só investiga o conceito academicamente, mas também reflete sobre como ele é usado na linguagem cotidiana, revelando uma certa ambiguidade: o que significa ser domesticado? O que é uma espécie doméstica? E como o processo de domesticação se configura em diferentes contextos sociais e culturais?
Esse conceito também é abordado por outras disciplinas. A arqueologia, por exemplo, busca reconstruir historicamente o desenvolvimento das sociedades humanas e sua relação com a domesticação. A ecologia e a biologia, por outro lado, examinam como a domesticação se configura como uma relação interespécies, pensando na construção de nichos compartilhados e nas interações ecológicas que surgem desse processo. Há também implicações ideológicas e cosmológicas: o que representa a proximidade dos animais domesticados em diferentes culturas e sistemas de crença?
IHU – Quais são os principais aspectos que constituem o conceito de “domesticação” dos animais e quais são as vertentes surgidas a partir dele?
Caetano Kayuna Sordi Barbará Dias – O fenômeno da domesticação pode ser analisado em três planos principais:
Um aspecto crucial da domesticação é o controle e a seleção reprodutiva, que busca características específicas, como vemos em raças de gado ou cães. Há uma longa história de afinidade entre as ideias de domesticação e raça, refletida não apenas em animais, mas também no campo político e social. No fim do século XIX e início do XX, por exemplo, tentativas de “melhorar” a raça humana se inspiraram na seleção artificial de animais, um pensamento hoje superado, mas que revela as implicações políticas desse modelo de domesticação.
Um aspecto muito importante da domesticação é sua dimensão temporal, que se desdobra em dois conjuntos. Podemos considerar a domesticação em uma escala de longa duração, que envolve a evolução das diferentes espécies através do processo de seleção artificial ao longo de milhares de anos. As primeiras domesticações remontam à antiguidade, ligando-se a transições entre períodos como a pré-história e o mundo antigo. Por outro lado, podemos analisar as mudanças em um médio e curto prazo, como as novas sensibilidades que emergem e como eventos históricos significativos, como a colonização das Américas, influenciam essas relações.
Essa dimensão temporal se cruza com a dimensão biológica em dois níveis:
A domesticação também possui um aspecto sociocultural. A maioria das sociedades contemporâneas depende de algum tipo de relação de domesticação com os animais. No contexto da sociedade moderna, essa dependência é inegável. Além disso, existem representações cosmológicas que conectam as formas de vida religiosas e os modos de domesticação. Um exemplo estrutural dessa ideia é a metáfora judaico-cristã de Deus como um grande pastor, onde somos o rebanho e Deus cuida de suas criaturas, estabelecendo relações que reverberam em outras dimensões sociais.
Uma definição mais convencional de domesticação é bastante calcada no modelo de controle. O ato de domesticação é entendido como um ato de controle humano sobre os animais, baseado na incorporação do animal a uma estrutura social, uma comunidade humana. Essa incorporação pressupõe um processo de alienação do animal e da sua linhagem domesticada em relação ao seu meio natural ou selvagem.
Assim, a domesticação transforma o animal em objeto de propriedade, de herança, de aquisição, de troca e de utilização econômica. Esse processo envolve mudanças morfológicas e comportamentais que resultam de uma seleção artificial consciente, onde os seres humanos direcionam a seleção dos indivíduos com características desejadas e eliminam aqueles que não são interessantes para fins humanos. Também pode ocorrer uma seleção natural não dirigida, resultado do ambiente modificado pelo ser humano.
A ideia de que certas variedades de animais domesticados surgem como efeitos não intencionais da modificação ecológica ao longo do tempo é fundamental. Diversos autores discutem esse modelo de domesticação como controle, que foi hegemônico durante muito tempo.
De certa forma, o que fundamenta esse modelo dominante é a revolução neolítica, cunhada pelo arqueólogo Gordon Childe. Em seu livro clássico, que tem um nome interessante, "O homem que produziu a si mesmo", Childe desenvolve a ideia de que, há cerca de 12 mil anos, ocorreu uma transição abrangente de um modelo de caça e coleta para um modo de vida sedentário. A base dessa sedentarização teria sido o controle progressivo dos humanos sobre o ciclo de vida das plantas e dos animais, ligando a domesticação ao surgimento da agricultura.
Esse processo resultou em mudanças demográficas, socioeconômicas, políticas e culturais. Há uma relação de causa e efeito entre a domesticação, o surgimento da agricultura, a criação animal, o pastoreio, a emergência do Estado e a estratificação social. Assim, a domesticação é vista como um estágio de desenvolvimento civilizacional pelo qual quase todas as sociedades estariam destinadas a passar, uma vez que começam a ter controle sobre o ciclo de vida das plantas e dos animais. A domesticação, portanto, também é pensada como um modelo de dominação social, incluindo o controle das classes subordinadas, como camponeses e mulheres.
É interessante pensar que a ideia de domesticação, associada ao controle, está radicada na etimologia do termo. Ele vem de domus, palavra latina que significa casa, habitação ou espaço habitado. Na cosmologia mediterrânea, especialmente no mundo romano antigo, essa noção está ligada ao domínio e à dominação. A casa é o local onde um patriarca, o chefe da família, exerce poder de vida e morte sobre todos os que estão sob seu jugo, incluindo animais, mulheres, filhos e escravos.
No ordenamento jurídico romano, a comparação entre escravos e animais domésticos é reveladora. O escravo humano era considerado um instrumentum vocale, ou seja, uma ferramenta que fala, enquanto os animais eram vistos como instrumentum inanimatum, ferramentas que não falam, mas têm algum tipo de agência e estão submetidas ao controle patriarcal.
Com o passar do tempo e com as descobertas arqueológicas sobre o processo de domesticação, especialmente em locais de interesse para a antropologia clássica, como o Oriente Médio, percebe-se que esse processo pode não ter sido tão definitivo. A ideia de que a domesticação é um evento isolado, ocorrido há cerca de 12 mil anos, que deu origem às espécies domesticadas e gerou efeitos irreversíveis, tem sido questionada.
Na antropologia contemporânea, há tentativas de pensar a domesticação de forma mais processual. Um dos principais representantes desse pensamento é o antropólogo Jean-Pierre Digard, que contribui para o campo da antropologia da técnica, abordando a relação do ser humano com o mundo a partir de atos técnicos tradicionais.
Assim, a domesticação é vista não como um evento único, mas como um processo contínuo, aprendido a cada geração. Essa abordagem foca em como a domesticação acontece, e não apenas onde e quando. A ideia é que diferentes sociedades e civilizações desenvolvem modelos variados de domesticação que interagem com os animais de maneiras diversas.
Outro fenômeno interessante é a feralização, que ocorre quando indivíduos ou variedades domesticadas de algumas espécies, afastados da interação humana por um certo tempo, começam a recuperar traços de suas versões selvagens, tanto em comportamento quanto em características físicas. Por exemplo, cães que se afastam dos humanos podem adotar modos de vida mais próximos dos lobos, e a falta de seleção artificial pode fazer com que certas características ancestrais voltem a se manifestar.
A domesticação não é um evento definitivo que ocorreu em um momento específico; ela é um processo contínuo, variável e reversível. Digard propõe um conceito interessante: o de sistemas domesticatórios, que difere da ideia de uma domesticação ampla com uma origem e um local determinados. Em vez disso, existem diferentes sistemas domesticatórios que emergem e se desenvolvem em várias partes do globo, definidos como um conjunto de relações sincrônicas. Essas relações ocorrem conjuntamente entre a produção e a utilização dos animais, a organização da sociedade e seus sistemas de representações. Essa abordagem metodológica permite analisar as relações com os animais em diferentes contextos, considerando também os diversos padrões morais que as regem.
É interessante considerar outro antropólogo da técnica, François Sigaut, que sugere que podemos desdobrar o conceito de domesticação em pelo menos três planos, que não necessariamente ocorrem conjuntamente em todos os sistemas domesticatórios. Estes planos são:
Sigaut observa que esses processos não necessariamente ocorrem de forma conjunta em todos os sistemas domesticatórios. Por exemplo, há sociedades que desenvolvem a familiarização com alguns animais, como filhotes de animais selvagens adotados por comunidades indígenas na Amazônia, sem que isso implique um processo de utilização econômica.
Por outro lado, encontramos uma série de animais considerados propriedade em um sistema moderno, como aqueles que estão em zoológicos ou em parques privados de milionários. Esses animais não passam por um processo de familiarização com os seres humanos; ao contrário, são mantidos para representar o selvagem e conservar características como a feracidade. Assim, conseguimos explorar a ideia de domesticação em planos que não são coincidentes.
Contemporaneamente, há uma série de críticas à ideia de domesticação que apontam para outros elementos interessantes. Algumas autoras, ligadas a uma vertente feminista, buscam desconstruir o viés patriarcal da domesticação como dominação. Por exemplo, Rebeca Cassidy e Molly Mullin organizaram a coletânea "Where the Wild Things Are Now", que promove uma discussão interdisciplinar envolvendo arqueologia contemporânea, etnografia multiespécies, perspectiva ecofeminista, ecologia política e teoria da simbiose.
Essas proposições tentam repensar a domesticação como um processo que restitui a agência dos animais. A domesticação não ocorre apenas de forma unidirecional, mas também envolve o interesse dos animais em se aproximar dos seres humanos. Essa ideia é particularmente relevante nas discussões contemporâneas sobre a domesticação de cães, que levanta a questão: será que não fomos também domesticados pelos animais? Aqueles que têm gatos em casa podem perceber isto: a relação é de mão dupla, em que os animais moldam nossas vidas e comportamentos.
Nesse contexto, proponho o conceito de "contrato domesticatório", que permite pensar as relações com os animais domesticados não apenas como demandas e imposições, mas como compromissos que as diferentes gerações humanas contraem com as gerações dos animais. Isso se manifesta claramente no mundo camponês, onde há um compromisso moral dos criadores com seus rebanhos, incluindo uma proteção contra a predação. Essas trocas, construídas ao longo do tempo, reverberam também nos afetos, destacando a importância de lidar com os animais não apenas como recursos, mas como sujeitos relevantes para ações de cuidado e proteção.
Esse pensamento critica a definição patriarcal de domesticação, movendo-se em direção a um espaço compartilhado, onde o domus é visto como um local de coemergência e cuidado, promovendo a ideia de que habitar e compartilhar com os animais é essencial.
Há também, entre alguns autores, um olhar interessante do norte-americano Richard Bulliet, que discute uma possível pós-domesticação. Ele classifica o sistema domesticatório contemporâneo em uma divisão um tanto binária: de um lado, as sociedades que ele chama de “domésticas” – como as agrícolas tradicionais e o pastoralismo – e, de outro, as sociedades “pós-domésticas”, caracterizadas pela racionalização e modernização da produção animal.
Bulliet argumenta que, ao longo dos últimos dois séculos, especialmente no século XX, nas sociedades capitalistas modernas e também no bloco soviético, houve um contínuo processo de separação entre a esfera da produção e do consumo. Nas sociedades domésticas, havia um contato direto entre as pessoas e os animais dos quais dependiam para a sobrevivência. O abate, a morte e a reprodução dos animais eram eventos testemunhados, permitindo uma compreensão mais íntima das etapas da transformação de um animal em carne ou em produtos como lã.
Com a modernização, essa relação se distanciou, e a produção tornou-se cada vez mais separada do espaço urbano onde as pessoas vivem. Os animais passaram a ser moldados para atender a uma demanda crescente por carne, fibras e produtos lácteos. Os ciclos de vida e o processo de seleção artificial focaram na produtividade, levando a uma exploração da relação entre humanos e animais que, segundo os movimentos de direitos dos animais, apresenta um paradoxo: como podemos amar alguns animais e comer outros?
Bulliet propõe que isso resulta em uma dissonância cognitiva nas sociedades modernas, onde ações contraditórias ocorrem sem que as pessoas reconheçam a contradição. Essa dissonância se torna evidente quando as contradições são expostas. Essa separação se reflete também nas relações contemporâneas com animais de estimação e de produção, onde os primeiros são hipersubjetivados e recebem status de proteção jurídica, enquanto os segundos se tornam cada vez mais massificados para atender à demanda de produtos, sendo moldados para maior produtividade.
Ele argumenta que essa cultura contemporânea, especialmente nos Estados Unidos, revela uma visão de mundo violenta, com a celebração da violência na indústria cultural. Bulliet sugere que o ocultamento progressivo dos ciclos de vida dos animais contribui para essa cultura, onde o abate e a reprodução dos animais se tornam parte da fantasia coletiva em vez de uma realidade visível no cotidiano. Essa dinâmica resulta em um distanciamento emocional e moral, que gera uma desconexão entre o que se consome e as implicações desse consumo.
IHU – O que o livro da antropóloga Jocelyne Porcher diz sobre criação e produção animal?
Caetano Kayuna Sordi Barbará Dias – Ela [Jocelyne Porcher] propõe o conceito de "ideologias zootécnicas" em seu livro “Viver com os animais: uma utopia para o século XXI”. Nessa obra, Porcher analisa a dissonância cognitiva que caracteriza as sociedades modernas, especialmente em relação aos animais de trabalho.
A autora distingue dois tipos de sistemas domesticatórios:
Porcher também chama atenção para a injustiça epistêmica que afeta as comunidades tradicionais de criadores. Os saberes e práticas desses grupos são frequentemente desvalorizados ou marginalizados, em nome de uma suposta modernização zootécnica. Isso é particularmente visível quando tentam impor reformas que desconsideram o caráter artesanal e comunitário da criação tradicional.
Assim, a autora propõe uma crítica ao modelo produtivo moderno, defendendo que a criação animal tradicional oferece uma alternativa mais sustentável e ética. A lógica de intimidade e de compromissos mútuos nesses sistemas tradicionais sugere que a convivência com os animais pode ser mais do que uma relação econômica – pode ser uma forma de coabitação respeitosa e significativa, onde humanos e animais compartilham responsabilidades e afeto.
E, de certa maneira, é possível ver essa dicotomia entre criação e produção animal se expressando em momentos importantes, especialmente em crises sanitárias. Esses momentos são cruciais para a antropologia, pois revelam os conflitos entre esses dois modelos. Um exemplo é a febre aftosa no sul do Brasil e em outros países. Nessas situações, há uma demanda mercadológica que mobiliza o aparato biopolítico do Estado para erradicar rapidamente os focos da doença, mesmo sabendo que a febre aftosa pode ser tratada e não é transmissível para humanos. Pequenos criadores frequentemente resistem aos grandes sacrifícios impostos nesses contextos.
Podemos fazer um paralelo com a crise da vaca louca na Europa e, mais recentemente, com o debate sobre zoonoses após a Covid-19. Nesse último caso, surgiram polêmicas sobre a origem do vírus, frequentemente acompanhadas por preconceitos xenofóbicos e culturais em relação às práticas de criação e comercialização de animais na China. Essas críticas carecem de uma sensibilidade etnográfica para compreender o que realmente está em jogo. Além disso, a imposição de protocolos zootécnicos, ao deslegitimar as formas tradicionais de manejo animal, pode contribuir para o surgimento e proliferação de novos patógenos.
IHU - O senhor poderia fazer uma interface entre os direitos dos animais e os direitos da natureza, ambos como sujeitos de direitos? [1]
Caetano Kayuna Sordi Barbará Dias – A emergência dos direitos dos animais parece se alinhar com discussões contemporâneas sobre direitos da natureza e outras formas de reconhecimento de sujeitos não humanos. No entanto, essa discussão normativa enfrenta desafios significativos, tanto em termos de implementação prática quanto de alinhamento entre diferentes perspectivas. Por exemplo, a ideia de direitos da natureza se aproxima de um paradigma mais biocêntrico, onde se busca proteger o conjunto das relações ecológicas, enquanto os direitos dos animais, em abordagens como as de Peter Singer (utilitarista) ou Gary Francione (abolicionista), focam no animal individual, considerando seu sofrimento e sua capacidade de felicidade como centrais.
Ainda assim, essas abordagens podem divergir em escala e aplicação. Enquanto algumas jurisdições, como a Bolívia, reconhecem elementos naturais como sujeitos de direito (como rios), os direitos animais se concentram na proteção específica de cada ser. Ambos os campos enfrentam o desafio central de definir quem pode falar em nome desses sujeitos: como a natureza ou os animais podem ser representados juridicamente? Quem são os porta-vozes legítimos nesses casos – movimentos de direitos animais, defensores ambientais ou outros atores?
Outro ponto relevante envolve as tensões culturais e sociais. Um exemplo é a crítica a práticas religiosas de matriz africana, como o sacrifício animal, que muitas vezes é atacada por defensores dos direitos dos animais sob alegações de crueldade. Entretanto, essas críticas podem encobrir preconceitos e racismo ambiental, desconsiderando que essas tradições tratam os animais com respeito e que o sacrifício é visto como uma consagração natural e significativa dentro de sua cosmologia.
Essas tensões revelam um conflito profundo: quem tem a legitimidade de falar sobre esses animais? Muitas vezes, os defensores dos direitos animais são acusados de se posicionarem sem familiaridade ou convivência cotidiana com os animais que afirmam representar. Assim, o desafio maior está em definir, política e juridicamente, como interpretar os interesses dos sujeitos não humanos. Pode ser que animais e elementos da natureza estejam expressando algo que ainda não conseguimos entender ou interpretar corretamente – uma questão que permanece em aberto e é essencial para futuras discussões.
IHU – Como a ideologia zootécnica se insere no agronegócio? Como ele atualiza ou intensifica essa ideologia? [1]
Caetano Kayuna Sordi Barbará Dias – É possível pensar que a produção animal é parte constituinte do agronegócio e uma das suas principais cadeias. Trata-se de um sistema altamente financeirizado, que utiliza recursos naturais de forma massiva para atender demandas frequentemente distantes dos locais de produção. Essa lógica se conecta com o conceito contemporâneo de ruptura metabólica, como discutido no contexto do Capitaloceno. O Brasil é um exemplo disso: recursos naturais são explorados para consumo em outras regiões, especialmente para mercados externos como o da China.
No agronegócio brasileiro, essa fratura metabólica é evidente em questões como o drama dos fertilizantes. Apesar do Brasil ser uma potência agrícola, seus solos exigem fertilização constante, utilizando recursos minerais importados de regiões como a Sibéria e a Ásia Central. Assim, para manter a produtividade da soja e do milho, voltada em grande parte à alimentação animal na China e localmente, há uma dependência desses insumos internacionais. Essa dinâmica reflete a complexa sinergia entre a produção vegetal e animal.
No caso do Brasil, milho e soja transgênicos alimentam animais tanto no mercado interno quanto externo. Regiões como o oeste de Santa Catarina ilustram bem essa interconexão. Pequenos criadores de aves trabalham sob um modelo imposto por grandes frigoríficos, que fornecem o alimento para as granjas e estipulam as condições da produção.
Curiosamente, muitos desses criadores preferem não consumir o frango que produzem para as indústrias, optando por aves criadas de forma mais tradicional, soltas e ao ar livre, refletindo a distinção entre os conceitos de criação e produção animal, como definidos por Jocelyne Porcher.
Essa relação entre ideologia zootécnica e agronegócio é essencial. A expansão de determinadas variedades de animais no Brasil, como a introdução do gado zebuíno, é um exemplo claro dessa influência. Esse projeto, conduzido por elites, buscou adaptar o gado indiano aos ambientes brasileiros, consolidando a hegemonia da ideologia zootécnica nas últimas décadas. Esse modelo, intrinsecamente ligado ao agronegócio, é estrutural e reflete uma lógica econômica e produtiva que molda a criação e a produção animal no país.
IHU – Como determinados ramos da ciência, como a biologia, agronomia e a ciência veterinária, ecoam os princípios da domesticação animal e da ideologia zootécnica? [1]
Caetano Kayuna Sordi Barbará Dias – A forma como o bem-estar animal tem sido incorporado ao sistema produtivo e à formação científica é um exemplo significativo das pressões que moldam essas áreas. Hoje, o bem-estar animal é uma demanda da própria indústria, voltada a atender consumidores preocupados com a qualidade de vida dos animais que irão consumir. Esse interesse reflete-se em campanhas que promovem imagens de "galinhas felizes" e outras estratégias de marketing. No entanto, essa incorporação do bem-estar animal muitas vezes assume uma perspectiva quantitativa, focada em métricas como níveis de cortisol, para medir estresse.
Porém, a abordagem sugerida por Jocelyne Porcher vai além. Ela argumenta que reduzir o bem-estar a índices laboratoriais é insuficiente, pois ignora a dimensão relacional e emocional dos animais, que convivem em interação com seres humanos. Esse aspecto relacional é essencial para entender o que constitui o bem-estar verdadeiro desses animais, pois eles não são apenas organismos produtivos, mas sujeitos que possuem necessidades emocionais e sociais.
Além disso, há uma complexidade nas ciências agrárias, que buscam integrar saberes tradicionais e técnicos. No entanto, a formação de profissionais nessas áreas ainda sofre pressão para operar dentro dos limites da ideologia zootécnica, que frequentemente reduz o bem-estar animal a dados metrificáveis. Esse processo pode levar a um tipo de sofrimento não apenas para os animais e criadores, mas também para os próprios profissionais da área.
Trabalhar na cadeia produtiva, especialmente em frigoríficos, é um exemplo claro dos efeitos negativos dessa desensibilização. Esses ambientes têm altos índices de notificações por insalubridade e aposentadorias precoces devido ao desgaste físico e emocional. Assim, é fundamental que as instituições de ensino superior criem espaços de reflexão que permitam aos futuros profissionais lidar criticamente com essas demandas da indústria e encontrar formas mais humanas de interagir com os animais e o ambiente produtivo.
1. Perguntas feitas pelos espectadores da live.