14 Setembro 2024
“Vivemos em uma nova era. A verdade não existe mais e a diferença entre roubar e não roubar, entre propriedade privada e bem comum, entre decência e roubo, é cada dia mais difusa. Galbraith chamou este novo paradigma de ‘economia da fraude’. Poderíamos também chamá-lo de suicídio (triunfal) do capitalismo pós-moderno”, escreve Carlos Mármol, escritor e jornalista espanhol, em artigo publicado por Letra Global, 06-09-2024. A tradução é do Cepat.
Eis o artigo.
“Ao contemplar a paz, vejo as mercadorias que circulam, os bailes, as casas que se levantam, as vinhas e as terras que se cultivam, as plantações, as águas, as cavalgadas, as donzelas que celebram as núpcias, os rebanhos de ovelhas... E vejo homens enforcados para manter a Santa Justiça”. Bernardino de Siena, frade franciscano e mestre do sermão medieval, descrevia assim a imagem (ideal) da Europa, em 1425, quando a religião cristã convivia com os primórdios da era comercial.
A história da humanidade, assim como a vida de qualquer um de nós, desenvolve-se em ciclos. O que aconteceu então ainda persiste; o que acontece agora já aconteceu (de outra forma) muito antes. O devir não é um evento linear, mas uma recorrência circular, bem como as esferas dos planetas no universo.
Se não somos capazes de reconhecer por completo o cenário, assim como os antigos navegadores desconheciam o que havia além do horizonte, dado que aos seus olhos a Terra era plana, é porque a progressão do tempo histórico ultrapassa os limites estritos de qualquer vida. Vemos o ato, mas desconhecemos os significados e as fissuras da obra.
Sendo assim, jamais entenderemos o presente sem olhar a fundo para o passado, assim como somos incapazes de decifrar uma frase se não vemos a sua extensão: a soma do sujeito, o verbo e os predicados. Paolo Prodi (1932-2016) foi um historiador italiano que, em 2009, em paralelo à última grande crise econômica, escreveu um ensaio – Séptimo: no robarás. Hurto y mercado en la historia de Occidente – que acaba de ser traduzido para o espanhol.
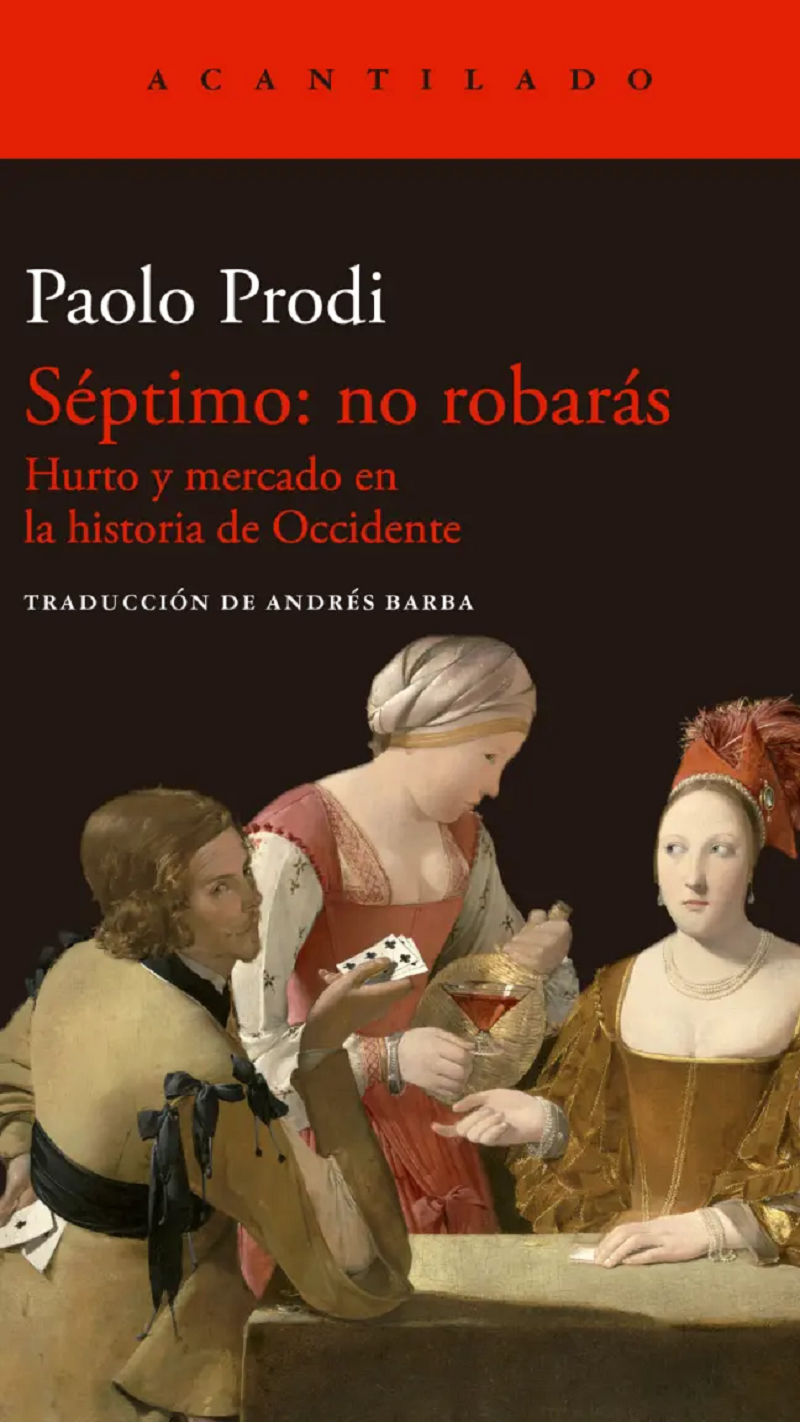
É um livro importante e, por isso, em seu momento passou despercebido por grande parte do público. Não para essa imensa minoria que ainda mantém o desejo intelectual de entender as coisas. Porque o grande mérito desta obra, que faz um percurso pelos diferentes significados do roubo ao longo da história ocidental, é que transcende o campo da erudição para nos mostrar – em um grande ângulo – a fotografia completa da mudança de era que vivemos, sem desconfiar.
A tese de Prodi é tão sugestiva quanto os seus argumentos, com os quais se pode (ou não) concordar, mas que não é inteligente ignorar. Seu livro é um excelente diagnóstico de nossas patologias.
A globalização, embora atrasada pela pandemia, acelerou o curso da História e dirige a nave Terra para uma estação desconhecida. Vivemos uma época que é, ao mesmo tempo, o fim da modernidade – essa fase da História que começa no Renascimento e se estende até a Guerra Mundial de 1914 – e o início de um tempo de incerteza em que a democracia está seriamente ameaçada.
Paradoxalmente, os atuais inimigos do liberalismo são os mercadores pós-modernos. Homens de negócios. Financistas. Contudo, a sua indubitável hegemonia não corresponde mais à antiga narrativa do marxismo – a luta de classes –, nem aos contos infantis sobre bons e maus com os quais a esquerda descreve a realidade.
A verdade é muito mais complexa. Prodi explora as origens desta metamorfose cultural na transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, quando se fixa o modelo social, político e econômico que está ruindo. Em sua avaliação, a grande diferença do Ocidente em relação ao resto das culturas, aprisionadas pela religião, é a consideração do mercado como um sujeito.
Encontramos a sua primeira representação física na ágora grega e no fórum romano, mas a sua simbologia transcende ambos os espaços. As praças das cidades, embora se mantendo o centro do poder religioso e político das grandes civilizações, também se tornam o espaço dos negócios.
Esta mutação deixa uma marca curiosa na evolução semântica do conceito de furto que, além de designar a apropriação do patrimônio alheio, começa a ser entendido como a violação das normas do mercado, que representam o que se conhece como o bem comum e, tempo depois, com o Iluminismo, como o interesse geral.
O valor das coisas – que não equivale a seu preço – é decidido pela livre vontade de um comprador e um vendedor nesses fóruns mercantis. Neles nasce a modernidade: frente à economia do dom, que é o que ainda se percebe em fenômenos como o clientelismo e o caciquismo, o comércio, desvinculado da posse da terra, que é o fator sobre o qual se sustentam todas as culturas agrárias, transforma-se em um capital móvel (e mais tarde em uma indústria), cujo crescimento depende da troca presente no contrato mercantil.
É graças ao comércio – explica Prodi em seu livro – que o Ocidente se antecipa ao restante das culturas, primeiro separando o poder da religião (século XI) e depois desintegrando a identidade ancestral entre Deus, Monarquia e Dinheiro, as três pessoas da santíssima trindade do absolutismo. A dissolução deste domínio ancestral provocada pela sociedade comercial é a faísca que acende o fogo do capitalismo inicial. A distância exata que separa os paradigmas (fechados) do mundo primitivo em relação ao marco da modernidade.
Onde havia uma única estrutura dominante, uma sociedade de reis e vassalos, surge espontaneamente uma rede de interesses mútuos mais rica e complexa. A Europa salta do monólogo à dialética coral. Esta pluralidade de interesses sociais acaba sendo a própria placenta do liberalismo e das democracias ocidentais, embora demorem muitíssimo tempo para cristalizar.
Prodi fornece outra chave: a modernidade é um exercício de flexibilidade através do qual a Europa – e mais tarde os Estados Unidos – é capaz de renovar e reformar, nem sempre de forma pacífica ou sem tormentos, as relações entre o mundo da política e o dinheiro. Dito de outra forma: as civilizações antigas, como a vida de qualquer ser humano, possui apenas três fases: auge (nascimento), esplendor (maturidade) e decadência (velhice). A modernidade, que nada mais é do que a tradição da mudança, como explica Octavio Paz, em Os filhos do barro, é perfeitamente capaz de mudar, adaptar-se e metamorfosear-se, combinando (de forma distinta) o antigo com o novo. A sociedade ancestral é estagnada. A moderna é dinâmica.
O que Prodi relata em seu ensaio é este longo processo de dessacralização – ou seja, secularização – que vai das “economias palacianas” do Egito, Atenas, a Jerusalém, em cujo templo Jesus entrou para chicotear com ira os comerciantes, e a Roma imperial, onde o fórum ainda era um espaço fundamentalmente político até a emancipação comercial que começa no século XII e vai até inícios do século XX.
O comércio moderno, com efeito, nasceu na periferia do sistema. Era considerado uma atividade reprovável, sobretudo pela Igreja. A única forma que um negociator tinha de alcançar alguma consideração social e se libertar do estigma de seu ofício era se tornar um aristocrata, tornando seu o ideal nobiliário. Com o passar do tempo, coloniza a sociedade. Este processo histórico está repleto de avanços, retrocessos e contradições. Entre elas, a mais assombrosa é que a Igreja pregasse a pobreza para os outros, mas não para si mesma.
Prodi argumenta que a república internacional do dinheiro, surgida a partir do comércio medieval, expandida graças à descoberta da América e motor dos sucessivos impérios ultramarinos (Espanha, França e Inglaterra), sempre coabita com o poder político, ao qual obriga a se adaptar a um fenômeno novo: a concorrência.
Onde há concorrência, há tensão, política e, muitas vezes, guerra. Ao longo deste extenso período histórico, houve muitas tentativas de retornar ao passado. Prodi cita os estados teocráticos – onde religião e legislação se confundem, pois há leis, mas não há Direito –, o Estado empresarial do século XVIII, os impérios do XIX e os totalitarismos do século XX (fascismo, nazismo e comunismo).
Todos possuem traços religiosos frente ao infinito prosaísmo do comércio. Todas estas ideologias (primitivas ou novas formas de nacionalismo) tentam substituir a dialética social pelas identidades tribais, excludentes e categóricas. O desenlace de sua batalha é o infame holocausto dos judeus, julgados como a própria representação da república internacional do dinheiro.
As democracias ocidentais, herdeiras do Estado-nação nascido com a Revolução Francesa, impuseram-se a estes monstros, mas a sua vitória não evitaria que o equilíbrio (imperfeito) entre o poder político e o dinheiro seguisse se desgastando, afundando em um processo que teve o seu canto do cisne com a Primeira Guerra Mundial, que coincide com uma crise severa do padrão-ouro e que é seguida pela Revolução Russa.
O que acontece agora – argumenta Prodi – é que o capitalismo, completamente emancipado dos estados nacionais, começou a operar de forma absolutamente autônoma, tornando-se a face de um novo totalitarismo inquietante, cujas expressões são a privatização do direito público, os monopólios ocultos, a política de subsídios, os interesses sindicais que dificultam a concorrência e as redes tecnológicas que já substituem os mercados. O capitalismo global de ordem financeira frente à economia real.
“Estamos - escreve Prodi - diante de uma fusão do poder político e econômico inversa à das sociedades pré-modernas, porque o peso do território desaparece, afirma-se a hegemonia do econômico sobre o político e as finanças reconstroem um monopólio de poder que escapa às leis da democracia em que ainda acreditamos viver”. O grande paradoxo é que este triunfo da economia em escala planetária, frente a um poder político incapaz de transcender a lógica do Estado moderno, ameaça a própria sobrevivência do mercado da forma como o conhecemos desde a Idade Média.
“O que entrou em crise não é só a relação do mercado com a política ou da empresa com o contexto social em que opera, mas também a relação interna entre os proprietários do capital e a direção (das empresas) que, com as sociedades anônimas, caracterizou o mercado até nossos dias (…) A questão é se o Ocidente conseguirá preservar a democracia e, com ela, a separação entre o poder religioso, o político e o econômico graças à dialética entre o interesse privado e o bem público, expressa no sétimo mandamento”.
Vivemos em uma nova era. A verdade não existe mais e a diferença entre roubar e não roubar, entre propriedade privada e bem comum, entre decência e roubo, é cada dia mais difusa. Galbraith chamou este novo paradigma de “economia da fraude”. Poderíamos também chamá-lo de suicídio (triunfal) do capitalismo pós-moderno.
Leia mais
- O marketing ostensivo torna os alimentos ultraprocessados um desejo dentro do capitalismo. Entrevista especial com Raquel Canuto
- A face mais carismática e implacável do capitalismo brasileiro. Artigo de Hugo Albuquerque
- 'Lógica do capitalismo': Sul Global faz 90% do trabalho mundial, mas detém apenas 20% da riqueza
- Os fundamentos míticos do capitalismo. Artigo de Gil-Manuel Hernández i Martí
- A esquerda, o capitalismo e o mercado. Artigo de Alberto Leiss
- “Para o capitalismo, a vida humana é um efeito colateral”. Entrevista com Yayo Herrero
- O capitalismo fóssil não é um tigre de papel
- Capitalismo e abismo ecológico
- “O capitalismo matou o capitalismo”. Entrevista com Yanis Varoufakis
- O encontro entre Reforma e o surgimento da Modernidade. Entrevista especial com Franco Cardini
- Existe outra modernidade possível? Entrevista com Pablo Blitstein
- Século XXI: o colapso da modernidade, a ascensão da multipolaridade e os desafios da pluriversalidade. Entrevista especial com Walter Mignolo
- Imperialismo, globalização e seus descontentamentos
- “Precisamos criar novos tipos de organizações e repensar as organizações que regulam a globalização”. Entrevista com Gabriel Zucman
- “A globalização como horizonte de crescimento permanente e estável acabou”. Entrevista com Paolo Gerbaudo
- A globalização como mercado e guerra civil mundiais. Entrevista com Maurizio Lazzarato







