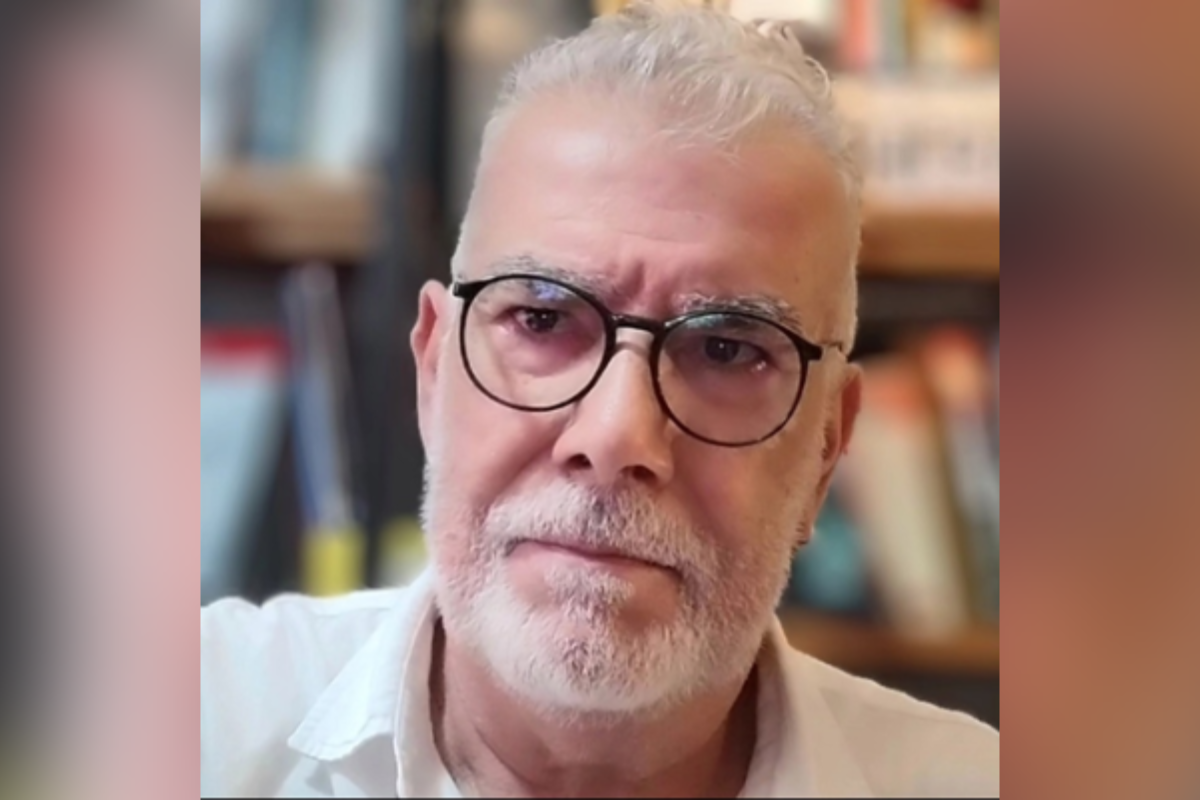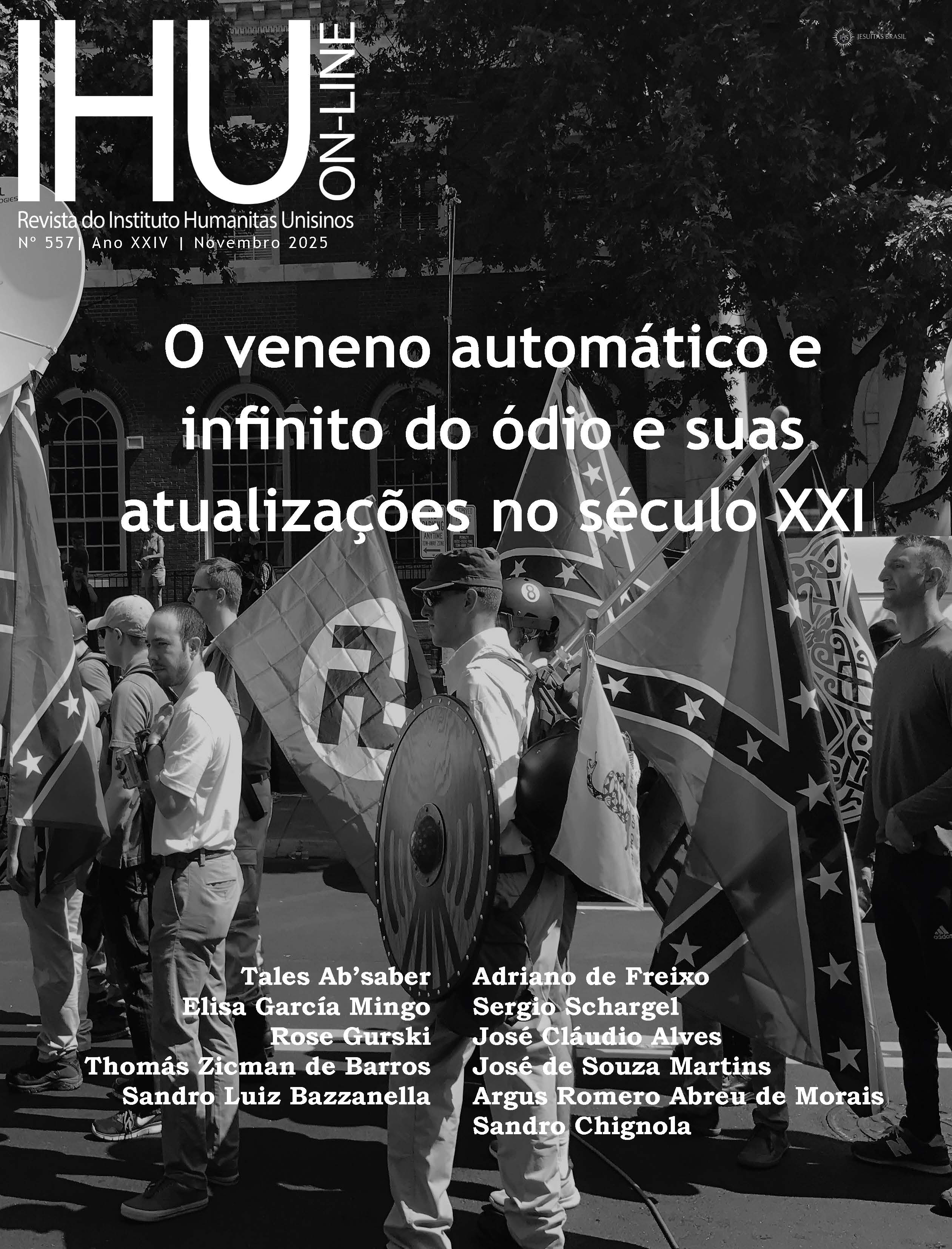11 Agosto 2025
"Penso que a lentidão, por parte da igreja católica, em participar resolutamente do movimento ecumênico, se deve principalmente ao fato que, em ambientes católicos, o defeito congênito do modelo diocesano é um tema raramente verbalizado e muito menos discutido", escreve Eduardo Hoornaert, historiador, ex-professor e membro fundador da Comissão de Estudos da História da Igreja na América Latina (CEHILA).
Eis o artigo.
Esta pergunta me veio à mente ao contemplar mudanças nas estruturas do cristianismo ao longo desses dois mil anos. Mudanças por vezes pouco percebidas, pois costumam seguir um ritmo bem mais lento do que conseguimos captar durante nossas breves vidas humanas. Uma mudança que me parece estar no horizonte diz respeito ao modelo diocesano, vigente na igreja católica desde o século IV. Aí pensei: será que, em nossos dias, esse modelo está cedendo aos poucos diante de um modelo ecumênico? Eis um tema que proponho examinar de mais perto com você, por meio de um sobrevoo dos dois mil anos da história do cristianismo. Assim estaremos em condições de enxergar com maior nitidez uma movimentação que costuma ficar ocultada a quem enxerga as coisas em curto prazo.
Neste breve texto, me deixo guiar por três vocábulos gregos, que me parecem caracterizar etapas na tradição de estruturação do cristianismo: paroikia, dioikèsis, oikoumenos, ou seja: paróquia, diocese, ecúmeno. Esses vocábulos derivam de um comum termo gerador: oikos, que originalmente significa ‘casa’, mas ao longo da história do cristianismo assumiu três sentidos diferentes, como se verá em seguida. Há como dizer que, nos primeiros séculos de sua história, o cristianismo era uma paroikia; que a igreja católica, a partir do século IV, se articulou por meio da dioikèsis e que, hoje, o cristianismo dá sinais de evoluir para uma oikoumené? No intuito de elucidar o questionamento acima, convido você a me acompanhar em três considerações de cunho historiográfico: (1) começamos dando uma olhada retrospectiva no cristianismo paroquial dos primeiros séculos; (2) em seguida, focalizamos os tempos em que o modelo diocesano passa a ser adotado pela igreja católica e, finalmente, (3) nos perguntamos se hoje não existem sinais do surgimento de um novo modelo cristão, de caráter ecumênico.
O cristianismo ‘paroquial’ das origens
Nossa fonte de informações, nesta primeira parte, é a Primeira Carta de Pedro, que deve ser dos anos 120-140 d.C. e provavelmente não foi escrito por Pedro (como atesta, por exemplo, o estilo elaborado). Numa primeira leitura, essa Carta se nos apresenta simplesmente como um texto de exortação. Mas uma leitura mais aprofundada, com tradução apropriada de determinados vocábulos no grego original, revela sua dimensão sociológica. No versículo 17 do primeiro capítulo, por exemplo, aparecem as seguintes palavras: E se vocês invocam como Pai a Quem julga imparcialmente a cada um segundo seus atos, então se comportem com temor ao longo desse tempo de sua ‘paroikia’. Fui consultar meu Dicionário da Língua Grega e li que o termo ‘paroikia’ (em português ‘paróquia’) é composto do prefixo grego ‘para’ e do substantivo ‘oikia’. O termo grego ‘oikia’ (ou ‘oikos’) está na base de não poucas expressões correntes em nossos dias, como ‘economia’ (oikonomia), ‘ecologia’ (oikologia), ‘ecónomo’ (oikonomos), ‘ecumênico’ (oikoumènikos) etc. O prefixo grego ‘para’, por sua vez, indica uma negação, um impedimento, como nas palavras portuguesas ‘parabrisa’, ‘paraqueda’, ‘paralama’, ‘parachoque’, ‘paradoxo’, todas derivadas do mesmo prefixo grego. Assim, ‘paroikia’ indica uma situação de vida marcada por marginalidade política, social e/ou cultural. Um ‘paroikos’ (‘para-oikos’) é alguém que ‘não dispõe de casa própria’, ou seja, não é aceito socialmente, não pertence à boa sociedade, não dispõe de terreno próprio, não é registrado, não goza de direitos civis, vive fora da lei (Ef. 2, 19). É, eventualmente, morador de rua.
A formulação da Primeira Carta de Pedro, complexa, bem elaborada e rebuscada, mostra que esse documento dificilmente pode ser atribuído a um pescador como Pedro, como escrevi acima. Provavelmente estamos diante do trabalho de um correspondente erudito, que domina bem a língua grega, vive em Roma (na Babilônia: 5, 13) e dita ao seu escravo-escrivão Silvano (5, 12) um texto de apoio e encorajamento a seus/suas conterrâneos/as iletrados/as da Ásia Menor, do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e Betúnia (1, 1), que vivem em situação penosa de perseguição, penúria e marginalização, como já indica o primeiro versículo, dirigido aos que vivem dispersos e marginalizados, assim como o versículo 6: vocês sofrem variadas provas. Assim se explica a expressão ‘tempo de paróquia’ do versículo 17, citada acima.
Alusões à situação de marginalidade, que os grupos cristãos estão enfrentando, são permanentes na Carta. Por exemplo, no capítulo 2 versículo 11, lemos: Queridos, como ‘paroikoi’ sem cidadania, eu os exorto a renunciar às paixões terrestres que fazem a guerra contra sua ‘alma’ (sua verdadeira vocação). No versículo seguinte se lê que os ‘paroikoi’ cristãos vivem no meio de povos subjugados pelo Império Romano (‘ethnè’, em grego. Os romanos não fizeram distinção entre ‘povos eleitos por Deus’ [veja Mt 10, 17-20] e povos considerados ‘pagãos’ pelos judeus. Todos eram considerados ‘gentios’) e que eles têm de cuidar que seu comportamento seja bom. No versículo 18 aparece outro termo muito significativo: Vocês, domésticos (‘oiketai’), se submetam com muito temor aos seus patrões (‘despotai’: donos de casa), pois suportar golpes quando se faz o bem, eis o que é uma graça perante Deus (v. 20).
Termos como ‘paroikos’ e ‘paroikia’ aparecem em não poucos textos cristãos dos primeiros tempos. Os Atos dos Apóstolos contam que o diácono Estêvão, em sua fala diante do Sumo Sacerdote, esclarece que Deus declarou que os descendentes de Abraão viveriam como paroikoi em terra estrangeira, sofrendo e tratados como escravos (At 7,6). Paulo consola os cristãos efésios: Vocês já não são paroikoi, mas moradores na casa de Deus (Ef. 2, 19).
A leitura desses dois primeiros capítulos de 1Pedro já nos permite tirar algumas conclusões:
1. Esse texto dolorido, de apelo a um comportamento ético num ambiente onde funciona a lei do mais forte, permite uma análise sociológica da situação do cristianismo nos primeiros séculos.
2. Lendo 1Pedro somos levados/as a tentar entender textos, escritos tantos séculos atrás, por meio de métodos que hoje se costumam seguir nas ciências sociais. Para além de uma primeira impressão ‘moralista’ que a leitura do texto nos deixa, descortinamos a construção social da realidade política e social em que os cristãos/ãs dos primeiros tempos viviam. Descobrimos a dureza em que as primeiras gerações cristãs viviam.
3. Aos destinatários da Carta importa antes de tudo criar um ‘lar’, um abrigo social, um apoio emocional, uma nova cidadania, um recanto de paz e fraternidade no meio da cidade cruel. Eis a função da casa de Deus para quem não tem casa (2, 11 comparado com 2, 18). Deus oferece uma sua casa a quem não tem casa (2, 5 e 4,17). Os textos deixam entender que, normalmente, a casa do epíscopos (bispo) é essa casa. Os/as que são forçados/as a servir como domésticos/as (2, 18) em casas de outrem, nela encontram um espaço onde se sentem ‘em casa’. A Carta inteira, igual a outros documentos das primeiras gerações, como a Carta de Clemente (Corinto), a Didaqué e a Carta de Tiago (Síria), o Pastor de Hermas (Roma), a Carta de Paulo a Timóteo (região do Mar Egeu), a Carta de Barnabé (Alexandria), e as Cartas de Inácio (diferentes cidades da Ásia Menor), está imbuída de um clima de esperança e ternura, e isso deve ter atraído muita gente. Aos poucos, pobres, pelo mundo afora, percebem a grande novidade que essa vida na casa de Deus significa: Aproveitem o tempo de sua paroikia para levar uma vida exemplar no meio dos que não conhecem a Deus (1 Pd 2, 12). E aí a sociedade vai mudar, o plano de Deus vai se realizar no mundo. O mundo novo se faz cotidianamente a partir de uma postura ética que intenta construir a casa de Deus no meio de um mundo fundamentalmente injusto. Eis uma definição do ser cristão que encontramos nos escritos acima citados, provenientes de um amplo leque de lugares e situações: Corinto (Carta de Clemente), Síria (Didaqué; Carta de Tiago), Roma (Pastor de Hermas), região do Mar Egeu (Carta de Paulo a Timóteo), Alexandria (Carta de Barnabé), diversas cidades da Ásia Menor (Cartas de Inácio).
4. Em resumo, os/as cristãos/ãs das primeiras gerações são ‘paroquianos/as’. Embora frequentemente não disponham de casa própria, vivam na rua, entregues à própria sorte, marginalizados/as, migrantes, embora vivam numa situação de paróquia (1, 17), sem cidadania romana (2, 11) nem consideração social, eles/elas dispõem da ‘casa de Deus’, onde encontram acolhida (2, 5; 4, 17), apoio moral, valorização de sua opção.
5. É paradoxal constatar que, hoje, a palavra ‘paróquia’ evoca exatamente tudo que ‘paroquianos’ e ‘paroquianas’ dos anos 120-140 não tinham: casa, estabilidade, cidadania, status, segurança, valorização social. Difícil encontrar maior contraste.
O modelo diocesano
Num primeiro sentido, o vocábulo grego dioikèsis (‘diocese’ em português) indica um aglomerado de oikias (‘casas’). Mas, já antes do surgimento do cristianismo, a administração do Império Romano passa a usar esse vocábulo num sentido técnico: dioecesis (no usual latim administrativo da burocracia imperial romana) passa a indicar uma subdivisão geográfica e territorial do imenso Império, em grande parte sumariamente constituído por meio de guerras de conquista e, portanto, de difícil controle. O modelo diocesano acompanha a expansão do Império: por onde esse se expande por meio de guerras, logo se instala, em pontos estratégicos, um estacionamento de tropas e uma estrutura de cobrança de impostos. Desse modo, o Império consegue controlar os imensos territórios, variados em termos de habitantes, culturas, etnias e religiões, e manter sob seu controle populações muito diversas. A diocese é governada por um vicarius (‘vigário’ em português), representante local do Imperador. Ela provou ser tão eficiente que só desapareceu com a queda do próprio Império, no ano 641 d.C.
Desde o século III d.C aparecem, aqui e acolá, sinais da atração exercida pelo modelo diocesano sobre a estruturação do cristianismo, até então baseada na tradição sinagogal, herdada do judaísmo. Desde séculos, a sinagoga judaica dispõe de ‘supervisores’ (em grego: episcopoi, em português: ‘bispos’) a cuidar do bom andamento da comunidade. No movimento de Jesus, esse sistema de supervisão continua em vigor, sem que se perceba, nos textos, uma clara fronteira entre episcopoi e presbuteroi (‘presbíteros’). Num trecho dos Atos dos Apóstolos (20, 28), por exemplo, se conta que o apóstolo Paulo, antes de viajar para Jerusalém, onde um futuro incerto o aguarda, convoca os presbíteros da comunidade que ele formou em Éfeso, e lhes recomenda: Tomem conta do rebanho em que o Sopro Santo os estabeleceu como ‘episcopoi’, para conduzir a igreja de Deus. Como se vê, aqui o termo ‘episcopos’ ainda não tem o sentido técnico que adquire mais tarde. Observamos a mesma equiparação entre presbíteros e bispos na Carta aos Hebreus: Cuidem (em grego: ‘episcopeô’) que ninguém vire as costas para a graça de Deus e que não cresça nenhuma raiz nociva e venenosa, capaz de envenenar a todos (12, 15). Podemos concluir: nos primeiros tempos do cristianismo, presbiterado se confunde com episcopado e constitui o principal instrumento de controle, na estruturação cristã, sobre as comunidades cristãs.
Mas, como assinalei acima, com a penetração de comunidades cristãs em largos espaços do Império Romano, a partir do século III, o modelo diocesano romano passa a exercer sobre elas um crescente poder de atração. Nesse sentido, a historiografia registra dois nomes que exemplificam o processo: Paulo de Samósata (ca. 200-275) e Cipriano de Cartago (falecido em 258). Só comento o caso do primeiro. Na qualidade de episcopos na importante cidade Antioquia, na Síria, Paulo de Samósata manda construir um edifício que não é mais concebido como local de reunião da comunidade cristã, mas se apresenta como um ‘templo’ da oficial religião romana. Com isso, o bispo delineia um ‘território cristão’ dentro da cidade de Antioquia, ou seja, ‘territorializa’ a igreja. Com isso estamos diante dos primeiros sinais de uma nova formatação cristã, a igreja católica. Um sinal ‘litúrgico’ confirma a intenção do bispo Paulo: ele orquestra um solene ‘introito’ no ‘templo’, se faz acompanhar por um coral de virgens e vai se sentar num trono cercado de cortinas (Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, 7,30, 8-9). Embora seus colegas o critiquem por sua ‘vaidade’, Paulo de Samósata prenuncia a imagem do bispo católico. Não se deve procurar alguma eclesiologia previamente elaborada nessa nova configuração episcopal, que se desenha aos poucos no decorrer do século III. O processo se efetua aos poucos, com o correr do tempo, praticamente sem consciência clara de uma mudança capaz de redefinir a compreensão do cristianismo.
Hoje, podemos dizer que o encontro entre cristianismo e modelo diocesano constitui uma das mais complexas realidades de 1.600 anos de história católica. Sem tomar consciência clara do que está acontecendo, a ‘inteligência cristã’, a partir do século IV, vai adotando o modelo e com isso se distancia das palavras enérgicas, com que Jesus rejeita uma estruturação de seu movimento que não seja de caráter fraternal (Mt 20, 20-28). Jesus quer que seus discípulos exerçam liderança de modo diferenciado: Vocês recusem de serem chamados ‘Mestres’. Vocês não têm senão um Mestre: são todos irmãos (Mt 23, 2-8). Vocês são ovelhas em meio de lobos (Mt 10, 16), em busca de um Reino sem poder, sem primeiros lugares. Marcos expressa as mesmas ideias ao seu modo (Mc 10, 35-45).
Em suma, o movimento ‘diocesano’ cresce e vai se institucionalizando. Nos tempos do Concílio de Niceia (325), o bispo Eusébio de Cesareia já projeta a imagem do bispo diocesano sobre o passado cristão dos três primeiros séculos, por meio da ideia de sucessão apostólica. E com a política de Constantino, as coisas evoluem de modo rápido: o cristianismo se territorializa, se sacerdotaliza e se clericaliza, adota as feições de um império religioso dentro do Império Romano. A redefinição diocesana faz com que muitos/as, do século IV para cá, percam o rumo evangélico e não percebam que, adotando o ‘modus operandi’ da diocese, o cristianismo se afasta de sua genuína índole ‘paroquial’, diaconal e fraternal, adotando métodos expansionistas que redefinem sua ideia de missão, que doravante passa a significar conquista de territórios.
Isso faz com que, séculos mais tarde, a instituição cristã vai colaborar com a política colonialista dos estados europeus. Ao mesmo tempo, o termo ‘paróquia’ muda totalmente de sentido. Doravante, a paróquia é entendida como subdivisão territorial da diocese. Enfim, podemos dizer que um pesado reposteiro cai sobre a memória cristã anterior, dificultando a reta compreensão do que aconteceu nos primeiros tempos do movimento de Jesus. O princípio de fraternidade para além de todas as fronteiras é substituído pelo princípio da ocupação de espaços. O cristianismo ‘territorializado’ passa a usar termos alheios à genuína tradição de Jesus, como ‘religio’, ‘sacerdotium’, ‘orbis catholicus’ (adjetivo derivado do termo grego katholikos, que por sua vez provém da expressão kata holèn gèn, que significa ‘espalhado pelo mundo inteiro’, ou seja, territorializado), ‘hierarquia’ (ordem sagrada), ‘christianitas’, ‘missio’, ‘clero’ etc. Termos herdados de estruturas religiosas e administrativas do Império Romano vão sendo assimilados ao longo dos tempos, formando um vocabulário hoje recorrente na instituição católica.
O fato de a diocese atualmente não ser percebida como corpo estranho no cristianismo mostra até que ponto vivemos afastados/as do projeto inicial de Jesus. A inscrição territorial do cristianismo nos parece tão normal que falamos em ‘bispo de Roma’ sem nos dar conta da incongruência dessa terminologia, quando comparada com os tempos em que Paulo escrevia ‘aos romanos’. Mal nos imaginamos que, nas origens, havia bispos, mas não havia dioceses. A interpenetração entre igreja e diocese chegou ao ponto de se constituir num amálgama, numa liga complexa de elementos heterogêneos, difícil de ser destrinchada.
Um modelo ecumênico está emergindo?
Igual aos vocábulos paroikia e dioikèsis, que guiaram nossa reflexão até aqui, o vocábulo oikoumènikos ressoa com vigor na história do cristianismo. Lembremo-nos que paroikia (paróquia) indica uma situação social e dioikèsis um território. Por sua vez, o vocábulo oikoumènikos indica comunidade e com isso recupera o sentido original do termo oikos, que é casa habitada, família, comunidade. Isso se verifica em diversas passagens do Novo Testamento, como Mt 9, 7 e 1 Cor 1, 16. Outras referências no mesmo sentido: em Lc 12, 42 e 1 Cor 4, 1, o apostolos oikonomos é um animador de comunidade; em Lc 16, 2, o oikonomos pratica a boa oikonomia (economia), ou seja, a boa arte de ‘administrar a casa de Deus’ e em Hebr 2, 5 se lê que os cristãos marcham para a oikoumenè hè mellousa (a comunidade vindoura). Todas essas referências neotestamentárias mostram que o cristianismo das origens é uma ‘comunidade’, uma ‘familiaridade’, uma ’fraternidade’.
Hoje estamos voltando ao cristianismo das origens? Em muitos países e de modo inesperado, as mais diversas igrejas, oriundas do movimento protestante (século XVI), tiveram a ousadia de enfrentar o domínio territorial da igreja católica, com notável sucesso. Elas ‘penetraram’ nas dioceses católicas. Hoje, mais de 350 delas se congregam no Conselho Mundial das Igrejas (CMI), criado no ano 1948, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Se a igreja católica, até hoje, não participa desse Conselho, a razão é clara: ela está amarrada ao modelo diocesano-territorial.
Daí a relevância da pergunta acima: hoje estamos voltando ao cristianismo das origens? Penso que precisamos ter cuidado ao falar desse modo, pois, afinal, estamos aqui fazendo um prognóstico. Ora, do futuro nada sabemos. Passagens históricas complexas, como uma eventual passagem de um modelo diocesano a um modelo ecumênico no cristianismo, ao depender de uma confluência de fatores psicológicos, sociais e políticos, oferecem redobradas possibilidades de desacerto. O futuro é marcado por tantas complexidades e incertezas, que erros na prognóstica são quase inevitáveis. Se o passado da humanidade é marcado por uma sucessão de erros, como prejulgar que o futuro será diferente? Feita de avanços e retrocessos, complexidades e surpresas, erros e acertos, desvios e novidades, ousadias e covardias, as experiências passadas nos aconselham não predizer levianamente como será o futuro. Pois se há uma constante na história humana, é a seguinte: o poderoso costuma submeter o fraco, ao ponto de transformá-lo, se puder, em seu servidor, se não seu escravo. Recomenda-se, pois, prudência.
Mas, de outro lado, a mesma história nos ensina que o mundo só muda com ousadia. A prudência evita erros crassos, mas é a ousadia que injeta sangue novo na sociedade, instiga a cultivar novas ideias, a experimentar, inovar, avançar. Sem ousadia, a história fica parada. No horizonte católico, que pessoalmente conheço melhor, vejo sinais de abertura e acolhimento de novas ideias, do diferente, da ultrapassagem de modelos vencidos, de limitação do poder centralizado, de superação do medo de mudança. Algo sempre acontece, gostava de dizer o teólogo José Comblin. Nos inícios dos anos 1960, o Papa João XXIII teve a ousadia de convocar o Concílio Vaticano II, contra as opiniões de seus cardeais. Recentemente, o Papa Francisco lançou ousadamente o tema da sinodalidade, apesar da resistência do Vaticano. No ano 2018, num outro ato de ousadia, ele visitou a sede do CMI em Genebra, Suíça, sinalizando que há um movimento de abertura em curso. Já nos idos de 1960, o teólogo francês Yves Congar, um dos mais lúcidos participantes o Concílio Vaticano II, escreveu em seu Journal du Concile (Meu Diário do Concílio, Cerf, Paris, 2004): Desde um bom tempo, o problema principal da igreja católica consiste em sua relação com sua própria tradição. Com essas palavras, ele apelou para a ousadia. de decifrar a própria institucionalização da igreja católica. E tivemos, na América Latina, bispos católicos ‘ousadamente ecumênicos’, como Oscar Romero, Leônidas Proaño, Pedro Casaldáliga e Hélder Câmara.
Penso que a lentidão por parte da Igreja Católica em participar resolutamente do movimento ecumênico se deve principalmente ao fato que, em ambientes católicos, o defeito congênito do modelo diocesano é um tema raramente verbalizado e muito menos discutido. Isso provém, em parte, do fato que a problematização de um modelo tão costumeiro pressupõe uma tomada de consciência acerca de convicções criadas por ‘histórias de longa duração’, como dizia o historiador francês Fernand Braudel. Quando uma mesma narrativa se repete por séculos, por meio dos mesmos gestos, das mesmas palavras e das mesmas imagens, a mente humana esquece que esses gestos, essas palavras e essas imagens são criações históricas passageiras. Aí aparece um modelo eclesiástico que ‘mole sua stat’ (fica em pé, simplesmente pelo enorme peso de sua história). Esse modelo, como se acaba de ver neste texto, foi construído num determinado momento da história e, portanto, pode ser desconstruído. Portanto, constitui um erro considerar o modelo diocesano como sendo isento à mudança.
Leia mais
- Diocesaneidade, esponsabilidade e incardinação
- Papa Francisco: Sem o Espírito Santo, as dioceses podem ser tão organizadas que se tornam negócios mundanos
- A espiritualidade do clero diocesano e a tríplice relação do padre com o bispo, o presbitério e o povo de Deus, segundo o Papa Francisco
- É preciso enfrentar o clericalismo antes de tentar reformar o sacerdócio
- Vaticano II: história, teologia e desafios
- Vaticano II, para uma nova relação com o mundo
- Vaticano II não é o único concílio controverso, diz teólogo católico
- O Concílio Vaticano II no caminho da Igreja. Artigo de Carlo Molari
- Pedro Casaldáliga e a Igreja da Caminhada que resiste. Artigo de Gabriel Vilardi