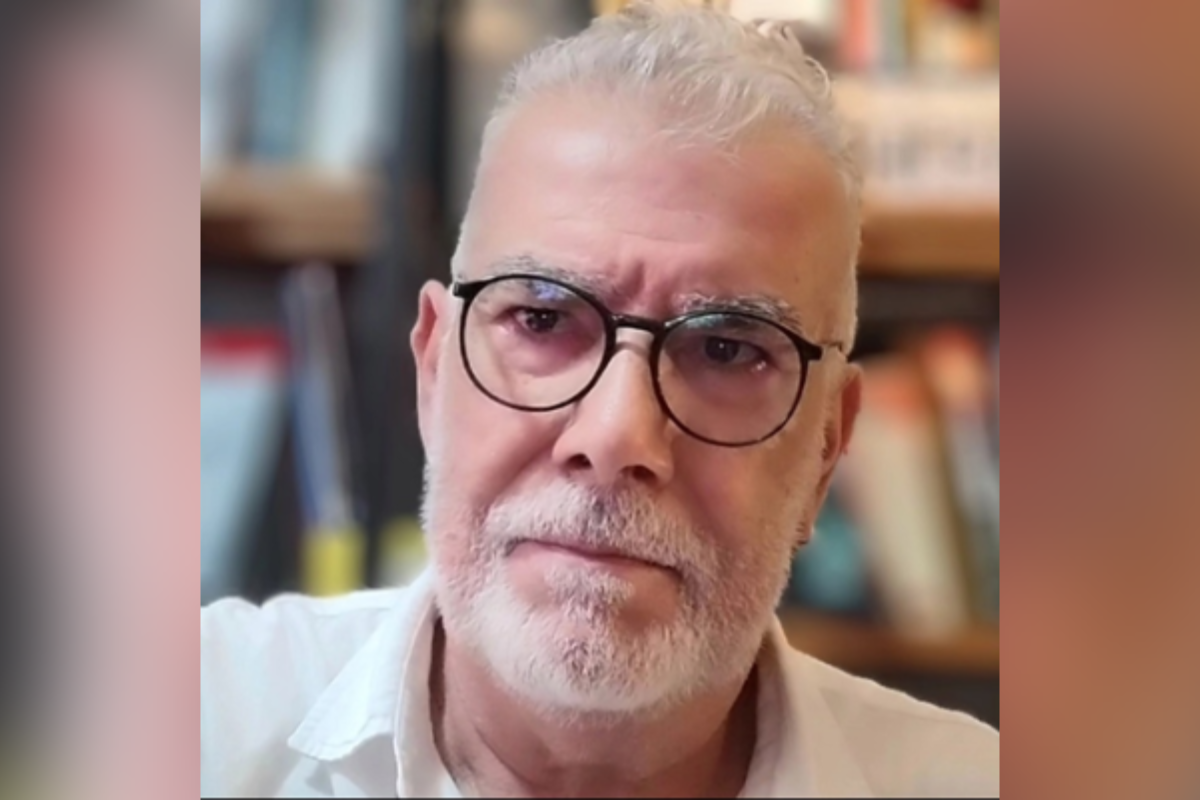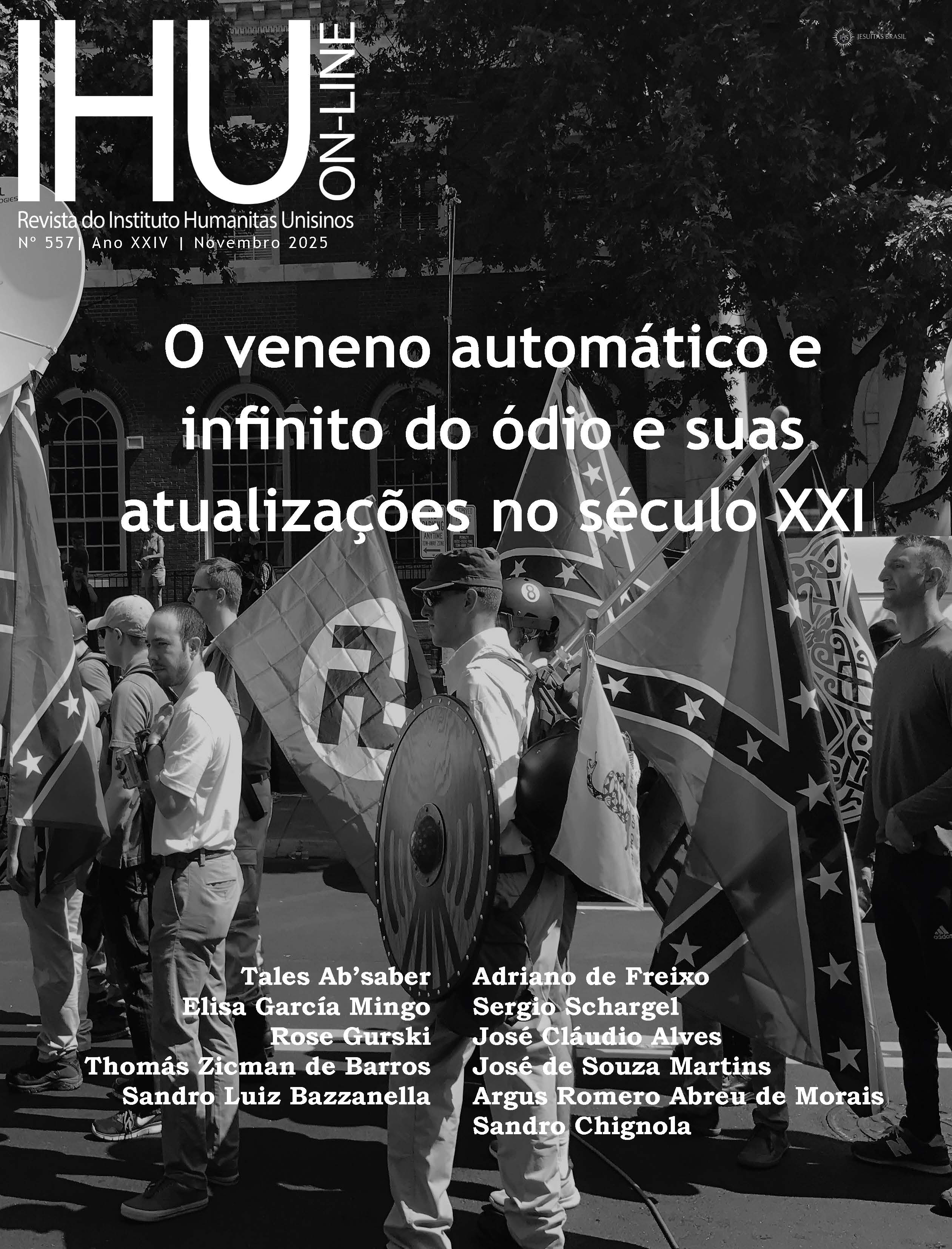23 Abril 2025
"Não apenas uma paixão ou uma emoção por Deus, mas um modo de falar e de pensar Deus, reconhecemos com gratidão nas palavras mais elevadas do magistério de Francisco", escreve Andrea Grillo, teólogo italiano, em artigo publicado por Settimana News, 22-04-2025.
Eis o artigo.
Não há dúvida de que também se pode estar desinteressado pela teologia expressa por um papa. E que se queira limitar à sua simpatia ou à sua abertura. Mas acredito que é justo não perder de vista o valor teológico do papado que acaba de se concluir.
Em meio a tantos discursos, muitas vezes genéricos, imprecisos e vazios, uma análise que segue com clareza nessa direção me parece ser a publicada hoje, 22 de abril, no Messaggero, com o título (parcial) "A pirâmide invertida dos leigos na Igreja", assinada por Luca Diotallevi, da qual gostaria de iniciar minha breve reflexão.
A leitura parte de uma primeira observação: o pontificado de Francisco teve duas características fundamentais: seu vínculo com o Concílio Vaticano II e a exigência de “inaugurar processos”.
Poderíamos dizer: retomar o grande processo conciliar, para continuar naquela direção.
Essa premissa permite identificar, segundo Diotallevi, cinco pontos-chave do pontificado, nos quais surgem novos acentos:
- a liturgia não está à venda e não é uma escolha
- a caridade vem antes, a doutrina depois. Há caridade mesmo quando nem tudo está claro
- o Sul do mundo deve ter mais voz (e é preciso elaborar uma teoria adequada desses direitos)
- às mulheres deve ser reconhecida finalmente uma dignidade plena
- a pirâmide da Igreja deve ser invertida
Diante desses objetivos, claramente identificados e abertos “como processos”, nem sempre houve uma elaboração adequada. Diotallevi diz, com razão: “Por mais estranho que pareça, houve tanto falta de decisão quanto excesso de centralização”.
Isso indica, conclusivamente, que a tarefa indicada com autoridade por Francisco continua sendo a nossa tarefa. E que a recepção do Concílio Vaticano II impõe à Igreja “processos” que não se podem considerar nem concluídos nem esgotados, que não basta iniciar, mas é preciso elaborar e estruturar.
Diante desse texto, que considero de grande valor e pelo qual sou grato pela clareza, perguntei-me: em que medida Francisco renovou a teologia católica? Em que consiste o valor “teológico”, em sentido estrito e técnico, de seu pontificado?
Tento expressar isso acrescentando algumas palavras de método aos 5 pontos sagrados lembrados por Diotallevi.
Francisco e a teologia como estilo
Parece convincente deduzir do fato de que Francisco não era formalmente um teólogo (como quase todos os papas antes dele) a consequência de que não fez teologia. Na verdade, sua profecia de pastor e de crente, de jesuíta e de latino-americano, deu-lhe uma linguagem teológica original, que estruturou os melhores entre seus documentos.
Neles, como é evidente, transparece um estilo teológico – é disso que se trata – que obriga a teologia a mudar de estilo, a entrar em um novo paradigma. Se aplicarmos o esquema do papa não teólogo, corremos o risco de cair na armadilha de isolar a teologia dos sentidos, dos sentimentos, das emoções, das formas civis, da estética, da política.
Esse é o jogo no qual alguns modernistas e muitos antimodernistas sempre foram aliados. Não, Francisco não renunciou à teologia, mas exigiu que a teologia se imergisse nas linguagens da vida, como é sua vocação mais original.
Sua paixão pela vida e pela literatura transparecia nos neologismos, nas imagens, nas passagens surpreendentes de seus textos mais altos. Também nesse aspecto, Francisco foi um filho do Concílio Vaticano II: dos grandes textos daquele Concílio ele extraiu a “autoridade do estilo”, que talvez tenha sido melhor compreendida pelos teólogos (e pastores) americanos. Ou seja, o fato de que o Vaticano II foi antes de tudo um evento de “estilo”, de linguagem, de imagens e de imaginário.
Essa foi a mudança que já havíamos vivido em um Concílio, mas ainda não em um papado. Com Francisco, um papa começou a falar, em muitos casos, com a linguagem do Vaticano II. Isso foi e é um evento teológico, um evento de estilo a seu modo irreversível.
Assim como o Vaticano II foi irreversível, também é irreversível para o papado ter começado a falar com esse estilo. A intuição que o Concílio nos deu, desde a noite de 13 de março de 2013, tornou-se capaz de reconhecer, também em Francisco, justamente um papa, apesar de sua linguagem ser tão diferente da de muitos outros papas. Sua audácia era o reflexo da audácia conciliar, que quase havíamos esquecido.
Os processos e as formas institucionais
Um papa que se deixa ensinar não apenas pelas palavras do Vaticano II, mas por seu estilo, compreende como tarefa a exigência de “inaugurar processos”, de “sair”, de superar a “autorreferencialidade”.
Isso significa, teologicamente, reconhecer que a Igreja tem autoridade sobre sua própria tradição e que pode ainda – como escrevia João XXIII na abertura do Concílio – distinguir entre a “substância da antiga doutrina” e a “formulação de seu revestimento”.
Significa admitir que o passado não é antes de tudo um escudo ou uma espada com os quais vencer o presente. A palavra nova, que Francisco retomou do Vaticano II, é que sobre liturgia, doutrina, Sul do mundo, mulheres e estrutura da Igreja, a tradição, para ser fiel, precisa saber mudar.
Nesse ponto, é verdade que “iniciar processos” é uma coisa, fazê-los de fato avançar é outra. Em muitos dos pontos bem destacados pela análise de Diotallevi, houve justamente aquele pêndulo entre indecisão e centralização que constitui uma questão não subjetiva, mas objetiva.
Ou melhor, que a tradição tornou subjetiva (fazendo-a depender apenas do papa) ao não reconhecer sua identidade institucional. Os processos exigem mudanças institucionais. Se elas não ocorrem, o processo gira em falso. Esse é um ponto delicadíssimo, em que ao processo que se inicia deve corresponder a forma institucional adequada para continuar.
Esse aspecto marcou, transversalmente, todo o pontificado de Francisco, da liturgia à família, das mulheres ao Sul do mundo, da forma sinodal à promoção da paz.
Uma certa desconfiança em relação às formas institucionais marcou todo o pontificado, tanto para o bem quanto para o mal. Sua audácia dizia mais respeito ao coração do que às estruturas. Mas os processos exigem as estruturas tanto quanto o coração.
A teologia “rápida” no melhor sentido
Há, por fim, o aspecto do diálogo com a cultura contemporânea, às vezes marcado por uma leitura integrista das sociedades abertas. Nesses casos, parecia que, na teologia de Francisco, surgiam pontos cegos, nos quais havia simplesmente o confronto com as formas civis: em poucos casos, mas significativos.
Mas o fundo da leitura permanecia marcado por uma simpatia pelas novas formas de vida comum, que não eram prejudicadas por um modelo de pensamento amarrado a uma sociedade fechada.
É nesse sentido que vai a qualidade “rápida” de sua teologia. Não tanto pela capacidade de encontrar rapidamente uma resposta para cada questão. Dessa velocidade, um tanto burocrática e impessoal, Francisco soube se distanciar de forma heroica, em muitos planos: no plano ecumênico, no plano sexual, no plano doutrinal, ele soube ser “rápido” de um modo novo, ou seja, ao saber assumir rapidamente o ponto de vista do interlocutor, tentando avaliá-lo não à revelia.
Esse traço da teologia de Francisco, que honra o estilo do Concílio Vaticano II levando-o adiante, mostra-se promissor. Mesmo que sua teologia tenha sido “rápida” ao captar a amplitude das questões, mas muitas vezes tenha se tornado rápida demais ao propor soluções, a herança que nos deixa é teologicamente significativa.
Indica a nós, como cristãos e como teólogos, aquela tarefa elementar, mas árdua, que Francisco expressou aos leigos da Ação Católica com uma fórmula justamente lembrada por Diotallevi: “Sejam audaciosos. Vocês não são mais fiéis à Igreja se esperam, a cada passo, que lhes digam o que devem fazer”.
Essa audácia, junto com a inquietude, a incompletude e a imaginação, são as características fundamentais daquilo que reconhecemos como a teologia que Francisco nos deixou como herança.
Não apenas uma paixão ou uma emoção por Deus, mas um modo de falar e de pensar Deus, reconhecemos com gratidão nas palavras mais elevadas do magistério de Francisco.
Leia mais
- "Esta economia mata. Precisamos e queremos uma mudança de estruturas", afirma o Papa Francisco
- Igreja de São Francisco? Avaliando um papado e seu legado. Artigo de Massimo Faggioli
- “A corte é a lepra do papado”, afirma Francisco
- Francisco: “O meu grito ao G20: Não a alianças contra os migrantes”
- Um tempo de grande incerteza. Entrevista com o papa Francisco
- ''É uma honra ser chamado de revolucionário''. Entrevista com o Papa Francisco
- "Trump? Não o julgo. Interessa-me apenas se ele vai fazer os pobres sofrerem." Entrevista com o Papa Francisco
- ''Como Jesus, vou usar o bastão contra os padres pedófilos.'' Entrevista com o Papa Francisco
- “Papa Francisco, um pontificado em nome de Inácio”. Artigo de Antonio Spadaro
- O Papa Francisco não é um nome mas um projeto de Igreja. Artigo de Leonardo Boff
- Papa Francisco: Há cheiro de saudade na tenda que abriste. Artigo de Mauro Nascimento
- 'Sede vacante' no Vaticano: duas semanas de velório, funeral e sepultamento para o Papa até o conclave
- A sucessão do Papa mergulha a Igreja na incerteza diante da onda ultraconservadora. Artigo de Jesús Bastante
- São divulgadas as primeiras imagens do Papa Francisco no caixão
- Breves considerações sobre o Papa Francisco, por Tales Ab’Saber
- Papa Francisco assumiu a causa indígena, afirma Cimi
- Perdemos um Papa dos pobres, dos trabalhadores, dos migrantes e dos Sem Terra, destaca o MST
- Frei Betto aposta em um sucessor italiano que ‘dê continuidade à linha progressista de Francisco’
- Papa Francisco: sofrimento oferecido ao Senhor pela paz mundial e fraternidade dos povos
- Papa Francisco. Artigo de Francisco de Roux
- Francisco vai estar sempre aqui. Artigo de Elias Wolff
- Adeus Francisco, protetor da esperança para os últimos do mundo. Artigo de Marco Damilano
- Francisco, o profeta da teopatia. Artigo de Vito Mancuso
- Crentes e não crentes, a possível comparação baseada no respeito. Artigo de Corrado Augias
- O manifesto do Papa Francisco. O reformador que deu um coração à crise da modernidade
- O que são Congregações Gerais: o governo da Igreja durante a Sede Vacante. Artigo de Iacopo Scaramuzzi
- Mundo ecumênico lamenta falecimento do Papa Francisco
- Teólogo africano diz que o Papa Francisco foi um papa pós-colonial
- Últimas horas do Papa Francisco: mensagem de Páscoa, saudação à multidão, derrame matinal