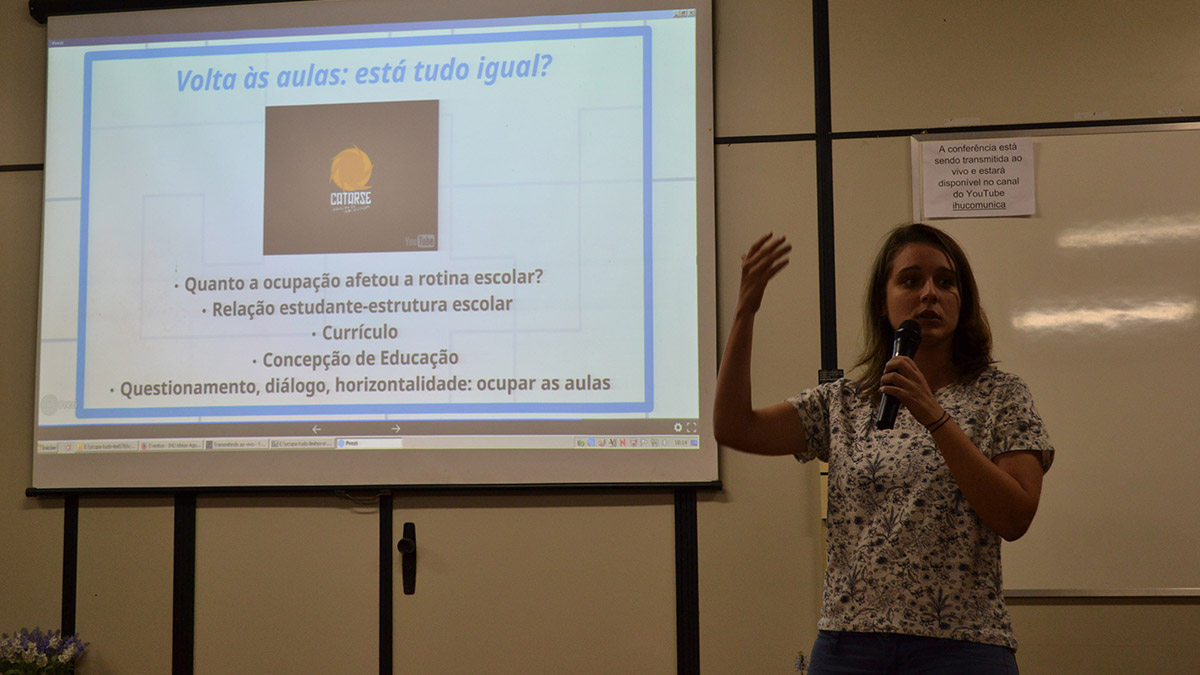11 Agosto 2023
"A proposta 'cultura gaúcha', cadinho dos mitos apologéticos das classes dominantes sulinas sobre o passado, tem paradoxalmente suas raízes entranhadas no trabalho do cativo campeiro", escreve Mário Maestri, historiador, autor, entre outros livros, de Filhos de Cã, filhos do cão. O trabalhador escravizado na historiografia brasileira (FCM Editora), em artigo publicado por A Terra é Redonda, 05-08-2023.
Eis o artigo.
Gabriel Santos acaba de publicar o artigo “A cultura gaúcha vista por um estrangeiro”. Aproveitando como “gancho” o atual debate sobre dois versos do Hino rio-grandense, denunciados como racistas por parlamentares negros, propõe uma solução de fundo para o problema que ensejou aquela discussão. Explica em seu artigo como construir uma cultura unitária e solidária que una todos os sul-rio-grandenses, gremistas e colorados, gregos e troianos. O que não é pouco, para um cearense apenas chegado a Porto Alegre que confessa praticamente desconhecer a questão em discussão e o Rio Grande do Sul.
O debate sobre a “pureza” do Hino Rio-Grandense é velho de alguns anos. Em fevereiro de 2021, apresentei em artigo as razões pelas quais creio que os dois versos questionados não possam ser classificados como racismo anti-negro. Defendi, então, que a proposta de limpeza do Hino tinha um objetivo político e social integracionista. Explico. Procurava popularizar, entre a população negra sulina, um hino que, apesar de se propor de toda a comunidade regional, expressa essencialmente os valores das classes dominantes rio-grandenses do passado e do presente. [MAESTRI, 18.01.2021.]
E, por seu classismo e elitismo, o Hino e os demais símbolos, que sugerem inexistente e impossível passado e futuro comuns e solidários do “povo gaúcho”, deveriam ser de todo rejeitados. E, em vez de aceitá-los e remendá-los, a população trabalhadora e democrática deveria construir e difundir suas expressões culturais, em contradição e em oposição com as classes dominantes, já que a luta simbólica é uma importante instância do confronto de classes. Portanto, tudo ao contrário do proposto pelo jovem articulista.
Uma solução simples
Gabriel Santos debruçou-se sobre a origem da proposta de uma unidade cultural “gaúcha”, questão complexa, apesar de reconhecer seu desconhecimento sobre a questão, que vai muito além do que imagina. No artigo, registra que nasceu no Ceará, viajou, há menos de dois anos, para Porto Alegre, para estudar na UFRGS, e que tem “pouca familiaridade com a cultura gaúcha”. Compreende-se, portanto, que o artigo se construa com um rosário de afirmações assertivas e sensos comuns, jogando assim água ao moinho da manipulação da consciência da população rio-grandense.
O que não seria de estranhar, se fosse artigo publicado na grande mídia, produto da pena venal de jornalista desempenhando a sua função orgânica de desinformar. Mas não é o caso. O ensaio foi escrito e publicado por colunista habitual da revista virtual da “Resistência”, tendência do PSOL. Grupo que rompeu, há alguns anos, com o PSTU, propondo-se marxista-revolucionário, antes de abraçar a ideologia conservadora identitária, que pauta de fio a pavio o presente artigo.
Somos todos irmãos
A tese de Gabriel Santos é simples, ignora as contradições sociais e de classe e se apoia em visão culturalista de “identidade”, que tentarei reproduzir sinteticamente. Para o autor, uma identidade nasce da necessidade de singularização de uma comunidade, em geral a partir da negação de outra comunidade. Ela se consolidaria, ao longo da história, no contexto das relações sociais, em geral apoiada em um “evento histórico” maior. No caso sulino, a Guerra Farroupilha [1835-1845], que teria oposto, segundo ele, o Sul, como um todo, ao Império, ensejando, assim, a rejeição rio-grandense ao resto do país, e não a um estado vizinho, como em outras partes do Brasil. Fica no ar, portanto, a sugestão que o rio-grandense abrace a tese “O RS é o meu país”, movimento que tem página no Facebook, com um miserável tropinha de seguidores.
Após a Farroupilha, sempre segundo o autor, a identidade sulina teria se consolidado com a proposta da sua “brancura” estrutural, nascida do forte predomínio da “euro-descendência” do Sul em relação ao resto do país. Nesse processo, ao construir a “cultura gaúcha”, o “identitarismo branco”, portanto racial, procedeu à exclusão das “identidades” dos povos originários e dos descendentes de africanos, sem “poder político” para afirmarem-se. Apesar de negros e nativos serem tão “gaúchos” como os “descendentes de europeus”, lembra Gabriel Santos.
Esqueceram de mim!
Mas que ninguém se preocupe. O jovem cearense apresenta a solução definitiva para essa grave contradição, ao responder positivamente à pergunta que faz sobre a possibilidade de termos uma “cultura gaúcha verdadeira”. Ninguém fique preocupado, a solução seria bastante simples. Para tal, bastaria romper o “véu da brancura” da dita “cultura gaúcha” e se incorporar a ela as “manifestações de povos não brancos”.
Assim, com uma cultura própria e comum a todo o “povo gaúcho”, poderíamos viver finalmente na santa paz do senhor. Entretanto, para isso, seria “necessário”, sobretudo, “discutir o papel da população negra e indígena na Guerra dos Farrapos e o papel dos Lanceiros Negros”. Para Gabriel Santos, a resposta da charada racial estaria em “Porongos”, onde “tudo teve fim e teve também início”. Proposta que confessamos não termos compreendido.
Na inclusão das “identidades excludentes” [ou seja, excluídas] estaria a “solução para o dilema da cultura gaúcha”, do estado que ele propõe como o “mais racista do Brasil”. Uma solução que elevaria, diríamos, o Rio Grande do Sul “racista” ao avançado nirvana “multicultural” da Bahia e do Rio de Janeiro, que têm, respetivamente, o negro-africano e o negro-mulato como núcleos centrais da sua “identidade” e “cultura”. Gabriel Santos propõe literalmente solução cultural para as contradições sociais e de classe.
Cinco grandes regiões
Se o conhecimento do jovem universitário da capital é recente e escasso, certamente o do “interior” do Estado é quase total. O que recomendaria aprofundar-se no estudo da cultura e da história do Rio Grande do Sul, já que “precaução e água benta não fazem mal a ninguém”. A grosso modo, o Rio Grande do Sul é conformado por grandes regiões singularizadas por determinações geográficas, sociais e históricas: o Litoral, o Planalto, a Serra, a Depressão Central, a Campanha. Essas regiões ainda mantêm particularidades culturais, históricas e linguísticas, transpassadas pelas contradições sociais e de classe e suas determinações de sexo, idade, nacionalidade, etnia, etc. Uma proposta “cultura gaúcha” deve abarcar as expressões culturais de todas essas regiões. [MAESTRI, 2021.]
A proposta de uma história sulina, sem profundas contradições sociais, com uma população se mobilizando como um todo, na defesa do solo pátrio da prepotência do Império, durante a Guerra Farroupilha [1935-45], foi construída pelas classes dominantes rio-grandenses, a partir de fins do século XIX. Essa narrativa apologética procura, negando as contradições entre explorados e exploradores no passado, as negar e as abafar no presente, como proposto. Instrumento de submissão político-ideológica, ela tem sido difundida diuturnamente, com indiscutíveis resultados, pelo Estado, centros educacionais, pela grande mídia, etc., com o apoio passivo ou ativo de sindicatos, partidos e movimentos políticos colaboracionistas.
Rio Grande do Sul, o estado mais racista do Brasil
Começo meu comentário pela reafirmação pelo autor do senso comum nacional de que o Rio Grande do Sul seja o “estado mais racista do Brasil”. Afirmação gratuita, como a do escritor negro carioca, morando em Porto Alegre, que descreveu o estado sulino como uma espécie de Mississipi nos pampas. Propôs, em entrevista, concedida fora do Rio Grande do Sul, haver bairros de Porto Alegre onde negros não tinham acesso, sem jamais esclarecer qual seria a região da capital que praticava, de botas e cuia à mão, a versão sulina do apartheid. [MAESTRI, 2/12/2020]
O quase consenso nacional sobre o Rio Grande do Sul como o Estado mais racista do Brasil parece nascer de uma falsa analogia e da vontade safada de transferir para o Extremo-Sul esta triste pecha. O Rio Grande do Sul conheceu uma forte imigração colonial-camponesa europeia, que determina ainda a paisagem social, econômica e étnica de algumas de suas regiões. Esses territórios são ainda dominados, em parte, por uma pequena agricultura familiar, que, no passado, jamais praticou a exploração do braço escravizado. Devido a isso, possuem escassa população negra.
Memórias da pós-escravidão
O senso comum nacional, com indiscutível contribuição do Estado Novo [1937-45], propõe que a alta incidência de descendentes de italianos, de alemães, de polacos, etc. tornaram aquelas regiões, nos tempos recentes, centros irradiadores do racismo, do fascismo, do nazismo. Entretanto, pouquíssimos negros ali viviam e, mesmo durante a II Guerra Mundial [1939-1945], a imensa maioria dos teuto e italo-descendentes seguiu se preocupando com suas hortas e roças e pouco com a política europeia, que nada lhe diziam. Ao contrário da rica burguesia colonial urbana italo-alemã. [GERTZ, 1987, 1991; GIRON, 1994.]
Até onde nos foi possível ver, as regiões de mais fortes tradições racistas no Rio Grande do Sul são, certamente, as de colonização luso-brasileira e brasileira, que conheceram e exploraram fortemente o trabalho escravizado. Nesse caso, estaria o município de Pelotas, no século 19, região charqueadora muito rica, apoiada quase totalmente no trabalho feitorizado, que resistiau à abolição da escravatura até praticamente os extertores da instituição, enquanto o resto da província se desescravizava, vendendo seus cativos para as regiões cafeiculturas. [ASSUMPÇÃO, 2013.]
Pelotas como Mississipi
Nos anos 1990, o historiador Agostinho Mario Dalla Vecchia recolheu dezenas de depoimento de idosas e idosos negros pelotenses sobre as décadas pós-Abolição, para a produção de suas teses de mestrado e doutorado, que tive o privilégio de dirigir. Bem mais de um milhar de páginas de depoimentos transcritos fixaram lancinantes memórias da pós-escravidão que reafirmam a proposta que a realidade supera a imaginação. Esses valiosos e pioneiros depoimentos sobre o racismo e as condições de vida da população negra na pós-Abolição no município de Pelotas praticamente não despertou interesse no Rio Grande do Sul e no Brasil. [VECCHIA, 1993, 1994.]
Vivi longos anos no Rio de Janeiro e em São Paulo. Nessas cidades e no centro de Salvador, assisti agressões físicas de policiais a crianças e a jovens negros que, no Centro de Porto Alegre, teriam causado forte protesto popular, mesmo de porto-alegrenses com ressaibos racistas! O senador Paulo Paim, que sempre se reivindicou como negro, devido à sua combatividade sindical, consagrou-se eleitoralmente apoiado pelos trabalhadores do setor “coureiro-calçadista” do Vale do Rio dos Sinos, de forte ascendência alemã, seus incondicionais eleitores.
O negrão pisou na bola
Alceu Collares, o “Negrão”, brizolista, se elegeu prefeito de Porto Alegre e governador do Rio Grande do Sul com votações avassaladoras. Após realizar governo estadual anti-popular, foi objeto de piadas racistas, não raro contadas por aqueles que o haviam eleito, brancos e também negros. No Sul, como no resto do Brasil, há amplos substratos culturais racistas, que se expressam em graus e modos diversos. Mas seria entre os “gaúchos” que a cidadania negra viveria as penas do inferno?
Estudo da Rede de Observatório da Segurança, de 2020, propõe que os estados onde a polícia mata, proporcionalmente, mais cidadãos negros sejam, em ordem decrescente, a Bahia, o Ceará, Pernambuco, o Rio de Janeiro e São Paulo. No Ceará, terra do articulista, com população negra bem inferior à do Rio Grande do Sul, a proporção de negros, entre os mortos pela polícia, é de 87%! Um verdadeiro genocídio. [Observatório, 2020.] Apoiado no companheiro Mateus [7,1-5], eu perguntaria a Gabriel Santos: “Por que observas, meu caro, o cisco no olho do teu irmão porto-alegrense e não reparas na trave que está no olho cearense?”
Surpreende também a proposta do articulista de ter encontrado realmente a população negra apenas quando visitou a periferia da capital. O Rio Grande foi um das grandes províncias escravistas do Brasil. No passado, a população negra da capital sulina, liberta, livre e escravizada, chegou a ser majoritária. [ZANETTI, 2002.] E, hoje, Porto Alegre segue sendo ainda cidade fortemente negra. Se nosso escrevinhador tivesse visitado com atenção as lojas, bares, bancos, restaurantes, não apenas do Centro; se observasse os passageiros dos ônibus urbanos; se levantasse os olhos para os edifícios em construção, e por aí vai, veria a fortíssima participação da população com alguma afro-ascendência nas atividades produtivas e sociais. Uma presença que cai, mas não desaparece, nos bairros das classes endinheiradas.
Todas as sextas, sábados e domingos, os bares da orla do Guaíba, que praticam altos preços, são ocupados por uma população porto-alegrense e de turistas mais endinheirada, em geral, branca. Ao contrário, os bares populares da nova rambla da Rua da Praia, com início na Calda Júnior, são tomados por habitués populares, com uma forte representação de porto-alegrenses negros. A população negra porto-alegrense certamente se concentra em alguns bairros periféricos da capital, com destaque para a Restinga, com uma efervescente vida e produção cultural.
Precisão conceitual
Antes de entrarmos na questão da dita “cultura gaúcha”, lembro que, na abordagem científica da questão, é recomendado falar de “cultura sul-rio-grandense” ou “sulina”, deixando de lado a categoria “cultura gaúcha”, não apenas por seu caráter polissêmico, apesar da popularização do uso do termo. A cultura “gaúcha” foi e é a produzida pelos trabalhadores pastoris. Até há poucas décadas, designados sobretudo como “peões”, eles foram a mão-de-obra dominante nas fazendas da Fronteira, da Campanha, dos Campos de Cima da Serra. E, paradoxalmente, esses trabalhadores pastoris eram e ainda são, em grande número, negros. Isso porque descendiam e descendem étnica e profissionalmente do “cativo campeiro”, o trabalhador pastoril escravizado, dominante nos latifúndios e fazendas médias sulinas, nos séculos XVIII e XIX. [BOSCO, 2008; MAESTRI, 2009-2010.]
Apresentando o fazendeiro como gaúcho
A proposta “cultura gaúcha”, cadinho dos mitos apologéticos das classes dominantes sulinas sobre o passado, tem paradoxalmente suas raizes entranhadas no trabalho do cativo campeiro. Uma realidade registrada nas versões rio-grandenses da lenda do “negrinho do pastoreio”. Ao realizar fusão apologética entre o fazendeiro e o gaúcho-peão, fantasiosamente irmanados nas lides campeiras, os intelectuais orgânicos das classes dominantes sulinas puseram a primeira pedra na proposta de um passado sem contradições sociais.
Nessa reconstrução do passado, realizaram expropriação indecorosas da história, das culturas, das tradições criadas pelos trabalhadores rio-grandenses, com destaque para os “cativos campeiros”. Mais importante que discutir os versinhos do Hino Rio-Grandense, que nem racistas são, é certamente propor a remoção-substituição da estátua do Laçador, na entrada de Porto Alegre, que apresenta, como figuração do peão-gaúcho, seu antagonista social, o estancieiro. Mas, para propor isso, necessitaríamos de vereadores e vereadoras literalmente de “faca na bota”.
Mesmo tendo seus “gaúchos”, devido ao domínio dos cativos campeiros nas atividades pastoris, o Rio Grande do Sul jamais foi terra de gaúchos, como são a Banda Oriental e as províncias argentinas de Buenos Aires, de Corrientes, de Entre-Rios. Nas regiões platinas, onde dominava o gaucho-peón nos trabalhos pastoris, os estancieiros jamais aceitariam a designação ofensiva de gaucho. Ao dominar no sul do Brasil a contradição fazendeiro-trabalhador escravizado, o designativo gaúcho pode, sobretudo no século 20, se substituir ao gentilício “sul-rio-grandense”, como parte da operação ideológica assinalada. O que permite que acadêmicos e jornalistas refiram-se a “fazendeiros gaúchos”, qualquer coisa como “banqueiros bancários”!!
A crítica do unitarismo “cultural gaúcho”
Diversos historiadores e cientistas sociais já descreveram a gênese da proposta de “identidade” e “cultura” comuns à toda a população rio-grandense, com os objetivos assinalados. É impossível reproduzir, no presente texto, mesmo telegraficamente, o complexo processo da construção dessas tradições inventadas. [FREITAS, 1980; GOLIN, 1983.] Não tem sustentação a proposta de Santos do autismo da “cultura gaúcha” devido ao combate do Rio Grande do Sul, como um todo, contra o resto do Brasil, quando da chamada Revolução Farroupilha [1835-45], que jamais envolveu a totalidade do território, das populações e das classes sociais sulinas. [SILVA, 2011; LOPES, 1992.]
Aquele conflito foi um movimento separatista dos grandes latifundiários da Campanha, da Fronteira e do norte do Uruguai. O Litoral, Porto Alegre, a zona colonial alemã, o Planalto mantiveram-se apáticos ou apoiaram o Império, já que o movimento farroupilha não interpretava, e em alguns casos se opunha, aos interesses dos proprietários pequenos, médios e grandes daquelas regiões. Foram tropas sulinas que primeiro combateram a sublevação dos estancieiros insurrecionados. E, mais ainda, os farroupilhas lutaram contra o Império, e não contra o “resto do Brasil”, em boa parte sublevado por outras revoltas regenciais também farroupilhas.
Os grandes estancieiros do meridião sulino estavam interessados em aumentar seus latifúndios e o número de trabalhadores escravizados. A República Rio-Grandense jamais defendeu a abolição da escravatura ou libertou cativos, mesmo crioulos. Os cativos que lutaram nas tropas farroupilhas fizeram-no contra seus interesses históricos, por serem obrigados, sob a promessa de futura libertação, para se livrarem da vida nas senzalas. Eles pelearam em defesa do latifúndio e da escravidão e foram massacrados e entregue aos imperiais pelos chefes farroupilhas, quando da traição de Porongos e nos meses seguintes. [SILVA, 2011; MAESTRI, 2006.]
Tradição das classes dominantes
A Guerra Farroupilha faz parte da saga da fração pastoril das classes dominantes sulinas. Não há glória na participação nesse movimento promovido pelos grandes latifundiários escravista. Ela deve ser rejeitada, como um todo, pelo mundo do trabalho e democrático, já que se contradita com a história e os interesses dos subalternizados no Rio Grande do Sul. A proposta, abraçada por Silva, de incorporar a legenda em construção dos “Lanceiros Negros” às glórias e feitos farroupilhas, objetiva integrar e associar a comunidade negra na louvação dos mitos e relatos hegemônicos das classes proprietárias rio-grandenses. Assim, toda a população sulina poderia cantar, de pé, emocionada, o Hino Rio-Grandense, irmanada por objetivos comuns no passado e no presente. Banqueiros e bancários, patrões e assalariados, brancos e negros ricos e pobres e por aí vai.
A glorificação dos Lanceiro Negros serve igualmente para encobrir os milhares de trabalhadores e trabalhadoras escravizadas que optaram por resistir aos seus opressores, aproveitando o conflito entre as facções dominantes do Império, fugindo e se internando no Uruguai e Argentina ou se aquilombaram em ermos da província. Como a luta e a rebeldia pagam, em sua grande maioria, jamais foram reescravizados. [PETIZ, 2006.] Mas, para eles, não há espaço na “cultura” e na “história” unitária oficial sulina.
O uso da revolução farroupilha como referência identitária sulina não foi produto das classes pastoris derrotadas em 1835, mas dos ideólogos e políticos republicanos positivistas, no final do século e após a República. De viés urbano, pró-capitalista, industrialista e federalista extremado, após superarem a oligarquia pastoril, em 1889, os republicanos positivistas buscaram simbologia que representasse, em um viés autoritário e elitista, todo o Estado. Para tal, retomaram o elogio da República Rio-Grandense, escolhendo as cores farroupilhas para a bandeira sulina. [BRASIL, 1882.] E, sem qualquer piedade, na Guerra Federalista, em 1893-95, massacraram os estancieiros liberais do meridião sulino, descendentes sociológicos e biológicos dos farroupilhas. No passado sulino, sequer houve paz e concórdia entre as facções dominantes em forte dissidência.
Comunidades originárias
A história sulina foi determinada por profundas contradições sociais e de classe, que transpassaram e organizaram, tendencialmente, em forma hierárquica, as comunidades étnicas e nacionais das diversas regiões do Rio Grande do Sul. As comunidades nativas guaranis, minuanas, charruas foram exterminadas. Suas terras foram apropriadas por estancieiros portugueses, luso-brasileiros, teuto-brasileiros, brasileiros. Aculturadas, essas comunidades e seus descendentes foram explorados em situação semi-servil, como mão de obra semi-assalariada, etc. e contribuíram para a formação das comunidades caboclas livres, sempre sob a pressão do latifúndio. [ZARTH, 1997.]
A destruição-absorção precoce das comunidades originárias permitiu que fossem integrados, em forma marginal e subordinada, aos relatos e às tradições hegemônicas sulinos. [CEZIMBRA, 1978]. Nos últimos tempos, tem avançado o estudo sobretudo das comunidades guaranis e missionárias. [KERN, 1991.] A integração necessária das comunidades nativas que ainda sobrevivem no Rio Grande do Sul é primordialmente social e econômica. À margem de suas particularidades, a mesma exigida pelos demais setores populares explorados e marginalizados.
Africanos e afro-descendentes constituíram o essencial da mão-de-obra explorada nos latifúndios, charqueadas, olarias, cidades, etc., desde a ocupação luso-brasileira do Sul, em inícios do século 18, até quase a Abolição. O fim, apenas em 1888, da antagonismo permanente, entre escravizados e escravizadores, dificultou a integração dos cativos nos mitos fundadores de um passado sem contradições de classes, sobretudo quando se procedeu à reconstituição romântica da fazenda pastoril. Uma plêiade de historiadores conservadores realizaram literal limpeza étnica, no relativo ao trabalhador escravizado, nos relatos históricos do passado rio-grandense. [MAESTRI, 2018.]
Agricultores sem terras
Desde 1824, milhares de camponeses sem terras fundaram, em regiões inadaptadas à produção pastoril, unidades agrícolas camponesas, vivendo do esforço do trabalho familiar. Esse movimento migratório foi retomado, em 1850, e sobretudo, em 1870. Em geral, os colonos jamais enriqueceram, sendo explorados pelo capital mercantil. Criou-se igualmente uma mitologia de uma colonização em tudo vitoriosa, totalmente em contradição com a dureza da vida do colono italo-sulino, com destaque para as mulheres e crianças, realidade retratada primorosamente no romance histórico O quatrilho, de J.C. Pozenatto. [1997]. A verdadeira história dessas comunidades brancas e europeias foram canceladas quando da conformação do que se chama hoje de “cultura gaúcha”.
A produção escravista e a economia colonial camponesa propiciaram a acumulação que ensejou uma relativamente precoce e dinâmica produção manufatureira e industrial em diversas regiões do Rio Grande do Sul – Porto Alegre, Rio Grande, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Caxias do Sul. Trabalhadores “castelhanos”, “lusitanos”, “brasileiros”, “italianos”, “alemães”, “afro-descendentes” etc. foram explorados nas manufaturas e indústrias, sob duras condições de trabalho e reduzidas remunerações. Também não houve espaço para elas na proposta “cultura gaúcha” unitária e solidária. Desde o início do século XIX, as principais aglomerações sulinas abrigaram um significativo número de cativos urbanos, libertos, negros livres, homens livres pobres de variadas procedências, também ignorados pelas apologias da fraternidade sulina. Eles produziram e produzem uma muito rica produção cultural, em geral com fortes raízes negras.
Todas essas comunidades massacradas, exploradas, subalternizadas produziram no passado uma vasta e riquíssima produção cultural, singularizais por determinações de região, de origem, de profissão, de sexo, de idade, etc., sobre a qual sabemos ainda pouco. Como apenas lembrado, também foi reprimida e silenciada a produção cultural dessas comunidades, no presente, fossem elas produto de comunidades “europeias”, “brancas”, “negras”, “índias”, etc. Ao contrário, sobretudo no século 18 e 19, as classes dominantes das diversas regiões tenderam, sempre, a registrar, sintetizar, difundir, consolidar e universalizar suas “identidades” e “culturas” romanceadas, que não pretendiam abarcar as classes subalternizadas. Para mantê-las na submissão, contava-se sobretudo com a coerção física.
Nas primeiras décadas do século XX, com o avanço da organização das classes exploradas, os segmentos sociais hegemônicos esforçaram-se em estender e englobar os explorados nas suas representações identitário-culturais regionais, adaptadas as suas novas necessidades. A construção de um passado comum a toda a população, expurgado das contradições de classes, como já lembrado, servia para reforçar a proposta, no presente, de uma sociedade regional fraterna. Uma sociedade sem contradições ou com as oposições de classe superadas pelo consenso e pela concórdia. A coerção associava-se o controle ideológico. Gilberto Freyre consagrou-se com a sua apologia, de 1933, do caráter tendencialmente patriarcal e consensual da escravidão brasileira. [FREYRE, 1969] No sul do Brasil, esse movimento alcançou um enorme sucesso, não adoçando a ordem escravista, mas negando-a simplesmente.
Democracia pastoril e produção sem trabalho
O latifúndio liberal-pastoril, que dominara soberano a sociedade rio-grandense no século 19, no fim daquela centúria, perdeu a hegemonia econômica, para a produção serrana, para a manufatura e para a indústria, e a hegemonia política, para o republicanismo positivista - Partido Republicano Rio-Grandense. Paradoxalmente, nesse momento de depressão do grande latifúndio, a fazenda pastoril tornou-se a base da mitologia regional de um passado comum a toda a população, devido à força dos “mitos” da “democracia pastoril” e da “produção pastoril sem trabalho”, de origem platina. [SARMIENTO, 1996.]
A estância foi proposta como a “célula social” da sociedade rio-grandense, onde não teria ocorrido dominação econômica, já que o “meio físico” e a modalidade do “trabalho pastoril”, nascido da “natureza do solo”, faziam das práticas criatórias uma atividade lúdica e prazeirosa, que exigia pouco esforço, na qual participavam, lado a lado, em verdadeira comunhão, “patrões e empregados”, ou seja, fazendeiros e peões. [GOULART, 1978.] Construiu-se, assim, um mondo imaginário e imaginado sem contradições de classe, sobre o qual se construiu o Tradicionalismo e o Centro de Tradições Gaúchas [CGT]. A Revolução Farroupilha passou a ser referência na história sulina como exemplo da convergência de toda a população em prol defesa do Rio Grande do Sul. Tudo isso materializado e sintetizado na difusa proposta de uma “cultura gaúcha” unitária.
Na construção dessa narrativa, o cativo campeiro, em especial, e o trabalhador escravizado, em geral, foram alijados do passado sulino pelos intelectuais orgânicos das classes dominantes. Sobretudo a partir dos anos 1930, historiadores referencias das classes dominantes, como Souza Docca, Amir Borges Fortes, Moisés Vellinho, Riograndino da Costa e Silva, etc., apresentaram o Rio Grande como produto exclusivo do trabalho livre. A bem da verdade, o cancelamento do trabalhador escravizado da história sulina prosseguiu, praticamente até os anos 1990, mesmo quando da constituição dos cursos rio-grandenses de pós-graduação em história.
Não há cultura negra sulina
É uma mistificação a proposta de solução do “dilema da cultura gaúcha” com a introdução de elementos de “cultura negra” no complexo cultural “branco-europeu” unitário atual. Um processo que criaria uma cultura “gaúcha” verdadeiramente unitária e comum a todos os rio-grandenses, no dito “estado mais racista do Brasil”. Isso, por sobre as contradições de classe e sociais e as múltiplas particularizações de origem, de sexo, de classes, etc. do passado e presente da sociedade sulina, como vimos. É igualmente fantasiosa e apologética a pretensão identitária de dividir a população em grupos culturais “negros”, “brancos”, “europeus” etc. singulares, independentes e em contradição.
A história e as sociedades não se organizam por culturas. Ao contrário, as culturas são produzidas no processo histórico, em um permanente processe de interação, embaladas pelas determinações materiais e econômicas profundas. Os africanos escravizados no Sul chegaram de múltiplas regiões do continente africano, praticando culturas e línguas diversas. Seus falares e culturas entraram em interação, não raro contraditórias, entre si e com os padrões populares da língua brasileira, criando instrumentos comunicacionais variados, sobre os quais sabemos pouco.
A participação da população escravizada foi elemento determinante e central na construção da sociedade sulina como um todo. Suas produções culturais entranharam-se em forma profunda no mundo sul-rio-grandense, dando origens a realidades e processos complexos, sobre os quais também necessitamos ampliar nosso conhecimento. Propor, na ótica exclusivista identitária, a participação e a cultura do cativo, durante a escravidão, e do negro, após a Abolição, como um bloco à parte e refratário na sociedade sulina, é literalmente desossificar e desestruturar a história do Rio Grande do Sul. É praticamente pretender pintar um muro dependurado em um pincel.
O batuque é rio-grandense
Um pequeno exemplo. Pouco conhecemos ainda sobre a origem do batuque no Rio Grande do Sul, expressão maior da permanência-adaptação da cultura africana no Brasil. Comumente, os registros de “batuques” nos jornais e na documentação oficial do século 19 não diferenciam festejos de cativos e cerimoniais religiosos. Essas práticas religiosas, fortemente clandestinas, das quais temos alguns registros positivos, para a província sulina, já no século 19, difundiram-se no Sul, em meio urbano, sobretudo em inícios do século 20, acredita-se que a partir de Rio Grande e Pelotas, antigos polos escravistas. [CORRÊA, 1990.]
Nosso articulista ficará surpreso ao saber que o Rio Grande, com forte população de origem europeia, possui mais de 65.000 casas de culto, mais do que o Rio de Janeiro e a Bahia. Fenômeno que seria propiciado pela maior aceitação, em relação ao resto do Brasil, da prática de cultos de origem afro-brasileira. É forte a incidência das casas de culto na Região Colonial Italiana, contando Caxias do Sul em torno de “mais de duas mil casas de Umbanda e Batuque”. [Pioneiro, Caxias do Sul, 15/11/2016.] O enorme entranhamento do batuque, de origem africana, na sociedade rio-grandense, enseja que muitíssimos pais e mães de santo sejam hoje descendentes de italianos, alemães, portugueses, etc. As depredações de casas de culto, em geral por evangélicos fanatizados, constitui uma agressão a uma religião de origem africana e à população sulina que a pratica, de todas as origens.
Falta-nos muito para conhecermos as múltiplas expressões culturais de origem africana e negras no Sul, impossíveis de serem definidas a partir de um inexistente denominador comum. Quase nada conhecemos da vida dos pequenos quilombos que pulularam em regiões diversas do Rio Grande do Sul. Conhecemos mais, mas sempre em forma insuficiente, a vida cultural das multidões de trabalhadores assenzalados que viveram e morreram sob a escravidão, em diversas épocas e regiões do Rio Grande. O mesmo ocorre com a história de seus descendentes na pós-escravidão, que faleceram, nos últimos anos, em grande número, sob a indiferença de nossa intelectualidade, com não muitas exceções.
Caleidoscópio africano
Sabemos ainda menos sobre os aportes dos africanos à sociedade sulina. Não raro, a população das senzalas e dos quilombos era um caleidoscópio de nacionalidades africanas. O patrimônio cultural e linguístico trazido no bojo dos navios negreiros foi passado pelo moedor de carne da sociedade e da produção escravista. Impacta nos depoimentos registrados por Agostinho Dalla Vecchia a escassa lembrança dos tempos da escravidão e o quase absoluto desconhecimento de tudo que dizia respeito à África. Alguns depoentes sequer sabiam o que era a África.
Apesar de falares africanos terem sido línguas francas em regiões diversas do Brasil, suas contribuições ao diversos padrões do português falado limitam-se a algumas palavras e determinações sintáticas. [CARBONI & MAESTRI, 2003.) Nosso escasso conhecimento sobre o aporte cultural dos cativos chegados das diversas regiões da África não pode ser preenchido com construções sintéticas de tradições inventadas, com objetivos políticos e ideológicos. Ao contrário, pode e deve ser enriquecido por um estudo sistemático das fontes e registros abundantes das trajetórias negro-africanas e de seus descendentes no Sul. Realidade, porém, sobre a qual se mantém um forte desinteresse.
As últimas senzalas estão ruindo no Rio Grande do Sul, sob o avanço da agro-indústria, sem que sejam realizados levantamentos arqueológicos. Lançamentos imobiliários ocupam e destroem os pátios traseiros dos sobrados urbanos senhoriais, em geral espaço de trabalho e convivência dos cativos domésticos. [MAESTRI, 2001.] Espero estar errado, mas talvez jamais se tenha realizado um levantamento arqueológico de um “cemitério de negros” sulino, que forneceria informação riquíssima sobre praticas culturais, origem e condições de vida dos cativos africanos e “crioulos”.
E foram-se as charqueadas
Em Pelotas, sobre os vestígios do espaço charqueador, ao longo da margem direita do arroio homônimo, levantam-se hoje residências luxuosas, com pequenos portos privados. Paradoxalmente, não se trata, apenas, de descaso com a história da escravidão, já que com a especulação imobiliária desapereceram igualmente registros importantes da memória da classe dominante regional.
Sobretudo, as produções culturais de indivíduos, de grupos e de comunidades, no contexto de suas múltiplas singularidades, se diferenciavam e se antagonizam sob as determinações e contradições sociais e de classe. No passado, os sentimentos, expectativas, hábitos, etc. diferiam e se opunham essencialmente, caso fossem produzidos por um trabalhador assenzalado, por um capitão de mato, por um feitor, por um proprietário escravista, mesmo sendo todos eles negros.
No presente, não há identidade entre o patrão branco e o operário branco, como o patrão preto não tem piedade do trabalhador negro. Os rio-grandenses brancos e negros da classe média e endinheirados, mesmo quando não andam de mão dadas, possuem identidades essenciais e oposições estruturais para com os trabalhadores de qualquer cor. Para além de eventuais diferenças de tratamento, uma empregada doméstica é, essencialmente, uma empregada doméstica, como a patroa é, sempre, uma patroa, não importando se uma e outra sejam brancas, pardas, negras, orientais. Não é por nada o enorme apoio ao salário mínimo miserável, entre aqueles que não vivem dele, é claro.
A proposta da unidade e coesão social da sociedade rio-grandense, a partir da incorporação das produções culturais comunitárias diversas, para produzir um complexo cultural comum a todos os rio-grandenses é fantasia social pacificadora e colaboracionista. Ela fortalece, como proposto, o esforço das classes proprietárias para abafar as contradições sociais e de classe, mantendo mais facilmente os subalternizados na dominação. Um programa que alcança elevada concretização no Rio Grande do Sul.
No contexto das diversidades de sexo, etnia, nacionalidade, etc., o mundo do trabalho deve construir suas tradições, identidades e símbolos próprios, libertando-se na sua luta também dos grilhões culturais e ideológicos. Nesse processo, sobretudo, deve exigir e criar as condições para que se reconheça e desvele a verdadeira história do Rio Grande do Sul, na qual o mundo do trabalho ocupou situação central e dominante, com destaque para os trabalhadores escravizados nos século XVIII e XIX, sem jamais desfrutar realmente das riquezas que criou.
Leia mais
- O partido tirânico dos farroupilhas no hino rio-grandense
- Reintegração de posse da Ocupação Lanceiros Negros é alvo de denúncia na OEA
- Porto Alegre. Ocupação Lanceiros Negros renasce em hotel desativado no Centro
- Lanceiros Negros: o estado contra o social
- Porto Alegre. Brigada faz operação de guerra para ‘garantir funcionamento habitual da cidade’, afirma Lanceiros Negros
- Porto Alegre. Desocupação suspensa da Lanceiros Negros vira documentário
- Episódio de Racismo ocorrido em Porto Alegre
- Racismo contra Seu Jorge vira caso de polícia no Rio Grande do Sul
- As faces do racismo no Rio Grande do Sul
- Vinícola flagrada com trabalho escravo no RS ostentava o selo “Great Place to Work”
- Noites em porões, almoço na caridade: violações se mantêm na serra gaúcha após caso de trabalho escravo
- Em debate sobre reformas, Paim associa terceirização à prática de trabalho escravo
- Ministério Público pede ao STF que trabalho escravo seja considerado crime imprescritível
- IBGE: Rio Grande do Sul tem a maior população quilombola do sul do país
- Rio Grande do Sul. Naturalmente polêmico
- Documentário mostra presença das religiões afro no Rio Grande do Sul
- A entrega de territórios indígenas, pelo estado do Rio Grande do Sul, à iniciativa privada. ‘É como se vendessem os indígenas junto’