O teólogo analisa o cenário do catolicismo hoje e, diante das provocações do pontificado de Francisco, dá pistas de como viver o Evangelho encarnado
Crise climática, totalitarismos e um conservadorismo que rechaça qualquer diversidade em um mundo de constante transformação. Como ser Igreja diante de um cenário destes? Para o teólogo Francisco de Aquino Júnior, com certeza não é nos fechando em igrejas e bibliotecas, nem buscando um tal transcendente longe do povo e do mundo. Para ele, a pista central é seguir um caminho apontado pelo Papa Francisco. “O apelo de Francisco para uma conversão missionária da Igreja, entendida como ‘saída para as periferias’, vale também, a seu modo, para a teologia”, reflete.
Na entrevista a seguir, concedida por e-mail ao Instituto Humanitas Unisinos – IHU, Aquino faz reflete sobre o papel da Igreja na atualidade, analisa as reações e más interpretações ao pontificado. “Está em jogo, aqui, uma teologia viva, dinâmica, aberta, com ‘cheiro de povo e rua’; uma teologia que não transforma a Tradição em museu; uma teologia que leva a sério a presença do Espírito na história e se constitui como parte da missão evangelizadora da Igreja no mundo; uma teologia com cheiro e sabor evangélicos”, acrescenta.
Aquino também entra na seara das disputas internas da Igreja, entre aqueles que resistem ao chamado de ver o rosto de Jesus no outro e aqueles que buscam ver Jesus no pobre. Nesta linha, também recupera a história da Teologia da Libertação e de Gustavo Gutiérrez. “Gutiérrez levou às últimas consequências essa relação essencial e radical da teologia com a vida cristã, a fé ou a espiritualidade que chega a afirmar, em termos epistemológicos, que ‘nossa metodologia é nossa espiritualidade’, no sentido de que ‘o caminho que se toma para ser cristão é o fundamento da direção que se toma para fazer teologia’”, pontua.
Por fim, ele analisa o papel das Comunidades Eclesiais de Base – CEBs e o desafio de todos superarmos a autorreferencialidade na vida da Igreja. “A doença da ‘autorreferencialidade’ se cura em ‘saída para as periferias’. A doença do ‘clericalismo’ se cura com mentalidade, dinamismo e estruturas sinodais: comunhão, participação e missão”, provoca.

Francisco de Aquino Júnior (Foto: CNBB)
Francisco de Aquino Júnior é licenciado em filosofia pela Universidade Estadual do Ceará – UECE, bacharel e mestre em teologia pela atual Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia – FAJE e doutor em teologia pela Westfälische Wilhelms-Universitât Münster, da Alemanha. Realizou pós-doutorado em teologia pela FAJE. Leciona teologia na Faculdade Católica de Fortaleza – FCF e no PPG em teologia da Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP. É presbítero da Diocese de Limoeiro do Norte, no Ceará, e presta assessoria teológico-pastoral a diversas pastorais, organismos e dioceses Brasil afora.
IHU – Como define Gustavo Gutiérrez, desde sua experiência espiritual e pastoral até as formulações de sua teologia?
Francisco de Aquino Júnior – Gutiérrez é, antes de tudo, um cristão que vive sua fé de modo muito intenso, consequente e mesmo radical. Um homem profundamente marcado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Um místico no sentido mais autêntico da palavra. É também um cristão-presbítero que recebeu da Igreja o ministério presbiteral e o viveu por décadas junto a comunidades da periferia de Lima: populações pobres e marginalizadas, em grande parte indígenas e, num sentido mais específico e alargado, no ministério teológico, ajudando através da reflexão a compreender e viver a fé como vida nova em Jesus Cristo e como fermento evangélico no mundo.
Por fim, é um cristão-presbítero-teólogo que, de modo mais elaborado e sistemático, ajudou a pensar a fé no contexto atual, a partir dos “Cristos açoitados das Índias”, da “não pessoa” ou mais precisamente a partir da “irrupção do pobre” na sociedade e na Igreja. De modo bastante didático e convincente, intuiu e esboçou uma “nova maneira de fazer teologia”, entendida como “reflexão crítica da práxis histórica à luz da Palavra”. Tem em nosso tempo uma importância semelhante à importância de Tomás de Aquino em seu tempo. Não por acaso, Pedro Casaldáliga se refere a ele como “mestre antigo”, “Suma crioula da Liberación”, “Tomasito da América Latina”...
IHU – No que a teologia de Gustavo Gutiérrez pode inspirar o nosso tempo?
Francisco de Aquino Júnior – A teologia de Gutiérrez é, no sentido mais autêntico e profundo, intellectus fidei: “não, porém como simples adesão intelectual à mensagem, e sim como acolhida vital do dom da Palavra escutada na comunidade eclesial, como encontro com o Senhor, como amor ao irmão”. Ou, se quiserem, uma teologia radical e profundamente espiritual, uma teologia que leva a sério que “a reflexão sobre o mistério de Deus só pode ser feita seguindo os passos de Jesus” ou que “apenas a partir do caminhar segundo o Espírito é possível pensar e anunciar o amor gratuito do Pai para toda pessoa humana”.
Gutiérrez levou às últimas consequências essa relação essencial e radical da teologia com a vida cristã, a fé ou a espiritualidade que chega a afirmar, em termos epistemológicos, que “nossa metodologia é nossa espiritualidade”, no sentido de que “o caminho que se toma para ser cristão é o fundamento da direção que se toma para fazer teologia”. Essa é, sem dúvida, a primeira grande lição/inspiração da teologia de Gutiérrez para nós hoje.
Mas a vida cristã, a fé ou a espiritualidade não são vividas nas nuvens, de modo abstrato. Como insiste Pedro Casaldáliga: “não podemos fugir nem da geografia nem do calendário. O mistério da Encarnação que professamos [...] devemos vivê-lo ‘encarnando’ nossa fé [e nossa teologia!]”. E num mundo marcado por tanta injustiça, desigualdade, pobreza e miséria, a teologia é desafiada a “falar de Deus a partir do sofrimento inocente”, sendo uma palavra eficaz que contribua para a “irrupção do pobre” como sujeito eclesial e social e, dessa forma, “uma teologia que não se limita a pensar o mundo, mas procura situar-se como um momento do processo através do qual o mundo é transformado, abrindo-se [...] ao dom do Reino de Deus”.
Se a pergunta fundamental da teologia moderna é “como anunciar Deus em um mundo que se fez adulto” (Bonhöffer), a pergunta fundamental da teologia latino-americana é “como falar de Deus a partir do sofrimento inocente” ou “como anunciá-lo como Pai em um mundo não humano” (Gutiérrez). E aqui está a segunda grande lição/inspiração da teologia de Gutiérrez para nós.
Em síntese, Gutiérrez nos ensina que a teologia é inseparável da vida/fé/espiritualidade (teologia espiritual) e que essa vida/fé/espiritualidade nos compromete com os pobres e marginalizados desse mundo e sua libertação (Teologia da Libertação), recordando e insistindo sempre que “o motivo último do que se chama ‘opção preferencial pelos pobres’ encontra-se no Deus que cremos. Pode haver outras razões válidas: a irrupção dos pobres hoje, a análise social dessa situação, a compaixão humana, o reconhecimento do pobre como protagonista de sua própria história. Mas, para dizer a verdade, o fundamento desse compromisso para o cristão é teocêntrico. A solidariedade com os pobres e oprimidos tem seu fundamento em nossa fé em Deus, o Deus da vida que se revela em Jesus Cristo”.
IHU – Qual a essência do pensamento de Gutiérrez? Como podemos compreender as bases que sustentam seu pensamento?
Francisco de Aquino Júnior – Gutiérrez começa falando da Teologia da Libertação como “uma nova maneira de fazer teologia”, entendida como “reflexão crítica da práxis histórica à luz da Palavra”. Desenvolvendo e precisando essa intuição primeira, afirma que “na Teologia da Libertação há duas intuições centrais que foram as primeiras cronologicamente e continuam constituindo a sua coluna vertebral. Estamos nos referindo ao método teológico e à perspectiva do pobre”.
Falando do método teológico, diz que “o compromisso com o processo de libertação é o ato primeiro e que a teologia vem depois, como um ato segundo”, destacando o “esforço para colocar o trabalho teológico no complexo e fecundo contexto da relação prática/teoria”.
Falando da perspectiva do pobre (classes exploradas, raças marginalizadas, culturas desprezadas, povos dominados, ausentes da história, mulheres duplamente marginalizadas), diz que “se a teologia é uma reflexão a partir da práxis e sobre ela, então é importante ter presente que se trata da práxis de libertação dos oprimidos desse mundo”, insistindo que “não basta dizer que a práxis é o ato primeiro; é necessário também considerar o sujeito histórico dessa práxis: os até agora ausentes da história”. E isso se consolida em sua “tese de doutorado”, na qual apresenta sua teologia como “uma linguagem sobre Deus” (primeira parte), “a partir do reverso da história” (segunda parte), para “dar testemunho da ressurreição” (terceira parte).
Podemos sintetizar as características fundamentais da teologia de Gutiérrez em termos de primado da práxis (“ato primeiro” – “ato segundo”) e perspectiva do pobre (“reverso da história”, “irrupção do pobre”, “opção pelos pobres”). Trata-se de uma teologia que insiste no primado dos “aspectos existenciais e ativos da vida cristã” e, levando a sério o “papel mais ativo” do sujeito humano no conhecimento, destaca a “função crítica” da teologia em relação à práxis, formulado em termos da “relação teoria/práxis”.
É importante ter em conta que essa perspectiva teológica não é um fato isolado, mas está possibilitada e condicionada por uma série de fatores socioeclesiais: fatores de ordem científico-filosófica e fatores de ordem teológico-eclesial. Como toda e qualquer teologia, a teologia de Gutiérrez é contextual, responde a desafios de seu tempo e o faz a partir da sensibilidade socioeclesial e epistemológica.
IHU – A Teologia da Libertação está superada?
Francisco de Aquino Júnior – Gutiérrez conclui a longa introdução que escreveu à nova edição de sua obra clássica Teologia da Libertação, 25 anos depois, com a narrativa de um episódio que me parece muito iluminador dessa questão que vale a pena reproduzir aqui:
“Há poucos anos um jornalista perguntou-me se eu escreveria hoje o livro Teologia da Libertação tal como o escrevi em sua primeira edição. Minha resposta consistiu em dizer-lhe que nos anos transcorridos o livro continuava igual a si mesmo, mas que eu estava vivo e por isso mudando e avançando graças a experiências, observações recebidas, leituras e discussões. Como ele insistisse, perguntei-lhe se hoje escreveria à sua esposa uma carta de amor nos mesmos termos de vinte anos atrás; ele me disse que não, mas reconheceu que seu carinho permanecia... Meu livro é uma carta de amor a Deus, à Igreja e ao povo a que pertenço. O amor continua vivo, mas aprofunda-se e varia a forma de expressá-lo”.
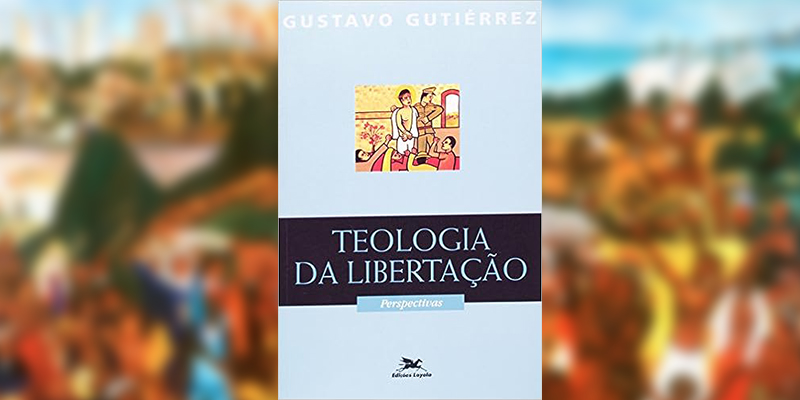
Edição mais recente da obra de Gutiérrez (Edições Loyola; 2000)
Essa resposta tão sábia de Gutiérrez nos ensina que toda teologia é contextual ou relativa ao seu contexto e, nesse sentido, tem sempre algo de provisório que pode e deve ser aprofundado, ampliado, revisado e precisado. Isto, que vale para toda teologia, vale também para Teologia da Libertação de Gutiérrez e de qualquer teólogo/a da libertação.
Não se trata de absolutizar nenhuma teologia ou formulação teológica, por mais verdadeira, importante e relevante que seja. Não podemos cair na tentação de uma “escolástica da libertação”. Isso seria a morte dessa teologia, cuja vitalidade e cuja profecia consistem precisamente no esforço de apreender, expressar e teorizar, nos limites e nas ambiguidades do pensamento e da linguagem, a presença/ação libertadora de Deus na história. A teologia não vive simplesmente, nem em última instância, de conceitos e teorias, mas da presença salvadora de Deus no mundo. Não é nem pode ser pura/mera arqueologia teórico-conceitual, mas intellectus fidei ou intellectus amoris, já que a fé não é mera doutrina, mas um modo de vida dinamizado pelo amor: “Com efeito, em Jesus Cristo o que vale é a fé agindo pelo amor” (Gl 5, 6). E o que vale para a fé, vale, mutatis mutandis, para a teologia enquanto intellectus fidei.
A Teologia da Libertação, no passado e no presente, em todas as suas formulações, como qualquer outra teologia, tem a marca de seu tempo, de seu contexto socioeclesial e de seus autores. Nenhuma teologia é absoluta, mesmo que trate, nos limites e nas ambiguidades da vida e do pensamento, do Absoluto. É muito importante não cair na tentação de absolutizar essa teologia, considerando-a pronta, acabada, definitiva, perfeita, absoluta. Mas, nos limites e nas ambiguidades de sua compreensão e formulação, ela tem algo de precioso e irrenunciável na vivência da fé e, consequentemente, na reflexão teológica.
E isso tem a ver com o que desde as origens se formulou em termos de “experiência de Deus no pobre” que é sempre uma experiência práxico-teórica libertadora. Essa intuição, que é muito mais tradicional do que se pensa (ação salvadora de Deus em Israel e, na plenitude dos tempos, em Jesus Cristo), diz respeito a algo que é constitutivo e essencial (não secundário nem meramente consecutivo) na fé e na teologia cristãs. Prescindir da parcialidade de Deus pelos pobres, ou tratá-la como algo secundário ou meramente consecutivo, significa tomar como ponto de partida da teologia não a revelação e a fé cristãs, mas determinada ideia filosófica de Deus, mais próxima do “motor imóvel” de Aristóteles que do Deus de Israel e de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, precisamente na “experiência de Deus no pobre”, e não numa formulação concreta e pontual, está a insuperabilidade e atualidade permanentes da Teologia da Libertação.
Mesmo um teólogo, nada suspeito aqui, como o cardeal Müller, chega a afirmar que “a Teologia da Libertação não morrerá enquanto houver homens que se deixam contagiar pelo agir libertador de Deus e que façam da solidariedade com os sofredores, cuja vida é espezinhada, a medida da sua fé e a mola de seu agir na sociedade” e que “a partir das necessidades da vida eclesial e a partir da teologia, deve-se dizer que a Igreja, no terceiro mundo, mas também a Igreja como Igreja universal, não pode renunciar à continuação e ao uso da Teologia da Libertação”.
Em síntese, há na Teologia da Libertação, como em qualquer autêntica teologia, algo de superável (sempre em construção) e algo de insuperável (constitutivo da revelação, da fé e da teologia). Importa seguir e avançar na elaboração teórica (sempre superável), sem negar nem comprometer o que ela tem de fundamental e essencial que é a parcialidade de Deus e da fé pela humanidade sofredora ou pelos “povos crucificados” (insuperável).
IHU – Em que consistem as críticas mais recentes acerca do fazer teológico a partir das bases da Teologia da Libertação, com foco nos empobrecidos e marginalizados e vendo no pobre o Jesus Cristo vivo?
Francisco de Aquino Júnior – Esse é um tema bastante complexo e delicado que não deve ser simplificado nem banalizado com apelações baratas, espetacularização midiática e instrumentalização ideológica, como infelizmente tem acontecido em algumas ocasiões. É importante fazer um esforço para distinguir na polêmica os aspectos teórico-teológicos da crítica (compreensão de teologia, pressupostos teórico-filosóficos) de aspectos mais propriamente biográficos (afetivos, psíquicos, relacionais), eclesiais (vínculos eclesiais, perspectiva pastoral-evangelizadora) e, sobretudo, político-ideológicos (ligação, por convicção ou por conveniência, com grupos reacionários e instrumentalização político-eclesial).
Se os aspectos teórico-teológicos da crítica precisam ser enfrentados teórica e teologicamente, os demais aspectos, sobretudo os aspectos político-ideológicos que têm acompanhado e instrumentalizado as críticas, precisam ser relativizados como elementos determinantes do tom simplista, polemicista, apelativo e condenatório de certas afirmações...
Tenho um grande apreço por Clodovis Boff. É um dos teólogos que mais estudo, até pelo interesse e dedicação pessoal às questões mais propriamente epistemológicas da teologia. Publiquei pela REB, no contexto de meu doutorado, um estudo sobre sua abordagem do método da Teologia da Libertação: “Clodovis Boff e o método da Teologia da Libertação: uma aproximação crítica” (REB 271, 2008, p. 597-613) e, pouco depois, um estudo sobre sua crítica à concepção de teologia de Jon Sobrino: “A teologia como intellectus amoris: a propósito da crítica de Clodovis Boff a Jon Sobrino” (REB 274, 2009, p. 388-415). Em breve sairá pela revista Teocomunicação um estudo que confronta a compreensão de teologia de Clodovis Boff com a de Gustavo Gutiérrez, procurando explicitar os pressupostos epistemológicos que estão na base dessas teologias e do conflito teórico entre elas: “Teologia como ‘intellectus fidei’: Sobre o ‘ponto de partida’ da teologia”.
Deixando de lado os aspectos mais biográficos, eclesiais e sobretudo político-ideológicos que acompanham, revestem, condicionam e comprometem o debate, levando a posições e condenações simplistas e apelativas, do tipo “pobrologia” ou Igreja como “agroboi”, tenho me centrado nos aspectos teórico-teológicos do debate que, de fato, acompanham seu labor e sua produção teológica desde o início. Diferentemente do que muitos têm afirmado, sou da opinião que, do ponto de vista teórico-teológico, há mais continuidade que ruptura na compreensão de teologia de Clodovis Boff.
Há dois aspectos que perpassam seus estudos sobre a Teologia da Libertação que são centrais e determinantes em suas críticas e polêmicas com essa teologia, para além do tom simplista e apelativo de alguns escritos e palestras. Trata-se, em primeiro lugar, de uma compreensão que reduz a Teologia da Libertação a uma “teologia do político” (tese doutoral), entendida como “tema”, “momento” ou “dimensão” da teologia. Por mais que haja ponderações e certas variações, ele nunca superou definitivamente essa compreensão regional/genitiva da Teologia da Libertação.
Há um segundo aspecto, mais sutil, mas não menos determinante de sua compreensão de teologia, que tem a ver com seus pressupostos epistemológicos ou com sua compreensão de saber/conhecimento, muito mais grega que bíblica. Trata-se de uma compreensão marcada por um dualismo epistemológico mais ou menos radical (dependendo do texto e do contexto) entre saber e sentir que é decisiva para a problemática da relação entre teoria e práxis e que o leva a afirmar, no limite, que “só teoria gera teoria, não a prática”. Esse dualismo epistemológico é irmão gêmeo de um dualismo metafísico-teológico (mais ou menos radical, dependendo do texto e do contexto) que o leva a insistir num deus em si, absoluto e imparcial, mais próximo ao “motor imóvel” de Aristóteles que ao Deus de Jesus Cristo.
A partir daqui se pode compreender sua crítica cada vez mais radical e ácida à teologia moderna, Rahner em especial (antropocentrismo/imanentismo), e à Teologia da Libertação, tomada como uma espécie de “vulgata rahneriana”, centrada do pobre (pobrismo ou pobrologia). Isso conduz a uma postura teológica que volta a opor “natural x sobrenatural” e, no limite, leva a uma busca de Deus (“eu quero é Deus”) mediante uma aversão ao humano (“estou farto disso”) ou, como bem intuiu Pe. Joãozinho, SCJ, a “uma nova gnose – colocar o céu e criar evasão da história”.
Com esse pano de fundo epistemológico-metafísico-teológico, podem-se compreender melhor sua postura e sua formulação teórico-teológica sobre a problemática da relação Deus/pobre na fé e na teologia cristãs, sem cair na tentação, também simplista e apelativa, de acusação de negação da “opção pelos pobres”.
IHU – O Papa Francisco tem feito apelos reiterados para que a teologia “saia de si”. Qual a sua leitura deste apelo? Quais os desafios para repensar a teologia a partir dos empobrecidos e de sua libertação?
Francisco de Aquino Júnior – O apelo de Francisco para uma conversão missionária da Igreja, entendida como “saída para as periferias”, vale também, a seu modo, para a teologia. Também a teologia está exposta à tentação e ao perigo da autorreferencialidade, esquecendo que ela não existe para si mesma nem pode viver de si mesma, mas, como intellectus fidei e como atividade eclesial, é parte da – e serviço à – missão salvífica da Igreja no mundo.
Muitos autores falavam do reducionismo da teologia pré-conciliar em termos de “teologia do Denzinger” (compêndio de documentos do magistério). Ratzinger fala aqui de “teologia de encíclica”, entendendo por isso “um tipo de teologia que se restringia cada vez mais a escutar e analisar as declarações e os documentos papais”. Por mais que o Concílio tenha ajudado a recuperar a diversidade de fontes da teologia (OT 16) e tenha insistido, com sua incipiente teologia dos “sinais dos tempos” (GS 4, 11, 44), em sua constitutiva referência ao mundo, a tentação da teologia de viver de si e para si mesma, reduzindo-se a uma espécie de arqueologia teológica, desresponsabilizando-se dos dramas e desafios da humanidade, sobretudo dos pobres e marginalizados, é muito grande. Daí a importância e urgência do apelo de Francisco por uma conversão missionária da Igreja/teologia, entendida e vivida como “saída para as periferias do mundo”. A teologia precisa ser uma palavra eficaz com saber/sabor/sentido de libertação...
Publiquei recentemente pela revista Atualidade Teológica um estudo sobre os principais aportes de Francisco acerca da teologia e do fazer teológico, intitulado “Francisco e o quefazer teológico” (Atualidade Teológica 71, 2023, p. 50-62). Destaco algumas das orientações e insistências de Francisco para a teologia e o fazer teológico que não deixam de ser características fundamentais de seu modo de fazer teologia: uma teologia feita no “sulco aberto pelo Concílio Vaticano II”, como “parte da missão salvífica da Igreja”, em “fidelidade criativa à Tradição”, nas “fronteiras” e “periferias” mundo.
Está em jogo, aqui, uma teologia viva, dinâmica, aberta, com “cheiro de povo e rua”; uma teologia que não transforma a Tradição em museu; uma teologia que leva a sério a presença do Espírito na história e se constitui como parte da missão evangelizadora da Igreja no mundo; uma teologia com cheiro e sabor evangélicos. Frente aos riscos e perigos desse tipo de teologia (toda teologia tem seus riscos e perigos!) e frente aos receios e às resistências que ela encontra (mais ou menos legítimos e igualmente discutíveis), vale aqui, mutatis mutandis, o que Francisco diz de toda a Igreja:
“Mais que o temor de falhar, espero que nos mova o medo de nos encerrarmos nas estruturas que nos dão uma falsa proteção, nas normas que nos transformam em juízes implacáveis, nos hábitos em que nos sentimos tranquilos, enquanto lá fora há uma multidão faminta e Jesus repete-nos sem cessar: ‘Dai-lhes vós mesmo de comer’” (EG 49).
Nunca é demais insistir que a teologia não vive simplesmente de conceitos e teorias elaboradas no passado, por mais verdadeiros e eficazes que tenham sido. Quem vive de passado é museu. A teologia vive da presença/ação salvadora de Deus no mundo.
A sua especificidade e tarefa própria é ajudar a comunidade eclesial a apreender, expressar e formular da melhor maneira possível (sempre limitada!) essa presença/ação salvadora de Deus no mundo. Um bom teólogo ou teóloga não é antes de tudo e sobretudo uma pessoa muito erudita, por mais que isso seja importante ou mesmo necessário, mas quem tem um faro/instinto muito aguçado para sentir e apreender e, ao mesmo tempo, perspicácia para expressar e formular essa presença/ação salvadora de Deus no mundo.
Isso faz da teologia um saber com sabor e eficácia, e não mera especulação ou elucubração fria e estéril.
IHU – Falando em Papa Francisco, como analisa a atual conjuntura do pontificado? Qual será o grande legado de Francisco?
Francisco de Aquino Júnior – Desde o início do seu ministério pastoral, Francisco tem convocado e provocado a Igreja a um processo de conversão/renovação pastoral em vista de uma maior fidelidade à sua missão evangelizadora no mundo. E situa sempre esse processo de renovação no “sulco aberto pelo Concílio”, como sua retomada, seu aprofundamento, sua atualização.
Esse processo de renovação eclesial gira em torno de duas intuições fundamentais do Concílio sobre a Igreja, tal como aparece nos dois primeiros capítulos da Constituição Dogmática Lumen Gentium: Igreja como sacramento de salvação no mundo e Igreja povo de Deus.
O primeiro aspecto abre e lança a Igreja ao mundo. É a dimensão missionária da Igreja, que não existe para si, mas para a salvação do mundo. O segundo aspecto trata a Igreja como povo de Deus, na diversidade de seus carismas e ministérios, insistindo na comum dignidade e missão de todos os batizados. Aqui está o coração da eclesiologia conciliar, concretizada e dinamizada na América Latina em termos de libertação ou opção pelos pobres (missão) e de comunidades eclesiais de base (constituição). Foram décadas intensas e fecundas de renovação evangélica da Igreja: uma verdadeira “primavera eclesial”, na expressão de muitos teólogos europeus.
Aos poucos, sobretudo a partir do Sínodo de 1985, esse processo vai sendo freado, sufocado, reprimido... Fala-se na Europa de um “inverno eclesial” (daqui do Nordeste do Brasil, teríamos que falar de “seca eclesial”, pois inverno aqui é sinônimo de chuva e chuva aqui é benção...). Libânio falava, com palavras de João Paulo I e de João Paulo II, de “volta à Grande Disciplina”. E Francisco faz um diagnóstico muito preciso do resultado desse processo em termos de “autorreferencialidade” e de “clericalismo”. Se o Concílio abriu a Igreja ao mundo, temos uma Igreja cada vez mais autorreferencial, voltada para si mesma, distante ou indiferente aos grandes problemas da humanidade. Se o Concílio insistiu que a Igreja é o “povo de Deus” na diversidade de seus carismas e ministérios, e que nela “reina verdadeira igualdade quanto à dignidade e ação comum de todos os fiéis” (LG 32), cresceu muito o clericalismo que é, na expressão de Francisco, um “mal”, uma “peste”, uma “praga” que corrói e corrompe do povo de Deus.
A partir desse diagnóstico patológico (autorreferencialidade e clericalismo), compreendem-se melhor seu apelo e sua insistência em uma “conversão missionária” da Igreja (“saída para as periferias”) e em uma “conversão sinodal” da Igreja (“caminhar juntos” do povo de Deus). A doença da “autorreferencialidade” se cura em “saída para as periferias”. A doença do “clericalismo” se cura com mentalidade, dinamismo e estruturas sinodais: comunhão, participação e missão.
E esses dois aspectos se implicam e se remetem mutuamente: a missão se vive sinodalmente (povo de Deus) e a sinodalidade se vive na missão de “tornar o reino de Deus presente no mundo” (missão).
Isso ajuda compreender também as resistências a Francisco na Igreja: sejam aquelas mais explícitas e até grosseiras e agressivas (minoritárias), sejam aquelas mais sutis, talvez mais eficazes, uma espécie de “cisma branco”, que se concretizam como indiferença, boicote, banalização de suas orientações e processos pastorais (grupos e movimentos mais conservadores, setor significativo do episcopado, do clero e, sobretudo, dos candidatos ao ministério ordenado).
No fundo, a resistência e oposição a Francisco, como ele mesmo reconhece, é resistência e oposição ao Concílio e, sobretudo, eu diria, sua recepção criativa na América Latina. O Concílio Vaticano II é uma chave central para compreender o ministério pastoral de Francisco, bem como as resistências e oposições a ele.
IHU – Sinodalidade tem sido uma das palavras-chave no pontificado de Francisco. Como compreender esse conceito de Igreja Sinodal? A Igreja de nosso tempo tem, efetivamente, compreendido este chamado de Francisco à sinodalidade?
Francisco de Aquino Júnior – Embora não apareça nos debates nem nos textos conciliares, essa expressão manifesta bem a eclesiologia do “povo de Deus”, aprofundando e atualizando. Ela destaca a comum dignidade e missão de todos os batizados na diversidade de seus carismas e ministérios. Antes de tratar daquilo que distingue os membros do povo de Deus (carismas e ministérios), insiste naquilo que é comum e confere dignidade e igualdade a todos os batizados (unção do Espírito – senso sobrenatural da fé – sujeitos ativos da evangelização). Isso impede tanto uma separação rígida entre “Igreja docente” e “Igreja discente” quanto um “esquema de evangelização realizado por agentes qualificados enquanto o resto do povo fiel seria apenas receptor de suas ações” (EG 119-120).
Esta comum dignidade e missão, que provém do batismo e da unção do Espírito, é a base e o fundamento da participação de todos os batizados na vida e na missão da Igreja. Não é preciso apelar à democracia política para falar de participação na Igreja. Há razões teológicas suficientes para isso: enquanto “povo reunido na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo” (LG 4), constituído como “sacramento, ou sinal e instrumento, da íntima união com Deus e da unidade do gênero humano” (GL 1), a Igreja é mistério de comunhão que não se efetiva sem autêntica e efetiva participação.
E não adianta dizer que a Igreja não é democrática porque o poder vem de Deus e não do povo, como se o poder que vem de Deus não fosse conferido a todos os batizados pela unção do Espírito que confere a todos o “senso da fé” e faz de todos “sujeitos ativos da evangelização”. Essa visão clerical da Igreja, diz Francisco, “não só anula a personalidade dos cristãos, mas tende também a diminuir e a subestimar a graça batismal que o Espírito Santo pôs no coração do nosso povo”, esquecendo/negando que “a visibilidade e a sacramentalidade da Igreja pertencem a todo o povo de Deus e não só a poucos eleitos e iluminados”.
E aqui está um dos elementos mais decisivos e difíceis da conversão sinodal. Decisivo porque, como diz Francisco, “se falta uma participação real de todo o povo de Deus, os discursos sobre a comunhão arriscam-se a não passar de pias intensões”. Difíceis pela cultura clerical que cria e institucionaliza relações de dominação (clero ativo) e subordinação (laicato passivo), gerando uma imagem da Igreja “rigidamente dividida entre líderes e subordinados, entre os que ensinam e os que têm de aprender”.
Falar de participação na Igreja soa, para muitos ministros ordenados, como ameaça, como se a participação de todos negasse o ministério ordenado. Não há oposição entre sinodalidade eclesial e ministério pastoral. A sinodalidade diz respeito ao “caminhar juntos” de todo o povo de Deus na diversidade de seus carismas e ministérios, entre os quais está o ministério dos pastores. O conflito não é entre sinodalidade e ministério ordenado, como pensam ou insinuam alguns, mas com a forma clerical de seu exercício, na qual o ministro se comporta como “patrão da barraca” e não como “pastor de toda uma Igreja”.
IHU – Como promover uma cultura sinodal enquanto há um crescente autoritarismo no mundo?
Francisco de Aquino Júnior – Aqui está um elemento muito decisivo para compreender o clericalismo e a resistência à sinodalidade na Igreja. Não se deve esquecer que o clericalismo está profundamente vinculado às mais diversas formas de elitismo social. Também na sociedade há um imaginário elitista materializado em estruturas e instituições que produzem e reproduzem relações de dominação e subordinação.
E esses dinamismos de dominação/subordinação são muito mais cúmplices do que se pode imaginar. Se o clericalismo eclesial acrescenta ao elitismo social um verniz religioso, como se fosse algo divino/sagrado/intocável, o elitismo social constitui-se como um solo muito fecundo para o enraizamento e o desenvolvimento do clericalismo eclesial. Há, portanto, uma cumplicidade nas relações, nas estruturas e nos imaginários elitistas e clericais.
Mas o contrário também é verdadeiro: a participação social e a participação eclesial se alimentam e se enriquecem mutuamente. Os processos de participação social provocam e favorecem processos de participação eclesial e, vice e versa, os processos de participação eclesial provocam e favorecem processos de participação social. E, aqui, democracia política e sinodalidade eclesial se encontram e se alimentam mutuamente.
Se não se podem identificar sinodalidade e democracia, tampouco se pode opor uma coisa à outra. Não se pode dizer que a Igreja não é uma democracia para negar a participação de todos os batizados, porque isso iria contra a natureza mesma da Igreja, bem expressa no tema do Sínodo sobre a Sinodalidade: “comunhão, participação e missão”. Por outro lado, como recorda Francisco, “uma Igreja sinodal é como estandarte erguido entre as nações num mundo que, apesar de invocar participação, solidariedade e transparência na administração dos assuntos públicos, frequentemente entrega o destino de populações inteiras nas mãos gananciosas de grupos restritos de poder”.
Em todo caso, é importante atentar para o fato de que a resistência à participação ativa e efetiva de todos os batizados na Igreja é muito mais solidária com as várias formas de elitismo social do que pode parecer (solidariedade no pecado). É a cultura da submissão, da subserviência, do silêncio, do curral... que tem também sua versão eclesial...
IHU – Você participou do encontro nacional das Comunidades Eclesiais de Base em 2023. Qual sua avaliação sobre o evento e o que ele revelou sobre a incidência das CEBs na sociedade de nosso tempo?
Francisco de Aquino Júnior – Foram dias intensos de convivência fraterna, reflexão e oração sobre os desafios de nossa realidade e a missão de ser “Igreja em saída a serviço da vida plena para todos e todas”. Expressão viva de uma Igreja sinodal: povo de Deus, na diversidade de seus carismas e ministérios, em comunhão ecumênica, inter-religiosa e social, a serviço do Reino de Deus no mundo.
Um encontro como esses tem um impacto direto afetivo-espiritual muito forte para quem participa, mas tem também um impacto mais indireto no conjunto da Igreja e da sociedade, na medida em que reafirma e anima esse jeito de viver, celebrar e pensar a fé na Igreja e no conjunto da sociedade.
Certamente, esse jeito de ser Igreja das CEBs é cada vez mais marginal – e mesmo marginalizado – na Igreja. Nossas comunidades, em sua imensa maioria, estão reduzidas a culto (sacramentos e, sobretudo, devoções), catequese sacramental e dízimo, em prejuízo da vida comunitária e do compromisso com a transformação da sociedade. Uma Igreja cada vez mais sacramentalista e devocional, sufocada numa “pastoral de mera conservação” (Aparecida, 370). E isso não obstante a insistência da CNBB numa “conversão pastoral da paróquia” como “comunidade de comunidades” (Doc. 100) e na formação de “pequenas comunidades eclesiais missionárias” (DGAE 2019-2023) e toda a insistência do Papa Francisco numa conversão missionário-sinodal da Igreja.
Fato é que predominam, na Igreja hoje, uma mentalidade e um dinamismo eclesial que são autorreferenciais (voltados para si mesma) e clericais (centrados no clero). Isso explica, em boa medida, a resistência a esse jeito de ser Igreja das CEBs.
Por outro lado, um encontro como esse ajuda perceber a vitalidade, a força e a profecia deste jeito de ser Igreja presente no conjunto da Igreja e da sociedade. Somos minoria, mas estamos por toda parte: em todas as regiões, nos mais diversos espaços e serviços eclesiais, inseridos nos mais variados processos de transformação social.
Somos parte do que Dom Hélder chamava “minorias abraâmicas” – pessoas e grupos que “em todos os recantos da terra, dentro de todas as raças, todas as línguas, todas as religiões, todas as ideologias”, dedicam-se a “construir um mundo mais justo e mais humano”. A consciência de ser “minoria” não é sentimento de fracasso, mas aguça nossa vocação e missão de ser “fermento”, “sal” e “luz” do Evangelho na Igreja e no mundo.
O 15º Intereclesial das CEBs acontece no contexto do processo sinodal em curso na Igreja e em um contexto sociopolítico de reconstrução do país e de enfrentamento de uma extrema-direita neofascista. Ao mesmo tempo que fortalece o processo de conversão e reforma missionária (saída para as periferias) e sinodal (caminhar juntos do povo de Deus) na Igreja, ele reafirma a missão evangélica da Igreja de contribuir na construção de uma sociedade mais justa e fraterna a partir dos pobres e marginalizados e suas lutas por direitos.
Neste sentido, as CEBs têm um valor e um potencial proféticos na Igreja e na sociedade: seguimos na caminhada, nos passos de Jesus, na força do Espírito, em companhia dos profetas e mártires da caminhada, no serviço e na fidelidade aos pobres e marginalizados desse mundo que são, n’Ele, juízes e senhores de nossas vidas e comunidades.
IHU – O que você destaca como mais significativo na experiência das CEBs no passado?
Francisco de Aquino Júnior – As CEBs tiveram um papel decisivo no processo de renovação eclesial e de transformação social na América Latina. Nascem no contexto de renovação conciliar da Igreja como povo de Deus presente no mundo e a serviço da salvação do mundo. O “povo de Deus” se concretiza em comunidades, onde as pessoas se conhecem, meditam a Palavra de Deus, rezam juntas, partilham a vida e se colocam a serviço dos irmãos e da construção de uma nova sociedade (comunidade eclesial de base).
E a “missão salvífica” se concretiza de modo particular nos processos de libertação de todas as formas de dominação, a partir de uma “opção preferencial pelos pobres (salvação como libertação). Isso desencadeou um processo comunitário-libertador de vivência da fé e da missão evangelizadora da Igreja no mundo, com enormes consequências sociais: seja no sentido de favorecer e contribuir nos processos de organização popular, seja no sentido de contribuir com os pobres e marginalizados em suas lutas por direitos e dignidade e pela transformação da sociedade.
Não se pode falar das conquistas sociais no campo e na cidade, bem como do processo de redemocratização do país, sem a participação efetiva de setores e lideranças importantes da Igreja. Sem falar que, no contexto da ditadura militar, a Igreja era muitas vezes o único lugar onde as pessoas podiam se reunir e que muitos movimentos camponeses e urbanos têm sua origem nas comunidades eclesiais de base.
É verdade que às vezes se fez e se faz uma caricatura das CEBs, como se todas as comunidades e todos os seus membros atuassem em organizações populares e em partidos políticos. Mas isso não passa de uma caricatura que distorce sua realidade e compromete sua identidade eclesial. Nunca houve uniformidade nas CEBs. Nem no jeito de pensar, nem nos espaços de atuação, nem nas atividades desenvolvidas, nem nas formas de agir. Cada comunidade e cada região têm suas peculiaridades: seja pela dinâmica eclesial, seja pelos problemas que enfrenta; seja pelas características e pelas possibilidades (subjetivas, comunitárias, eclesiais e sociais) de atuação, seja pelos carismas e ministérios disponíveis; ou ainda pela dinâmica que vai tomando e pelo jeito que vai adquirindo.
Em sua enorme variedade, as CEBs são um jeito de ser Igreja caracterizado pela vida comunitária, pela centralidade da Palavra de Deus, pela oração, pelo serviço aos pobres e marginalizados, pelo compromisso com a transformação da sociedade, pela diversidade de carismas e ministérios, por uma liturgia que expressa bem o vínculo entre culto e vida. É esse conjunto que dá identidade e caracteriza as CEBs como um jeito de ser Igreja mais comunitário, mais bíblico, mais sensível à relação entre fé e vida, entre oração e ação e mais comprometido com os pobres e a justiça social.
IHU – De um lado, há quem diga que a sociedade se tornou mais urbana e a metodologia das CEBs não cabe mais. De outro, há quem defenda o fortalecimento das CEBs e seu protagonismo na Igreja no Brasil como em décadas passadas. Como analisa este cenário? Pensar as CEBs para o Brasil do século XXI passa essencialmente pelo quê?
Francisco de Aquino Júnior – A sociedade brasileira viveu, na segunda metade do século passado, um processo intenso de urbanização. De acordo com o Censo de 2010, 84% da população vive em ambiente urbano, sendo 56% em cidades com mais de 100 mil habitantes. Sem falar que o estilo de vida próprio da cidade (cultura urbana), sobretudo com a difusão das novas tecnologias de comunicação, alcança os rincões mais distantes e reconfigura profundamente a cultura camponesa em todos os seus aspectos. Somos uma sociedade urbana!
É verdade que a Igreja tem muita dificuldade de se urbanizar. Há décadas que se fala da necessidade e do desafio de uma pastoral urbana. Comblin foi pioneiro nesse tema. E as últimas Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil – DGAE confrontam-se precisamente com o problema da relação entre evangelização e cultura urbana.
Mas é interessante observar que foi exatamente com as CEBs, nas décadas de 1970 e 1980, que a Igreja começa a se enfrentar com os desafios urbanos e assumir um rosto urbano. É com as CEBs que a Igreja chega e se enraíza nas periferias das cidades e passa de uma “pastoral de mera conservação” (sacramental-devocional) para uma autêntica vivência eclesial (comunidades). E, como recordava Raquel Rolnik, arquiteta e urbanista da Universidade de São Paulo – USP, num encontro de assessores de CEBs sobre o mundo urbano, “as CEBs foram agentes importantes nas lutas por direitos humanos e pelo direito à cidade […] foram o berço que acolheu [os movimentos por direito] durante o período da ditadura civil militar”. De modo que, ao mesmo tempo que inauguram o processo de urbanização eclesial, têm um papel decisivo nas lutas pelo direito à cidade ou no processo de democratização da cidade.
Não deixa de ser curioso que as últimas DGAE, ao tratar do desafio da evangelização da cultura urbana, mesmo evitando falar de CEBs e falando de “comunidade eclesial missionária”, voltam a insistir na “pequena comunidade” como “casa da Palavra, do Pão e da Caridade e aberta à ação missionária”.
O contexto de desigualdade socioespacial, de violência pandêmica, de solidão e desespero que caracteriza nossas cidades provoca a Igreja a pensar e centrar-se naquilo que constitui o cerne de sua vocação e missão no mundo: ser comunidade de irmãos, lugar privilegiado de vivência e propagação da fraternidade como expressão por excelência da comunhão com Deus.
Ela deve ser, antes de tudo, lugar da fraternidade: lugar onde se aprende a viver como irmãos, a servir, a ser suporte uns para os outros, a perdoar, a amar até os inimigos, a fazer o bem até a quem faz o mal, a ser humilde, a ter compaixão com os caídos à beira do caminho e com a humanidade sofredora, a acolher, consolar e integrar os que são banidos da convivência social e eclesial e tratados como impuros e pecadores.
A partir dessa vivência comunitária da fraternidade, ela vai buscando/criando caminhos e meios de propagação da fraternidade no mundo: convivência fraterna com cristãos de outras Igrejas, crentes de outras religiões e não crentes; atenção às situações de sofrimento e injustiça social no bairro e na cidade; criação de ministérios e organismos de serviço aos idosos, doentes, encarcerados, enlutados, migrantes, população em situação de rua, vítimas do tráfico etc.; acolhida e consolo das pessoas em situações de sofrimento as mais diversas; apoio e colaboração com movimentos e organizações populares na luta pelos direitos dos pobres e marginalizados, entre outros.
Dessa forma, a Igreja se torna fermento/sal/luz de fraternidade na cidade e, assim, sinal e instrumento do reinado de Deus nesse mundo – verdadeiro Evangelho para a humanidade sofredora. Aqui está a perene atualidade das CEBs. Não se trata de idealizar e absolutizar o passado e criticar o presente. Importa atualizar crítica e criativamente esse jeito de ser Igreja no contexto eclesial e social em que estamos inseridos. E o segredo aqui está em focar no essencial da fé e da missão cristã que é a fraternidade, como bem explicitou e insistiu Francisco em sua carta encíclica Fratelli Tutti: “Todos irmãos”!!!
IHU – Qual a sua leitura sobre o avanço de certo conservadorismo na Igreja, tanto da parte de clérigos como de leigos que defendem uma ortodoxia arraigada em normas e leis, que critica uma teologia popular, as CEBs etc.?
Francisco de Aquino Júnior – Isso é tanto um fenômeno eclesial quanto um fenômeno sociocultural. Há fatores de ordem mais propriamente eclesial, profundamente vinculados aos movimentos de reação ao Concílio. E há fatores de ordem socioculturais mais amplos, ligados ao ressurgimento de movimentos e governos de extrema-direita.
Claro que esses fatores mais imediatos têm raízes históricas mais profundas e complexas que emergem com maior ou menor força e ganham características peculiares em diferentes contextos. Basta pensar na tensão permanente entre conservação e renovação que marca os processos sociais e eclesiais e, ligado a isso, nos setores e movimentos mais identificados com esses processos e em sua frequente instrumentalização político-ideológica. Mas voltemos aos fatores eclesiais e sociais mais imediatos do avanço atual do conservadorismo.
Do ponto de vista eclesial, ele está ligado ao movimento de reação ao processo de reforma conciliar da Igreja que se fortaleceu e se consolidou durante os pontificados de João Paulo II e de Bento XVI. Certamente, é preciso distinguir, nessa reação entre grupos que negam o Concílio, grupos que o tratam com muita reserva, mesmo sem uma negação explícita, grupos que reagem ao que consideram exageros e deturpação e os que buscam um enquadramento disciplinar pela autoridade eclesiástica.
Mas tudo isso contribuiu, a seu modo, para frear, sufocar e controlar o processo de renovação conciliar da Igreja e, não raras vezes, reprimir e condenar os setores e grupos mais envolvidos com esse processo. E fortaleceu os setores mais conservadores, tradicionalistas ou mesmo reacionários que, com respaldo e força institucional, foram ganhando força e dando outro rumo à Igreja: de uma Igreja em diálogo com o mundo à uma Igreja voltada para si mesma e em guerra com o mundo; de uma Igreja povo de Deus, com seus carismas e ministérios, à uma Igreja clerical; de uma pastoral evangelizadora à uma pastoral sacramentalista e devocional; de uma Igreja de comunidades à uma Igreja de movimentos; de uma fé/espiritualidade encarnada e libertadora à uma fé/espiritualidade alienada e alienante... Isso tudo foi consolidando e impondo um imaginário e dinamismo eclesiais muito distintos e, às vezes até contrários, ao imaginário e dinamismo eclesiais, desencadeados pelo Concílio.
Essa situação se agrava no contexto da onda de extrema-direita que tem marcado o cenário político internacional nas últimas décadas, mobilizando e articulando amplos setores da sociedade e se apropriando do aparato estatal para promover e difundir institucionalmente seus interesses e projetos políticos. Isso não é algo absolutamente novo, mas tem características muito peculiares, como demonstra Giuliano da Empoli, em seu instigante livro Engenheiros do caos.

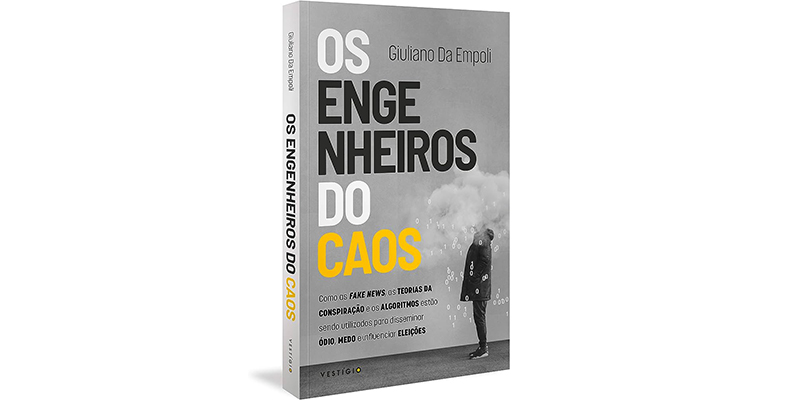
Engenheiros do caos, livro de Giuliano da Empoli (Vestígio, 2019)
Há, sem dúvida, um aspecto de “caráter técnico”, ligado às novas tecnologias de comunicação. Mas há também, e isso é decisivo, um aspecto que diz respeito ao “conteúdo”: “a indignação, o medo, o preconceito, o insulto, a polêmica racista ou de gênero se propagam nas telas e proporcionam muito mais atenção e engajamento que os debates enfadonhos da velha política” (p. 88). Sem as novas tecnologias de comunicação, os grupos de extrema-direita não teriam o alcance que têm. Mas sem a retórica do ódio e o espírito de guerra não teriam o poder mobilizador que têm. “Os engenheiros do caos compreenderam que a raiva era uma fonte de energia colossal e que era possível explorá-la para realizar qualquer objetivo, a partir do momento em que decifrassem os códigos e se dominasse a tecnologia” (p. 85).
Também o Papa Francisco, em sua encíclica Fratelli Tutti, adverte contra os “movimentos digitais de ódio e destruição” e sua “agressividade despudorada”; ele fala dos “enormes interesses econômicos” que estão em jogo no “mundo digital” e reconhece que eles são protagonizados também por “pessoas religiosas” e, inclusive, pelos “meios de comunicação católicos” (FT 43-46).
Tudo isso gera/promove um ambiente sociocultural de tendência conservadora e direitista que desperta, provoca e alimenta os mais diversos preconceitos sociais, aversão a direitos humanos, ódio e violência contra os diferentes que são transformados em inimigos a serem eliminados a qualquer preço.
Para se entender bem esse neoconservadorismo eclesial, é preciso ter em conta tanto esses fatores de ordem mais eclesial (movimentos de reação ao processo de renovação conciliar) quanto esses fatores de ordem mais sociocultural (movimentos e governos de extrema-direita). Acrescente-se a tudo isso o “fator Francisco” que representa, do ponto de vista eclesial, uma retomada do processo de renovação conciliar e um freio aos movimentos reacionários e tradicionalistas na Igreja.
E, do ponto de vista sociocultural, uma das principais, se não a principal, referências ético-espirituais no mundo atual em defesa e promoção dos direitos humanos, da “fraternidade e amizade social”, do “cuidado da casa comum”, representa uma ameaça ou, em todo caso, um obstáculo aos interesses, projetos e movimentos da extrema-direita. João Décio Passos, da PUC-SP, tem estudado bem esse neoconservadorismo na Igreja.
IHU – Que relação podemos estabelecer entre o avanço do conservadorismo na Igreja e do autoritarismo no mundo, especialmente no Brasil?
Francisco de Aquino Júnior – Eles estão muito mais implicados do que parece numa aliança maldita entre uma “necropolítica” e o que se poderia chamar, por analogia, de uma “necrorreligião”. O problema não é ter posições políticas e eclesiais mais conservadoras ou mais renovadoras. Isso faz parte da complexidade e pluralidade que constituem e caracterizam a sociedade e a Igreja. O problema é quando essas posições se transformam em mecanismos (socioculturais e institucionais) de negação de direitos humanos e promoção de violências, injustiças e desigualdades socioambientais. A política deixa de ser um mecanismo de promoção do bem comum, da justiça socioambiental e da paz social, e se transforma numa máquina de guerra e de morte.
A situação é ainda mais grave e escandalosa quando se manipula e se instrumentaliza a religião para justificar e promover uma mentalidade e uma política de morte. A religião, que é fonte de vida, de fraternidade, de solidariedade, de justiça e de paz, enfim, uma reserva ético-espiritual da humanidade, torna-se instrumento de preconceito, de ódio, de violência, de dominação, enfim, de morte, como temos visto no Brasil.
Isso apareceu com toda força em 2022, no contexto do processo eleitoral: líderes políticos apelando e manipulando o sentimento religioso da população em função de seus interesses e projeto políticos, e líderes religiosos tratando as igrejas como gado/rebanho e fazendo alianças com o que há de pior e mais antievangélico no mundo político. Basta recordar aqui a aliança no Congresso entre a chamada bancada do Boi (ruralistas), da Bala (militares) e da Bíblia (evangélicos e católicos de direita) contra a reforma agrária, os direitos humanos, as florestas, os povos florestais e em defesa do agronegócio, do armamento da população, da tortura e até de extermínio de pessoas. Chegamos ao extremo de exibirem uma arma gigante numa Marcha para Jesus em Vitória/ES (23/07) e do ex-presidente da República (que se diz cristão) afirmar que Jesus “não comprou pistola porque não tinha naquela época” (15/06) e defender num encontro do agronegócio: “Compre suas armas. Isso também está na bíblia” (10/08).
É escandaloso e blasfemo ver lideranças políticas e grupos que se apresentam como cristãos, que falam sempre em Deus e que apelam para linguagens e símbolos religiosos, defenderem tortura e torturadores, gritarem aos quatro cantos que “bandido bom é bandido morto”, terem aversão a direitos humanos, disseminarem preconceito e ódio contra pobres, mulheres, negros, pessoas LGBTQIA+ e nordestinos, promoverem o desmonte das políticas sociais que atendem a maioria do povo, bem como a destruição da floresta amazônica, patrocinarem o armamento da população, atentarem contra as instituições da sociedade e o processo eleitoral. Tudo isso mostra que o “deus” e a “fé” que justificam esses projetos não é o Deus de Jesus Cristo nem é a fé cristã. E explicam em que sentido falamos aqui de aliança maldita entre uma “necropolítica” e uma “necrorreligião”.
IHU – Como a Igreja pode voltar a influenciar positivamente numa cultura democrática participativa, em especial no Brasil, superando autoritarismos e polarizações?
Francisco de Aquino Júnior – Em primeiro lugar, voltando ao Evangelho de Jesus Cristo, que é um Evangelho de fraternidade, de justiça e de paz. Essa é a fonte e a força permanente da Igreja. A força da Igreja é a força do Evangelho de Jesus Cristo, do qual deve ser sinal e instrumento em todo tempo e lugar. A Igreja não é um partido nem tem um partido e, por isso, não lança nem tem candidato. Tampouco pode usar de qualquer meio ou estratégia para realizar sua missão no mundo.
É muito importante, sobretudo no contexto de uma sociedade plural como a nossa, não cair na tentação/ilusão de uma nova cristandade. Há lugar para as igrejas e para as religiões numa sociedade plural e secular, como há lugar para pessoas e grupos não vinculados a nenhuma tradição religiosa e com outros referenciais ético-humanitários. A fé religiosa tem um potencial humanizador enorme: seja pelo que tem de reserva ética, seja pelo que tem de escatológico, no sentido de alargar os horizontes da vida, até mesmo para além dos limites da morte...
O cristianismo levou isso às últimas consequências com a fé na ressurreição dos mortos a partir da ressurreição do Senhor. Nada nesse mundo tem a última palavra. Nem sequer a morte. Ao ditado popular “a esperança é a última que morre”, reage profética e poeticamente Pedro Casaldáliga: “se morrer, ressuscita”. Mas a fé não se impõe... É um dom que se oferece e se propõe. E sua força de convencimento e adesão não está na lógica de sua doutrina, nem muito menos em rubricismos litúrgicos e rigorismos morais que, como tem insistido Francisco, não passam de “mundanismo espiritual”. Está, sim, em seu poder de transformação e renovação da vida das pessoas e, através delas, da Igreja e da sociedade.
Em segundo lugar, esse voltar ao Evangelho de Jesus Cristo e deixar-se renovar e configurar por ele, leva-nos a viver em comunidade como irmãos e, constitui-nos como fermento e instrumento de fraternidade, como indicamos acima ao falar da atualidade das CEBs. Há, aqui, um elemento fundamental que diz respeito à natureza da fé cristã (fé comunitária) e sua forma de presença e atuação no mundo (através de comunidades).
Como bem indicam as Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, a comunidade é, ao mesmo tempo, “ambiente de vivência da fé e forma de presença da Igreja na sociedade” (DGAE 144); é “o estilo de vida cristã que desejamos incansavelmente realizar” e “testemunho do Evangelho encarnado na história, encrava nas realidades, comprometido com as dores e as lutas [do nosso povo]” que é, em última instância, “expressão de uma realidade nova: o Reino de Deus” (DGAE 125).
Como lugar de vivência e propagação do Evangelho do reinado de Deus, a comunidade (que não se identifica com a cidade nem com o bairro ou uma comunidade rural!) é, portanto, ao mesmo tempo, concretização da Igreja e forma de presença e atuação no mundo.
Assim como as CEBs tiveram um papel decisivo no processo de redemocratização do país e das lutas por direitos no campo e na cidade, sobretudo nas décadas de 1970 e 1980, as comunidades cristãs hoje (mesmo quando não se nomeiam como CEBs), se não se reduzirem a comunidade de culto (sacramentos, devoções), dízimo e disputa de fiéis, comprometendo sua identidade (vida fraterna) e sua missão no mundo (fermento de fraternidade e justiça social), devem se constituir como fermento/sal/luz do amor de Deus que nos faz viver como irmãos e lutar por um mundo mais justo e fraterno.
A contribuição positiva da Igreja na construção de uma “cultura democrática participativa”, superando “autoritarismo e polarizações”, passa, portanto, por uma volta a Jesus Cristo e seu Evangelho e pelo cultivo e difusão de autênticas comunidades cristãs que sejam fermento de fraternidade, reconciliação, consolo, justiça, paz e esperança no mundo.
IHU – Deseja acrescentar algo?
Francisco de Aquino Júnior – Simplesmente insistir em nossa responsabilidade na construção de uma sociedade mais justa e fraterna que é sinal – limitado e ambíguo, mas real e efetivo – do reinado de Deus nesse mundo. E recordar que os pobres e marginalizados desse mundo são sempre o critério e a medida de nossa fé e de nossa missão no mundo. Não são apenas um critério ético da ordem democrática e do grau de humanidade e justiça de uma sociedade. São, também e mais radicalmente, a condição para “herdar a vida eterna” (Lc 10, 25-37). E são, no Juiz e Senhor, juízes e senhores e nossas vidas, igrejas e sociedades (Mt 25,31-46).