Refletindo sobre o caso de Bento Gonçalves, sociólogo diz que precisamos rever o que achamos que sabemos sobre a sociedade contemporânea brasileira para então compreender os movimentos do capital que converte sujeitos em escravos
O caso dos cerca de 200 trabalhadores resgatados da situação de praticamente escravidão, em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, tem sido tipificado como escravização contemporânea. Mas do que se trata? Para o sociólogo José de Souza Martins, não há diferenças efetivas com o trabalho escravo como conhecemos. “Antes mesmo que fosse assinada a Lei Áurea, trabalhadores livres e pobres originários justamente do Nordeste, em grande quantidade, eram empregados em atividades complementares da escravidão”, recorda. “Essas relações no capitalismo brasileiro são uma mixagem que o diferencia de um capitalismo baseado em relações juridicamente igualitárias e propriamente salariais, isto é, capitalistas”, completa, em entrevista concedida por e-mail ao Instituto Humanitas Unisinos – IHU.
Por isso, analisando o recente caso gaúcho e outros, considera que “a ‘escravidão contemporânea’ vem sendo ampliada em atividades laborais temporárias como as de colheita de frutas, reflorestamento, confecção de roupas. Na verdade, isso já acontece no Brasil há mais de um século”. Essa ampliação relaciona-se diretamente com movimentos de um capitalismo que se move para engendrar-se na sociedade de nosso tempo. “O que estamos chamando de escravidão é o novo modelo de relacionamento laboral de um capitalismo poderoso e estruturado, redefinido. Num mundo em que o trabalho está sendo sistematicamente desvalorizado, econômica, social e moralmente”, define. E, evidentemente, a terceirização é hoje uma via para isso. “A terceirização não é simplesmente uma porta que se abre à escravização, mas uma porta que a institucionaliza”, dispara.
Ainda segundo Martins, tão importante quanto libertar pessoas em situação de escravidão, é compreender como muitas vezes estes sujeitos se colocam em tais situações sem entender que se trata de trabalho escravo. “A escravidão, atual no Brasil, tem variações significativas de uma situação para outra. O que as torna convergentes é a vulnerabilidade da vítima. Não só a pobreza, mas também o engano de supor que o trabalho, que só se revelará cativo no correr dos fatos, é uma porta de acesso ao mundo novo da superação da pobreza. A sociedade de consumo é um fantasma por trás de toda essa situação”, reflete.
Na concepção do sociólogo, isso tudo requer a superação de uma visão de certezas por parte da militância, pois eles “tendem a fechar os olhos para tudo que contrarie a euforia do espetáculo em que se converteu o combate à escravidão e do qual se tornaram atores. (…) Isso nos põe diante das dificuldades de uma militância em favor do fim da escravidão que reflete mais a consciência alienada do militante, geralmente de classe média, do que a consciência que de sua situação tem o escravo”, tensiona.
Caminhos para uma saída? Martins tem alguns: “precisamos rever criticamente o que achamos que sabemos sobre a sociedade contemporânea e sobre a sociedade brasileira em particular. Fazer a severa autocrítica que nos permita ver o que até agora não vimos nem quisemos ver. Jogar no lixo os manuais de vulgarização do pensamento de esquerda. Temos que pensar com nossa própria cabeça, como sujeitos de consciência social compartilhada”.
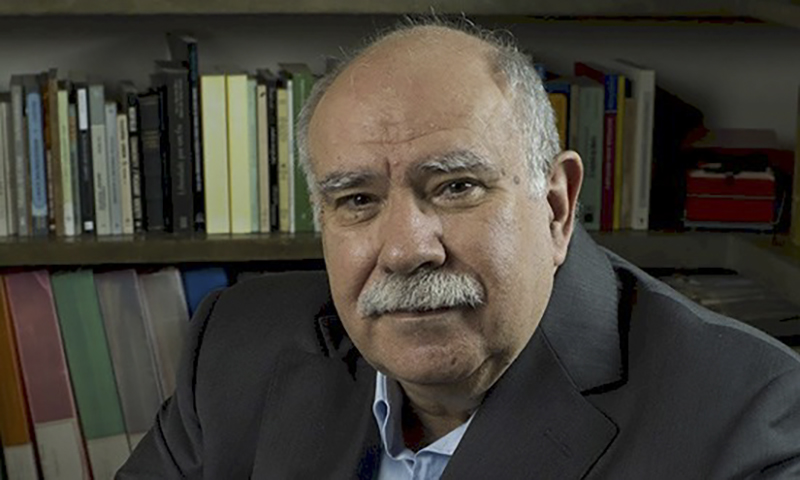
José de Souza Martins (Foto: Unesp)
José de Souza Martins é graduado em Ciências Sociais, mestre e doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo – USP. Foi professor visitante da Universidade da Flórida e da Universidade de Lisboa e membro da Junta de Curadores do Fundo Voluntário da ONU contra as Formas Contemporâneas de Escravidão, de 1998 a 2007. Foi professor da Cátedra Simón Bolívar, da Universidade de Cambridge (1993-1994). É professor titular aposentado da USP. Entre os livros recentemente publicados, destacamos: O cativeiro da terra (Contexto, 2010), Sociologia do desconhecimento: ensaios sobre a incerteza do instante” (Unesp, 2021), Fronteira: A degradação do outro nos confins do humano (2022), A política do Brasil lúmpen e místico (2021) e As duas mortes de Francisca Júlia: A Semana antes da Semana (2022).
A entrevista foi originalmente publicada em 03-03-2023 pelo Instituto Humanitas Unisinos – IHU.
IHU – Foram resgatadas mais de 200 pessoas que trabalhavam em condições análogas à escravidão em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. O que essa manchete diz ao senhor em pleno Brasil de 2023?
José de Souza Martins – Essa manchete não me diz absolutamente nada de novo, que já não se saiba e que já não venha se repetindo há muitas décadas. Talvez me diga, apenas, que formas degradadas de relações de trabalho enraizaram-se no Brasil e que, portanto, essas relações no capitalismo brasileiro são uma mixagem que o diferencia de um capitalismo baseado em relações juridicamente igualitárias e propriamente salariais, isto é, capitalistas.
Um problema para caracterizar essas formas de trabalho como escravidão é que nem sempre o são. No mundo inteiro, a crescente fragilização política dos trabalhadores e a ilegalidade de sua situação têm facilitado a sobrexploração do trabalho. Isto é, a remuneração de seu trabalho por menos do que vale e do que carecem para sobreviver e sustentar a família. Não raro, a taxa de exploração é ampliada, como no caso agora do Sul, e chega-se, então, a níveis que podem ser definidos como de escravidão.
IHU – Nesse caso da Serra Gaúcha, há alguns elementos que chamam atenção. Um deles é ter localizado esses trabalhadores em uma das regiões tidas como mais prósperas do Brasil e, ainda, o fato de terem sido recrutados em regiões muito pobres da Bahia. O que podemos inferir a partir desses marcadores sociais, e até de certos estigmas, acerca desse caso, dessas duas regiões e populações de um mesmo Brasil?
José de Souza Martins – Historicamente, a força de trabalho, na sociedade capitalista, é uma mercadoria e a mercadoria numa sociedade assim vai para as regiões que carecem de mão de obra, onde há mercado de trabalho. Na Europa, nas colheitas de frutas e, também, na colheita de uva, emprega-se mão de obra migrante, porém sob regras legais que não estão sendo cumpridas aqui. No caso brasileiro, como mostra a ocorrência do Rio Grande do Sul, é o Brasil pobre que sustenta o Brasil rico e não o contrário.
O que escandaliza, porém, é que a consciência local e regional dessa injustiça atribua à própria vítima a culpa por ela, como se viu na manifestação de uma entidade empresarial e de um vereador de Caxias do Sul. O Bolsa Família estaria desinteressando os pobres do Sul pela oferta regional de trabalho, o que obriga as empresas que de trabalhadores carecem para colher a uva a buscá-los na Bahia.
?? Vereador de Caxias do Sul, Sandro Fantinel (Patriota), defende trabalho análogo à escravidão em declaração preconceituosa sobre baianos: "a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor".pic.twitter.com/CiDbyac81s
— Eixo Político (@eixopolitico) February 28, 2023
Ou seja, nessa mentalidade, são escravos porque são baianos. Se fossem gaúchos não seriam. Aí aparece um dos aspectos mais cruéis da escravidão moderna entre nós: preconceito, desconsideração e desrespeito pelos direitos sociais da vítima e por sua condição humana. Não só por parte de quem se beneficia de seu trabalho, mas dos que, empresários e políticos, estão moralmente obrigados a zelar para que valha também para as vítimas o direito que vale para os demais.
IHU – Na resposta a esse caso, vinícolas de grande nome diziam não saber dessas condições de trabalho, promovidas por empresas terceirizadas. Qual a responsabilidade das indústrias e grandes marcas nessa realidade que se constitui como uma “escravidão com etiqueta”?
José de Souza Martins – A terceirização foi adotada na década de 1980, quando a ocorrência de trabalho escravo, sobretudo na abertura de novas fazendas na região amazônica, começou a repercutir internacionalmente como violação de tratados, dos quais o Brasil é signatário desde 1926, relativos ao trabalho livre. Foi estimulada para criar um álibi para as empresas acusadas de praticar escravidão. Com isso, elas se livraram da repressão e das punições respectivas já contidas na legislação brasileira.
O último parágrafo desta nota, sem o verniz hipócrita das notas oficiais, diz o seguinte: A falta de mão de obra fez com que escravizassem, pois os pobres vivem de Bolsa Família e poderiam estar trabalhando pra nós.
— ElianA Alves Cruz (@cruz_elianalves) February 28, 2023
Não encontro palavras. pic.twitter.com/lGvnu19h27
Diferentemente do que imaginam os que têm suposições a respeito da escravidão atual, não se trata sempre de trabalho bruto, como o da derrubada da mata, na Amazônia dos anos 1970, feito por gente tosca. E que, por isso, não merece que se lhe pague o que vale seu trabalho, contido no produto final que dele resulta.
A colheita de uva não é feita por qualquer um em lugar nenhum do mundo. É um trabalho delicado que pede grande cuidado por parte de quem corta os cachos e os deposita no recipiente para o seu transporte aos lugares de processamento. Há nisso um saber milenar e um cuidado de fato artístico, da era em que trabalho e arte não se separavam e em que o sagrado tampouco estava ausente de um trabalho altamente simbólico como este. Convém lembrar a função litúrgica do vinho.
Não por acaso, nos lugares tradicionais da colheita da uva para fabricação do vinho, é ela praticada com ritos festivos, de que os próprios donos da plantação participam com toda a solenidade da tradição.
Só pode ser trabalho “com etiqueta” o trabalho livre. Nunca o trabalho escravo. O trabalho escravo flagrado no Rio Grande do Sul não é, pois, propriamente de “escravidão com etiqueta”, mas de escravidão sem etiqueta. A etiqueta vencida pelo afã de lucro em conflito com o que deve ser o trabalho livre.
As uvas usadas na produção do vinho que delas resulta estão maculadas pela violação de uma tradição sagrada da vinicultura. Os gaúchos da região sabem disso perfeitamente bem, mesmo os arrogantes e preconceituosos que põem a “culpa” da escravidão na vítima, como aconteceu em pronunciamentos descabidos destes dias.
O caso internacional mais clamoroso de uso da escravidão na produção de artigos de luxo foi, até recentemente, o dos tapetes finos na Índia, vendidos como joias por altíssimo preço na Europa e nos EUA. Tapetes feitos por crianças escravizadas, frequentemente vendidas pelos pais aos produtores para pagamento de dívidas que contraíram no trabalho, dívidas que passam de pai para filhos. Um artesanato de preciosidades porque só as mãos delicadas de crianças podem tecê-las.
IHU – Durante muito tempo, a historiografia dizia que não houve escravização de negros no Rio Grande do Sul. Porém, pesquisas atuais têm provado que isso é uma grande falácia e que a escravização no Brasil colonial e imperial foi duríssima no sul do país. O que revela esta ideia de que não houve escravidão no Sul?
Jose de Souza Martins – Essa suposição é bem estranha. Aliás, as pesquisas que negam semelhante suposição não são “mais atuais”, isto é, mais recentes. O melhor e mais bem feito estudo histórico-sociológico sobre a escravidão negra no Brasil tem como referência justamente o Rio Grande do Sul. Refiro-me a “Capitalismo e escravidão no Brasil meridional”, de Fernando Henrique Cardoso, orientando e assistente de Florestan Fernandes, do início dos anos 1960, baseado em pesquisa histórica feita em Pelotas.

Livro de Fernando Henrique Cardoso, a 4ª edição (Paz e Terra, 2015) | Imagem: divulgação
Foi a primeira vez que se utilizou de maneira correta e muito competente o método dialético na sociologia brasileira. É um estudo inovador, que abriu importantes caminhos para a renovação dos estudos sociológicos entre nós com a utilização desse método.
Presenciei, num seminário realizado no México, promovido pela Universidade Nacional Autônoma do México – UNAM, uma conferência de Cardoso sobre esse livro, a que esteve presente o grande historiador francês Pierre Vilar, que ficou boquiaberto. E reagiu admirado dizendo que aquele livro tinha que ser publicado logo. Fernando Henrique explicou-lhe que o livro já estava publicado há muito. Pelo visto já era um livro desconhecido no próprio Rio Grande do Sul.
IHU – O recente caso na Serra Gaúcha chama atenção pelo número de trabalhadores e pelas terríveis condições em que viviam. Mas, infelizmente, casos como esse não são novidade em trabalhos agrícolas. A submissão de trabalhadores a situações análogas à escravidão no Brasil rural ainda é uma realidade?
José de Souza Martins – Não se trata de “ainda é uma realidade”. Mas de “já e há muito é uma realidade”. A “escravidão contemporânea” vem sendo ampliada em atividades laborais temporárias, como as de colheita de frutas, reflorestamento, confecção de roupas. Na verdade, isso já acontece no Brasil há mais de um século. Antes mesmo que fosse assinada a Lei Áurea, trabalhadores livres e pobres originários justamente do Nordeste, em grande quantidade, eram empregados em atividades complementares da escravidão. Sobretudo em trabalhos pesados e perigosos, nos quais era necessário poupar o escravo negro, cada vez mais caro, dados os riscos que o trabalho envolvia.
IHU – O senhor foi membro da Junta de Curadores do Fundo Voluntário da ONU contra as Formas Contemporâneas de Escravidão. O que, na época, caracterizava as formas contemporâneas de escravidão e quais são, hoje, as formas mais comuns?
José de Souza Martins – A situação internacional do trabalho não mudou. Fui membro da Junta durante 12 anos e acompanhei bem o que em relação a isso estava acontecendo no mundo. Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho, há hoje no mundo cerca de 50 milhões de pessoas submetidas a alguma forma de escravidão. Desse número, 22% é de mulheres escravizadas pelo casamento forçado. Na China e no Sri Lanka, os pais vendem as filhas, já na adolescência, como esposas. Na verdade, como escravas sexuais e, também, como escravas produtivas. A situação varia muito.
Meu último ato, em 12 anos na ONU, foi o de encaminhar e apresentar aos embaixadores na Assembleia de Direitos Humanos o caso de uma mulher do Niger, quinta esposa de um muçulmano. No islamismo, o homem pode ter quatro esposas legítimas. A quinta, se houver, é reconhecida como escrava. Aquela mulher fora beneficiada por uma decisão da Suprema Corte de seu país que a libertou e lhe reconheceu o direito a uma indenização em dinheiro. Uma indenização ridícula. Através de uma ONG, que se queixou por ela, o caso foi à ONU, à qual compareceu pessoalmente e foi atendida pela Junta. Pleiteava cinco vacas, com as quais poderia sobreviver, o que a ONU, através de uma instituição suíça, providenciou.
As outras 28% dos 50 milhões são pessoas submetidas a trabalho forçado. Estão concentradas sobretudo na Ásia, empregadas em atividades produtivas. Não só na agricultura.
A escravidão tem se revelado um empreendimento lucrativo e florescente. Em 2005, a escravidão movimentava 32 bilhões de dólares. Em 2013, os lucros da escravidão haviam saltado para 150 bilhões de dólares. Em face do crescimento do número de escravos desde então, pode-se presumir que esses ganhos tiveram um incremento ainda maior. Escravizar seres humanos, geralmente frágeis e desvalidos, em situação de gravíssima vulnerabilidade, e traficá-los tornou-se um negócio altamente lucrativo porque depende de poucos investimentos materiais e porque a miséria do mundo vem incrementando a oferta de vítimas no mercado da iniquidade.
Ainda no período em que me encontrava na ONU, apareceram dois casos de escravidão na Inglaterra e casos também nos EUA. A Inglaterra foi o país pioneiro no combate à escravidão, através da Antislavery Society, que ainda existe, de que Joaquim Nabuco, nosso embaixador naquele país, foi ativista ainda durante nossa escravidão.
Os dois casos ingleses envolviam migrantes clandestinos chineses e gregos, introduzidos no país por traficantes dessas nacionalidades. Os chineses eram empregados na coleta de mariscos numa praia propícia, à noite. Faziam-no durante a maré baixa. A área dessa coleta ficava longe da margem, onde a maré subia muito rapidamente, dificultando o retorno rápido dos trabalhadores à terra firme. Foi com o afogamento de vários que o problema chegou ao conhecimento das autoridades. Eles recebiam em pagamento unicamente uma garrafa de água, um pão e uma lata de comida para cachorro. O que faltava era para pagamento do transporte e da introdução clandestina no país.
O grupo dos gregos trabalhava na Cornualha no corte e colheita de flores, também para pagamento do ingresso clandestino na Inglaterra.
IHU – O senhor tocou brevemente num ponto que gostaria de recuperar: a terceirização do trabalho pode ser vista como uma porta que se abre à escravização contemporânea?
José de Souza Martins – A terceirização não é simplesmente uma porta que se abre à escravização, mas uma porta que a institucionaliza. Uma solução jurídica que acoberta e protege os beneficiários da escravidão no Brasil, como neste caso do Rio Grande do Sul. A escravidão tornou-se um negócio lucrativo, aparentemente legal, destinado a racionalizar o recrutamento e o emprego de trabalhadores em certas atividades.
Uma das vinícolas que contrataram terceirizadas envolvidas na prática de escravidão soltou uma nota com a informação de que pagava R$ 6.500,00 mensais, por trabalhador, à empresa que o recrutara. Esse recurso cria um capitalismo paralelo ao capitalismo dominante baseado na técnica da redução dos custos com base na intensificação da exploração do elo frágil da produção, o trabalhador. Por esse dado, o lucro dessas empresas de tráfico de pessoas é um lucro brutal, imenso. Sendo trabalho temporário, ilegal e sem estabilidade, fragiliza ainda mais o trabalhador e o deixa completamente à mercê de um ente invisível que não tem a menor responsabilidade pela injustiça que sofre.
ATENÇÃO: Prefeitura de Bento Gonçalves-RS identifica em alojamento 25 trabalhadores baianos em situação característica de análoga ao trabalho escravo. Eles trabalham desde dezembro em vinícolas na região sem o recebimento de salário. Com isso, número de vítimas passa de 230. pic.twitter.com/XYD1zV68td
— Renato Souza (@reporterenato) March 2, 2023
IHU – O senhor está trabalhando em um livro sobre o problema da escravidão atual no Brasil. Que escravidão é essa e qual sua relação com a escravização que o senhor abordou em trabalhos anteriores?
José de Souza Martins – Trata-se da mesma escravidão. Não houve nenhuma mudança entre as práticas de escravidão dos anos 1970 e as de agora. O campo de aplicação se ampliou e se diversificou. Mas a lógica é a mesma.
Neste meu novo livro, desenvolvo e proponho uma teoria da escravidão atual, a chamada “escravidão contemporânea”. Nele, sugiro uma compreensão sociológica revisora, antagônica e crítica em relação às interpretações difundidas e praticadas pela maioria dos militantes e pelas agências de combate à escravidão, mesmo as religiosas.
IHU – Quem, hoje no Brasil, é escravizado? Quem escraviza? Por que ainda se sustentam essas relações?
José de Souza Martins – O escravizado é, hoje, no Brasil geralmente do sexo masculino e jovem, cuja permanência na casa da família durante a entressafra agrícola da agricultura familiar representa um peso porque é período de escassez. Em geral, o aliciamento ocorre por meio de engodo, de promessas mirabolantes e de ocultamento dos mecanismos de endividamento.
É também a pessoa que, na escravidão temporária, julga que amealhará recursos para um ensaio de ingresso modesto na sociedade de consumo e de bens supérfluos. É uma forma cruel de ingressar nas promessas do capitalismo através das armadilhas de uma porta anticapitalista.
Essas relações anômalas se sustentam porque elas são constitutivas do capitalismo que temos, um capitalismo baseado em pressupostos de economia neoliberal, que depende da negação da liberdade para se firmar. Essa é uma contradição fundante de um capitalismo sem futuro. O nosso.
IHU – No que consiste a peonagem, conceito presente em seus trabalhos, e como ela se transforma em escravidão por dívida?
José de Souza Martins – A peonagem é palavra que vem da palavra “peão”, que herdamos da metrópole. Os documentos do século XVII a mencionam para significar a diferença social e estamental entre os “limpos de sangue”, a gente de qualidade, os nobres, cavaleiros, que não andavam sobre os próprios pés, que eram carregados, ou andavam calçados, e os que andavam descalços, pisando sobre os próprios pés, brancos ou não: os peões.
Peões eram pessoas ínfimas. Quando se davam esmolas nos séculos XVII e XVIII, o valor era definido por essa diferença. Com base na documentação em pesquisa que fiz em arquivos de ordens religiosas, aqui e em Portugal, foi possível constar que havia um valor fixo da diferença: um nobre pobre valia até 36 vezes um pobre sem qualidade, um peão.
A apresentação pessoal dizia quanto valia socialmente uma pessoa. Ser um descalço dizia muito. Definia um destino. A persistência da palavra peão na definição das vítimas da escravidão por dívida é significativa indicação de que o peão é menos do que uma pessoa. É alguém cuja designação indica que suas necessidades não são definidas por aquilo de que carece, mas por um estigma de nascimento.
IHU – Ainda entre seus projetos de pesquisas atuais, estão análises nos arquivos de fazendas da Ordem de São Bento na antiga vila e cidade de São Paulo. O que essas pesquisas nas terras beneditinas têm revelado sobre a escravização e organização do trabalho?
José de Souza Martins – Minhas pesquisas nos arquivos beneditinos foram feitas em São Paulo, Bahia, Pernambuco e Portugal. A escravidão, na Ordem de São Bento, distinguia-se significativamente da escravidão em geral. Os monges eram monges filósofos, intelectuais. Eles criaram o modelo da abolição progressiva da escravidão no Brasil. No dia seguinte ao da Lei do Ventre Livre, em 1871, aboliram a escravidão nos mosteiros e fazendas, 17 anos antes da Lei Áurea, sem exigir do governo qualquer compensação pelo enorme prejuízo que tiveram.
Além disso, já no correr do século XVIII, há em seus documentos indicações de que a escravidão, em suas fazendas, não se fundava no nascimento, não era de fundamento racial, mas na condição social. Um dos casos que analisei foi o de um índio administrado que era também feitor dos escravos e arrendatário de um pedaço de terra de uma das fazendas. Criou com o abade um caso para recebimento do valor de uma partida de farinha de mandioca que lhe vendera. Isto suscitou um debate no mosteiro a que estava vinculado para saber se tinha que ser pago ou não.
Um terço da pessoa do índio era livre, igual e pessoa de direito. Fora quem produzira a farinha e, portanto, devia ser pago: era dono dessa parte de sua pessoa e era dono de seu trabalho.
IHU – Qual foi o papel do colonato, na história agrária do Brasil, para o rompimento das relações de trabalho escravo? Em que medida a absorção da pequena propriedade rural pelo latifúndio e as lógicas do agronegócio contribuem para a “invenção” de novas formas de escravização?
José de Souza Martins – Estudei esse tema no meu livro O cativeiro da terra (Contexto, 2010). O Brasil não evoluiu da escravidão para o trabalho livre e assalariado, mas para uma combinação de relações laborais. Só a colheita do café, que foi a referência, se fez mediante pagamento em dinheiro, portanto de modo propriamente salarial. A permissão de cultivo próprio de alimentos em terras da fazenda configurou uma situação de arrendamento da terra para pagamento em trabalho, ou seja, de colono inquilino do fazendeiro, o inverso da situação de um empregado.
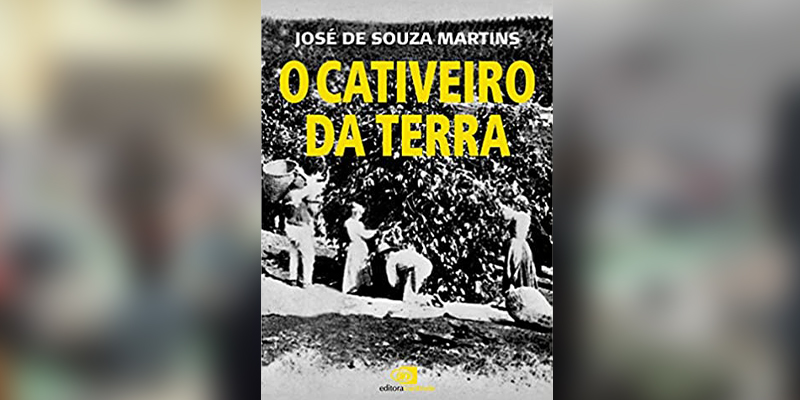
Em O cativeiro da terra, Martins reflete sobre o colonato | Foto: divulgação
No trato do cafezal, o colono empenhava o trabalho gratuito de sua família. Se houvesse necessidade de catadores adicionais para a colheita, a responsabilidade pelo pagamento do salário era do colono, responsabilidade de patrão. O fazendeiro fazia o pagamento, mas debitava-o da conta do colono. Além disso, havia as tarefas gratuitas, como a de fazer cercas, apagar incêndios. Uma relação laboral livre, mas complexa, não reduzida ao propriamente salarial e não raro confundida com o patronal.
A pequena propriedade não foi absorvida pelo latifúndio. A pequena agricultura, e não propriedade, que foi incorporada ao latifúndio, como na agricultura canavieira do Nordeste ou nas fazendas de café de São Paulo, não era praticada em terras de propriedade do pequeno agricultor. Só no Nordeste, já na ditadura militar, o governo reconheceu o direito de enfiteuse dos moradores das fazendas de cana da região sobre as terras de sua roça, o chamado sítio. O que tampouco configura direito de propriedade.
Os territórios de recrutamento de trabalhadores que eventualmente caem na situação de escravos são muito distantes dos lugares em que a escravização acontece. Essa é uma tática para torná-los mais vulneráveis: o desamparo pela distância em relação à comunidade e à família de origem.
IHU – Se no campo vemos situação de trabalho análoga à escravidão, na cidade não é diferente, pois temos notícias de fábricas clandestinas mantêm pessoas em verdadeiras prisões. O que há de semelhança e de diferença entre essa escravização rural e a urbana contemporânea, especialmente na produção de grandes grifes?
José de Souza Martins – A escravidão, atual no Brasil, tem variações significativas de uma situação para outra. O que as torna convergentes é a vulnerabilidade da vítima. Não só a pobreza, mas também o engano de supor que o trabalho, que só se revelará cativo no correr dos fatos, é uma porta de acesso ao mundo novo da superação da pobreza. A sociedade de consumo é um fantasma por trás de toda essa situação.
A semelhança básica dessas situações está na cumplicidade da vítima. Os aliciadores, traficantes, beneficiários do trabalho escravo usam o desvalimento decorrente das diferenças culturais entre a vítima e quem o explora, como instrumento de dominação. Há um biculturalismo que separa as pessoas num país como o Brasil, que torna vulneráveis as que vem dos setores atrasados da sociedade, que atribuem às palavras o sentido que elas não têm.
IHU – Se há ainda situações análogas à escravidão no campo e na indústria, há também dentro de casa, pois vemos trabalhadores domésticos sendo resgatados dessas condições. Como o senhor analisa essa relação entre escravização e o trabalho doméstico?
José de Souza Martins – A granel, casos de servidão doméstica estão nos jornais quase todos os dias. A é vítima tratada como agregada e membro da família, que trabalha sem salário nem direitos, como se explorá-la fosse um favor e o trabalho um pagamento justo desse favor, a comida e a moradia embaixo da escada, como se diz. A justiça, quando acionada, tem agido, processado e condenado os responsáveis. A diferença, nesses casos, é que as vítimas estão em cativeiro quase sempre porque foram abandonadas pela própria família de origem.
Faz apenas uma semana que o Ministério do Trabalho e Emprego concluiu que uma idosa desaparecida desde 1979 (!) estava em condição análoga a escravidão num hotel em Garibaldi.
— Matheus Gomes (@matheuspggomes) February 26, 2023
Para o patrão, ela era “da família”, como na época da Casa-grande colonial…https://t.co/rnxLqRhzC2
Como também acontece na escravidão rural, a vítima não se reconhece como escrava, sobretudo porque sem aquele trabalho ela cai no desemparo. É mais comum do que se pensa que o trabalhador libertado pelos fiscais do trabalho retorne à fazenda de onde saíra e espontaneamente se submeta ao cativeiro novamente. Ou, no caso das domésticas, que não sabem o que fazer quando libertadas.
Isso nos põe diante das dificuldades de uma militância em favor do fim da escravidão que reflete mais a consciência alienada do militante, geralmente de classe média, do que a consciência que de sua situação tem o escravo. A consequência pode ser dor, sofrimento e desamparo. Não tenho visto análises nem debates sobre esse complicado problema. Os militantes tendem a fechar os olhos para tudo que contrarie a euforia do espetáculo em que se converteu o combate à escravidão e do qual se tornaram atores.
IHU – É possível efetivamente erradicar a escravização hoje sem a superação do capitalismo?
José de Souza Martins – A superação do capitalismo é uma questão muito complicada. Ela depende do surgimento do que Henri Lefebvre e Ágnes Heller, por vias separadas, definiram como situações de necessidades radicais. As que só podem ser superadas em decorrência de transformações sociais revolucionárias, isto é, profundas.
O mundo, não só a sociedade capitalista, está cada vez mais distante de condições que engendrem essas necessidades causadoras de transformações. Ouvi, da própria Ágnes Heller, numa conferência na PUC, aqui em São Paulo, que já não existem necessidades radicais.
Tenho tratado desse tema em outra e divergente perspectiva e o fiz no meu livro recente intitulado Sociologia do desconhecimento: ensaios sobre a incerteza do instante” (Unesp, 2021). No caso brasileiro, a dificuldade é diferente e maior porque nossa alienação social é peculiar, nossa visão de mundo crônica é do avesso. Esse é um fato histórico e antropológico.

Em Sociologia do desconhecimento (Unesp, 2021), Martins aborda o fato de não mais existirem necessidades radicais | Foto: Divulgação
IHU – Que caminhos devemos construir para erradicar a escravização no Brasil de hoje?
José de Souza Martins – O que estamos chamando de escravidão é o novo modelo de relacionamento laboral de um capitalismo poderoso e estruturado, redefinido. Num mundo em que o trabalho está sendo sistematicamente desvalorizado, econômica, social e moralmente.
Temos que compreender o que são hoje as contradições do capital e quais as possibilidades históricas que delas decorrem. O possível, qual é nosso possível hoje? Que práxis transformadora temos condições de desenvolver a partir dessas constatações?
Precisamos rever criticamente o que achamos que sabemos sobre a sociedade contemporânea e sobre a sociedade brasileira em particular. Fazer a severa autocrítica que nos permita ver o que até agora não vimos e nem quisemos ver. Jogar no lixo os manuais de vulgarização do pensamento de esquerda. Temos que pensar com nossa própria cabeça, como sujeitos de consciência social compartilhada. É o que Florestan Fernandes definia como consciência científica da realidade social.
Ler cuidadosamente os autores que, cacoete ideológico, satanizamos em nome do nosso voluntarismo desinformado e de nosso senso comum pobre e intolerante, pequeno burguês e reacionário. Começar de novo a repensar o capitalismo com instrumentos novos. Reconhecer os erros e insuficiências que bloqueiam nossa compreensão do mundo. Se não nos libertarmos, não libertaremos ninguém.