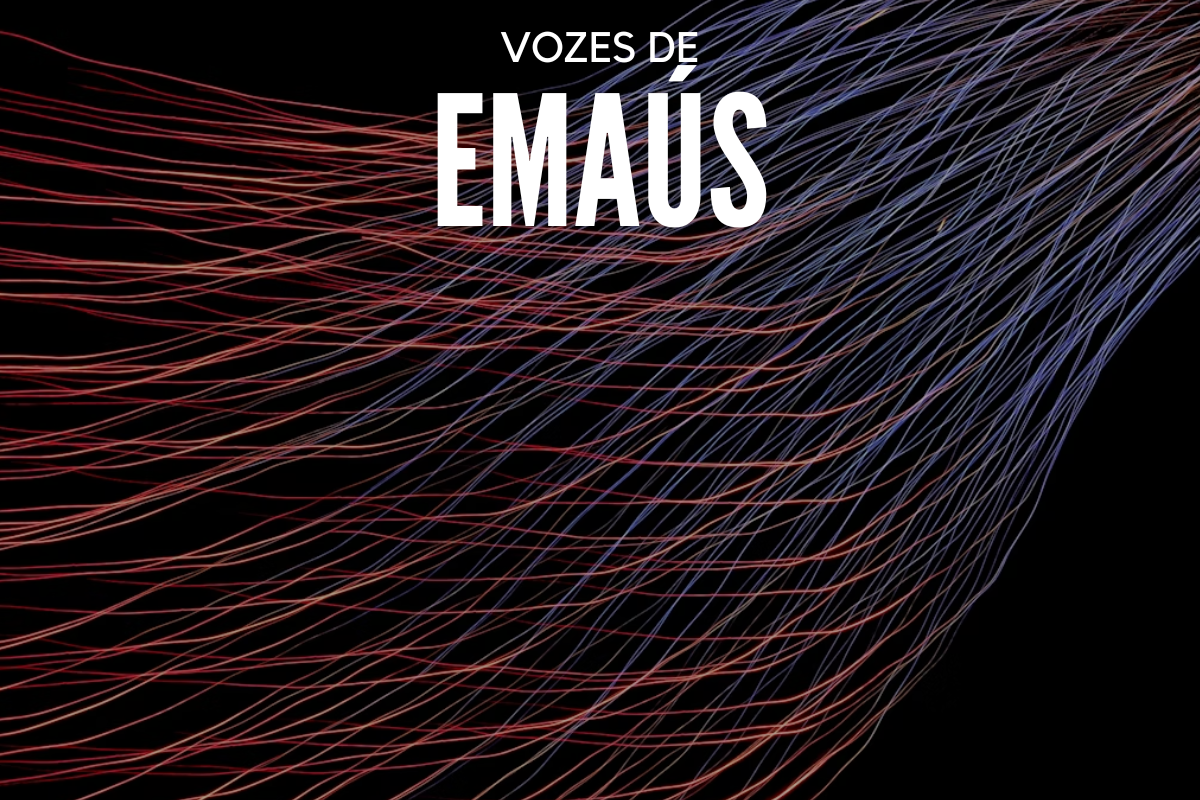29 Julho 2025
Que, depois, com o tempo, amadureçam desilusões até se tornarem conflitos, rupturas e afastamentos mais ou menos traumáticos, revela os limites de uma abordagem onde a prometida "extraordinariedade" se revela ao longo dos anos como mais ordinária e semelhante em sua dinâmica ao "antigo" modo de agir das instituições eclesiais.
O artigo é de Giovanni Dal Piaz, publicado por Settimana News, 27-07-2025. A tradução é de Luisa Rabolini.
Giovanni Dal Piaz é professor de Ciências da Educação na Università Pontificia Salesiana.
Eis o artigo.
Narrativas sobre o lado obscuro da Igreja — aquele feito de abusos, assédios, opressões e manipulações espirituais e psicológicas — expõem e destacam a perspectiva das vítimas quando relatam as dinâmicas dos abusos e a dor sofrida. Situações, em sua maioria, contadas de acordo com uma clara polarização entre "vítimas" e "algozes". A narrativa de como vítima e algoz podem conviver na mesma pessoa, ainda que em momentos diferentes, é a perspectiva totalmente nova que pode ser percebida no relato autobiográfico de Fabio Barbero, "Undicesimo non pensare. Anatomia di un plagio nel mondo cattolico” (Décimo primeiro não pensar. Anatomia de uma manipulação mental no mundo católico, em tradução livre), recentemente publicado pela Queriniana.
O autor foi, de fato, monge por 24 anos (1985-2009) na "Família Monástica de Belém da Assunção da Virgem Maria e de São Bruno", onde atuou como formador e vigário do prior geral, a quem substituiu, por um período, no governo da congregação.
Na realidade, o tema da responsabilidade na gestão do "sistema" — e não nos esqueçamos de que todo "sistema" social é um conjunto de indivíduos interagindo entre si e não uma realidade metafísica abstrata — é mal e mal mencionado e essencialmente evitado.
É claro que se reconhece que "por muitos anos fui responsável por comunidades, formei muitos jovens naquele sistema que hoje deploro e abomino. Adquiri técnica e maestria na prática de técnicas refinadas de manipulação da mente e da consciência... Fui um algoz? Um algoz sabe o que faz, eu não sabia... era cúmplice de um sistema que inoculava a morte em pequenas doses. Fiz tudo de perfeita boa-fé, com entusiasmo, dedicação e paixão. Fui também eu um algoz?" (p. 145).
Se ele agiu de boa-fé, por que não o teriam feito também aqueles que o aceitaram, usando a manipulação desde o início? Por que eles deveriam ser manipuladores e ele não?
Embora evitando um ponto de fundamental importância, o texto continua sendo interessante e digno de leitura, pois nos permite apreender, por meio de uma "história de vida", algumas das dinâmicas institucionais presentes na Família monástica de Belém e, muito provavelmente, em vários movimentos e realidades eclesiais que surgiram nos últimos 50-60 anos.
Dinâmicas que as tornam semelhantes e, ao mesmo tempo, concorrentes, já que "cada uma se considera a única verdadeiramente evangélica, apostólica, filha do Concílio... cristã" (p. 142).
Experiências de vida cristã que, mesmo quando confrontadas com a tradição da vida consagrada e monástica, na verdade a interpretam de forma muito seletiva, em função de sua intuição espiritual, e não veem nenhum problema, especialmente no plano celebrativo, em reunir elementos das mais diversas proveniências, desde que esteticamente agradáveis.
O conjunto de dinâmicas institucionais que a Barbero parecem ser específicas de sua congregação, na verdade, se encaixam na análise das "instituições totais" que Ervin Goffman propôs na década de 1960. Típicas, desse ponto de vista, são as ações que visam controlar, reeducar e cuidar das pessoas, separando-as do contexto com a justificativa de protegê-las de uma sociedade perversa/corrupta/hostil, visando o bem daqueles ali acolhidos.
Atribuir à manipulação mental, ou seja, a uma manipulação profunda e sistemática, os pedidos de entrada e acolhimento em uma realidade total como pode ser a realidade religiosa descrita por Barbero, parece realmente excessivo e encontra poucos respaldos em sua narrativa.
Há um ponto de partida que lança luz sobre as dinâmicas subsequentes: "Ainda sou muito jovem, inexperiente, e, no entanto, muitas coisas me decepcionaram" (p. 34). Decepcionado com o engajamento político, com os ambientes eclesiais, com a universidade e, paralelamente, "o que falta é a autenticidade" (p. 35).
Não se pode, não se quer ser como aqueles que barganham consigo mesmos, que se rendem a compromissos. Não, é preciso ser "autênticos", isto é, plenamente verdadeiros na autorrealização, capazes de dar corpo a um ideal, a uma visão de vida, mas de forma radical, lançando-se de cabeça e, se necessário, até cortando os vínculos com o que se foi até então.
Disso decorre o outro elemento: a excepcionalidade, claramente expressa naquele "gostaria de partir para a Legião Estrangeira" (p. 35). Se todos podem ser soldados de infantaria ou fuzileiros, a Legião Estrangeira é para poucos; somente aqueles com estrutura física e psicológica "extraordinária" podem fazer parte dela.
A comunidade de Belém é – e será ainda mais para Barbero – a Legião Estrangeira do Espírito. Não é para todos acordar às 3h25 da manhã, lavar-se em água gelada, passar horas em uma igreja gélida onde só se pode resistir enrolados em sete casacos, comer alimentos insípidos, limpar fogões e pisos, descascar verduras de baixa qualidade, romper com os amigos, até mesmo deixar aquele diretor espiritual que havia garantido que a comunidade de Belém era o "único lugar, hoje, na Igreja onde a vida cristã e monástica é vivida com autenticidade" (p. 40-65).
Uma vida difícil, exigente e, de certa forma, traumática, mas que, em troca, proporciona identidade, um forte senso de pertencimento, uma sensação de realização, "um certo brio — talvez melhor seria orgulho — por ser chamado a fazer parte de uma comunidade tão excepcional" (p. 52). Satisfeito por saber que "só eu, entre todos os meus amigos, tive a coragem de fazer tal escolha. Esse orgulho me sustenta nos momentos difíceis. O orgulho de pertencer a um seleto grupo de atiradores de elite, na linha de frente da luta da Igreja" (p. 74). Assim, "acordo todas as manhãs com a certeza de estar no lugar que me cabe, com aquela sensação gratificante de ter conseguido dar sentido à vida" (p. 77).
Além disso, há algo mais sutil e profundo: o fascínio, a sedução, o envolvimento estético. Esclarecedora, a esse respeito, é a descrição do primeiro encontro com a Irmã Marie, a fundadora, que "se aproxima a mim. Ela me olha fixamente nos olhos. Não consigo sustentar seu olhar, que me penetra profundamente. Então, com um imenso sorriso, diz: ‘Gostaria muito de conhecê-lo’” (p. 49). São olhos fascinantes, capazes de atrair, de criar laços sutis e profundos, vividos em um contexto onde "tudo é belo, belo demais, cuidado até à perfeição" (p. 47) nos tecidos litúrgicos, nos perfumes, nos incensos, nos cânticos onde afloram melodias latinas, orientais, exóticas.
Há, na ação da Família monástica, como em realidades institucionalmente semelhantes, a capacidade de interceptar a demanda de sentido espiritual, de harmonia, de pertencimento presente em realidades juvenis, certamente minoritárias, mas significativas do ponto de vista da busca espiritual, fornecendo uma resposta expressa em termos de excelência espiritual, criatividade pastoral, coragem no testemunho da caridade.
Consequentemente, o sucesso vocacional, num contexto em que os seminários definham e os institutos religiosos lutam cada vez mais para manter uma presença na comunidade, é de fato vivido e apresentado como a evidência que confirma o impacto positivo da proposta carismática e institucional e a capacidade de governo.
O nó vocacional, portanto, continua sendo central nessa fase da Igreja italiana e vê movimentos e novas formas (por vezes, especialmente no monaquismo, simplesmente "reinvenções" do antigo) capazes de se tornarem ativamente naquelas realidades de vida cristã ainda frequentadas pelos jovens, haurindo delas novas vocações.
Numa época de secularização e da consequente marginalização do discurso religioso, é fácil ceder à ilusão de poder transmitida por essas entidades eclesiais, que sabem preencher comunidades de pessoas e rostos jovens, sem se questionar em demasia como essas pessoas são acompanhadas ao encontro pessoal com o Senhor e por meio de que formação teológica e espiritual isso ocorre.
Que, depois, com o tempo, amadureçam desilusões até se tornarem conflitos, rupturas e afastamentos mais ou menos traumáticos, revela os limites de uma abordagem onde a prometida "extraordinariedade" se revela ao longo dos anos como mais ordinária e semelhante em sua dinâmica ao "antigo" modo de agir das instituições eclesiais.
Nessa perspectiva, um maior discernimento e acompanhamento eclesial do "novo" que vinha emergindo provavelmente teriam, se não evitado, pelo menos contido o trauma que se seguiu às revelações dos muitos "abusos" cometidos e reduzido aquele recurso a visitações apostólicas, intervenções papais, acompanhamentos capitulares e pós-capitulares, dissolução de entidades anteriormente aprovadas (e muitas vezes louvadas) que, em conjunto, transmitem a mensagem deprimente de que, enquanto as "antigas" instituições declinam, as "novas" fracassam.
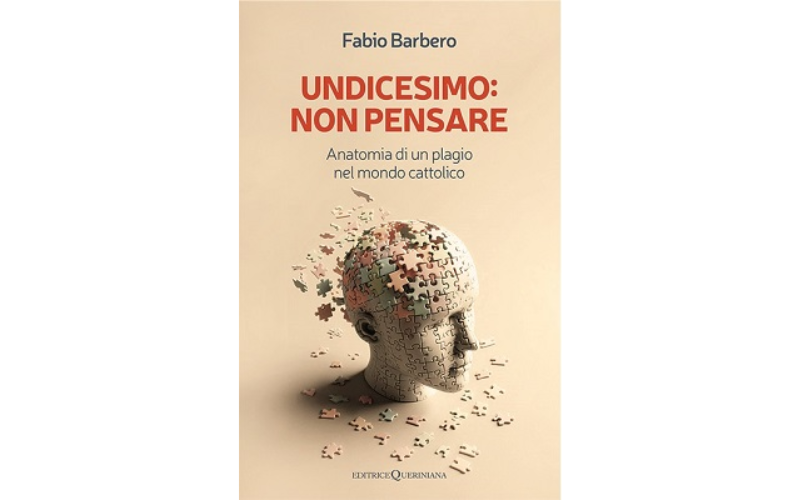
"Undicesimo: non pensare. Anatomia di un plagio nel mondo cattolico", de Fabio Barbero (Editora Queriniana, 2025).
Leia mais
- Por uma vida consagrada mais simples, mais livre, mais de Deus
- "A vida cristã é andar. Sirvam, não ‘se sirvam de’. Sirvam e deem de graça o que receberam de graça”
- “A vida cristã não é mais um comportamento automático”. Entrevista com Georges Pontier, presidente da Conferência Episcopal da França
- Esperança cristã: descobrir o encontro com Cristo
- O enfrentamento dos abusos sexuais na Igreja Católica
- “Abusos espirituais, todos corremos risco. Desconfiem de sacerdotes em busca de likes”. Entrevista com Giorgio Ronzoni
- Governo investigará abusos em escolas católicas da Irlanda
- Francisco com os padres vítimas de abusos: “É necessário não calar, não deixar-nos silenciar novamente, mas manter viva esta questão na Igreja”
- O Papa confirma ‘Vos estis lux mundi’, o procedimento contra abusos
- Vade-mécum sobre procedimentos para enfrentar casos de abuso de menores
- Como as vítimas de abuso na Igreja estão recuperando as suas mentes e autonomia
- “O problema da igreja é ligar o poder a questões da sexualidade”. Entrevista com Josselin Tricou
- Os dez mandamentos da luta contra o abuso na Igreja