19 Julho 2025
"Vertebrada pela técnica e animada pelo capital, a razão desumana, sorridente, fisga o desejo, inebria a mente, monopoliza o olhar e aprisiona a libido num fluxo ininterrupto. Quando sorri, ela mata", escreve Eugênio Bucci, professor titular na Escola de Comunicações e Artes da USP. Autor, entre outros livros, de Incerteza, um ensaio: como pensamos a ideia que nos desorienta (e oriente o mundo digital), em prefácio do livro A razão desumana: Cultura e informação na era da desinformação inculta, publicado por A Terra é redonda, 17-07-2025.
O título deste livro provoca uma sensação de instabilidade. As palavras “razão” e “desumana”, justapostas, resistem a se acomodar uma ao lado da outra. A primeira parece negar a segunda e vice-versa, como se ambas quisessem se empurrar para longe, premidas por uma força de repulsão que não dá trégua.
Razão desumana? Não, os dois vocábulos não conjuminam. A expressão se machuca por dentro. A faculdade de pensar é o que distingue os humanos das outras formas de vida que habitam o planeta. Pensar, mas pensar de verdade, em altitudes abstratas, intangíveis aos sentidos, onde se erguem portentosas edificações de ideias e signos que parecem ser maiores que o próprio mundo, e talvez sejam, faz de nós uma espécie incomparável.
É assim que o ser humano é visto desde a Grécia clássica, e em diversas tradições religiosas ainda mais antigas: nossa potência cerebral e linguística nos diferencia. Em suma, o humano, sujeito de linguagem, seria presumivelmente o único animal apto a desenvolver e refinar o que temos chamado de razão – e esta, por sua vez, teria o condão de civilizar o humano. Logo, se algo é desumano, não pode ter parte com a razão. Ponto.
Tanto é assim que, quando a filosofia fala em seres racionais, só pode estar se referindo a seres que sejam humanos. De outra parte, quando enlouquecem, ou quando se enfurecem e adotam condutas menos civilizadas, os animais racionais rompem com o cogito. Quem trata o semelhante com crueldade, ou tem prazer em seviciar uma pessoa subjugada, assume um comportamento perverso, vicioso, obsessivo e incompatível com a qualidade de ser racional. Quem encontra seu gozo na brutalidade, caprichosa ou não, se desumaniza e se irracionaliza. Não há o humano fora da razão, assim como não há razão além ou aquém do humano.
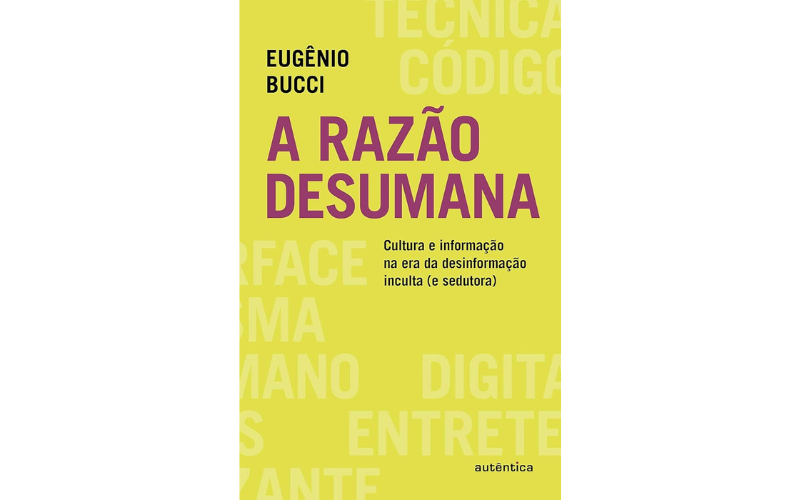
Livro "A razão desumana: Cultura e informação na era da desinformação inculta" de Eugênio Bucci
Surge então a pergunta: estando fora do que há de humano, poderia haver uma “razão divina”? Eu diria que não, mas, para efeitos de raciocínio, admitamos que sim. Nesse caso, porém, acabaremos concluindo que mesmo a razão divina é, ela também, humana, o que se explica facilmente. Se é que existe, a “razão divina” só admite esse nome na medida em que se dá a perceber ao pensamento humano. Somente a partir daí ela se torna, se não inteligível, ao menos tematizável: podemos falar dela, mesmo que dela não possamos apreender o todo. Logo, a razão divina só se constitui quando tem lugar no âmbito da razão humana.
Do mesmo modo, vale perguntar: poderia haver uma “razão” da natureza, ou uma “razão” do cosmos? A hipótese não é descartável in limine. Ocorre que os “propósitos” das “leis naturais”, bem como seus pressupostos, seus fios de sentido e suas finalidades, para que se apresentem a nós como conceitos, devem adquirir existência no plano da cognição e da intelecção humanas. Resulta disso que a “razão da natureza” constitui parte da razão humana. O que nos traz de volta ao começo: a razão é humana, ou não é razão.
Se é assim, e é assim que é, por que “razão” fui escolher um título com a expressão “razão desumana”? Tento responder de imediato.
Sinto que há uma lógica incomensuravelmente complexa a reger a realidade que nos toca. Sinto também que essa lógica não carrega em si nem uma gota de humanidade. Temos um problema nesse ponto.
Mas há outro problema, anterior. O problema está no verbo “sentir”. De modo mais preciso, o problema está em saber se aquilo que eu sinto, apenas sinto, pode ser tratado como um recurso da razão. Voltemos ao parágrafo anterior. Eu disse que sinto uma lógica, não disse que a deduzo. Eu sinto, e não é por acaso que digo que sinto.
Na minha assertiva, o verbo “sentir” contém o aviso de que um dado saber me chega mais da sensibilidade, talvez intuitiva, que do intelecto. Em outras palavras, a sensibilidade me faz saber. Como lidar com isso? Se o sentir me conduz ao saber, seria o sentir uma extensão, um fundamento ou um expediente da razão?
Respondo que sim, mas apenas parcialmente. A sensibilidade deve ser computada como um trunfo da razão na medida em que, desprovida do sentir, a razão não seria humana e poderia ser levada a termo por uma calculadora eletrônica. O ser racional nunca foi entendido como um ser insensível. É preciso que exista sensibilidade nas nervuras do pensamento. Logo, quando digo que sinto haver uma lógica complexa a reger a realidade que nos toca, não estou cedendo na minha razão, não estou sendo irracional ou menos racional. Ao contrário, estou sendo perfeitamente racional.
Mas que lógica destituída de humanidade é essa que sinto, à qual já chamei aqui de incomensuravelmente complexa? De saída, posso assegurar que ela é, para nós, um tanto inapreensível, pois escapa aos modelos epistemológicos de que dispomos. Ela não é a razão divina, mas, por estar ubíqua e onipresente em todos os recantos e em todos os instantes da nossa vida, pode se parecer com aquilo que há pouco eu mencionei como sendo a razão divina.
E, como o que poderia ser a razão divina, ela tem se mostrado extensa demais, volumosa, espaçosa, como se fosse um objeto maior do que o pensamento que quer pensá-la. Podemos notar que ela existe, mas não é tão simples decodificá-la. Essa lógica não pode ser examinada em sua integralidade, como se pode examinar uma bactéria no microscópio, porque ela é maior que o campo de visão. Suas dimensões parecem ser mais vastas e mais intrincadas do que a capacidade humana de concebê-la, sobretudo porque ela não cessa de expandir-se. Incomensuravelmente complexa, como eu já disse duas vezes.
Tudo isso eu sinto, mas sou incapaz de descrever. Sinto também, vou me repetir, que essa lógica se desumanizou por inteiro. Não apresento elementos empíricos que me comprovem o diagnóstico, mas posso saber que sinto e, movido pelo que sinto, posso pensar sobre o sentir.
Por certo, não estou sozinho nisso. São inúmeras as evidências de que vivemos regidos por uma lógica que se desumanizou sem perder seu ordenamento interno e seu rigor de método. Ela não se degradou em caos ou em estado irredutível de selvageria. Ela não é o “cosmos sangrento”, para usar aqui a expressão do poeta que Mário Faustino consagrou em sua “Balada”. Ademais, o “cosmos sangrento” existe desde sempre, e essa lógica desumanizada constitui um dado recente, inédito: o filamento significante que a costura não estava por aí desde sempre.
É algo novo, tão novo que me arrisco a situá-lo na linha do tempo. Isso surgiu apenas depois das revoluções industriais. De modo menos vago, surgiu apenas com o advento do que o filósofo alemão Günther Anders nomeou como sendo a “técnica”. Então, passamos a ter algum contato consciente com essa lógica desumana, com essa coerência fria e imperiosa que mal sou capaz de delinear, mas que, em larga medida, nos governa.
No primeiro ensaio deste livro, “A humanidade encontra sua irrelevância: notas sobre a deserção do espírito”, em que comento os efeitos da pandemia sobre a nossa autoimagem de humanos, cito uma obra que Günther Anders lançou em 1964: Nós, filhos de Eichmann. Nesse texto, que tem a forma de uma carta, o autor anuncia um fato estrondoso, quero dizer, ele anuncia um fato que seria estrondoso se pudesse ser compreendido por todas as pessoas. Anders anota que, agigantados, os aparatos técnicos tomaram para si um mundo que era nosso, dos humanos, e passaram a dirigi-lo em nosso lugar, em nosso nome a despeito de nós.
Se formos capazes de vislumbrar minimamente as magnitudes da técnica de que ele nos fala, poderemos constatar que a humanidade gerou uma lógica maquínica que passou a concentrar e a exercer poder, nada menos que poder. Ela não é neutra. Ela não é inerte. Ela é ciosa e zelosa de seu poder, como se tivesse personalidade, embora não a tenha. E se expande em tantas vertentes simultâneas que a mesma humanidade que a gerou não dispõe de recursos para investigá-la em sua inteireza.
Se eu pudesse resumir o que não domino em seu conjunto, eu diria que o império da técnica pode ser definido como um produto que, embora saído das mãos do Homo faber, existe acima do alcance do cérebro do Homo sapiens. Tal constructo se abre em fios de força – força também política, mas não só – que se estendem na velocidade da luz, muito adiante do que podemos ver e abraçar com os modestos voos das nossas ideias, tristemente humanas.
Assim como eu não estou sozinho nisso, também Anders não teve essa visão sozinho. Ele se abasteceu da convivência com Hannah Arendt, com quem foi casado, e com Martin Heidegger, de quem ambos foram alunos. Outros nomes figuram nessa lista, mas não é preciso numerá-los.
Só o que é preciso dizer é que a técnica se libertou das decisões dos que a forjaram e se irradia a partir de um campo próprio, agindo como um sujeito não-humano e imprimindo seu caráter mecânico, muito embora dialético, às relações entre as pessoas. Somos seres mediados pela técnica e por sua lógica.
Não foi sempre assim, insisto. Isso é recente. Tenho para mim que apenas no limiar dos anos 1940 surgiram as aberturas que permitiam antever o que estava por vir. Não nos esqueçamos de que a técnica não se resume aos inventos da cibernética, das gruas, dos satélites ou das câmeras fotográficas, mas se estende também, e com grande desenvoltura, pelos caminhos sinuosos da burocracia estatal que Max Weber saudou com tanto entusiasmo no começo do século XX.
Ela comparece às normas jurídicas das sociedades industriais ou superindustriais, e nos consequentes mandos e desmandos jurisdicionais. A frieza da administração pública em face do cidadão desprotegido é uma das faces da técnica, mesmo quando ela não mobiliza nenhum tipo de maquinário, bastando-lhe os burocratas alienantes e alienados.
Quando Jürgen Habermas descreve a “ação estratégica” em Teoría de la acción comunicativa, que se realiza sistemicamente para oprimir a espontaneidade incipiente das ações humanas, candidamente humanas, ele descreve, ainda que sem nomeá-lo, o poderio da técnica. Trata-se de um poderio real: mesmo quando não requisita chips, nem circuitos integrados, nem energia elétrica, nem combustíveis fósseis, a técnica encabresta os seres racionais a ponto de reduzi-los a instrumentos para atingir fins estratégicos que lhes são hostis.
Está em toda parte. Está no traçado das ruas das cidades que direciona o trânsito dos pedestres, está na hierarquia dos edifícios perfurados por elevadores, está no encapsulamento dos fármacos e na inércia dos corpos extenuados por jornadas sem sentido.
Se na década de 1940 era possível ver, embora fosse mais difícil, hoje é quase impossível não ver, mesmo quando o sujeito não sabe sentir. Dá para ver a olho nu. Estamos às voltas com o big data, os algoritmos, o machine learning e a inteligência artificial (IA): a técnica saiu dos bastidores e ganhou uma visibilidade ofuscante, tanto no controle do tráfego aéreo como na redação de textos, sem falar na interpretação dos resultados de análises clínicas, no manejo do mercado financeiro, nos diagnósticos médicos e na definição de alvos de bombardeios. Mais profundamente, ela arbitra sobre o deslocamento, as predileções e os destinos de homens e mulheres de carne e osso.
Sim, sobre os destinos. A técnica atua até mesmo na clínica de saúde mental. São um sucesso de mercado as terapias psicológicas oferecidas por aplicativos de telefone celular. Os apetrechos assumem o lugar de analistas de verdade e “conversam” com o cliente. Nos feedbacks, os “pacientes” elogiam a “empatia” do terapeuta artificial. São também um êxito excitante os robôs virtuais que namoram os usuários. Esses seres imateriais e libidinosos deixaram de ser personagens de ficção científica e ganharam existência na vida social. A técnica tem presença em todos os domínios.
A partir daí, começamos a ter a sensação de que, mais que uma lógica imperturbável, a técnica sintetiza também uma forma estranha de razão. Desprovida da presença humana, essa técnica, tornada razão, faz valer sua autoridade sobre os humanos. Ela é poder. Ela é saber.
É a isso, enfim, que dou o nome de razão desumana. A razão desumana é a técnica além da técnica. Ela não se limita a cálculos ou a operações matematizáveis. Ela não se resume a uma cadeia de argumentos cujos nexos internos caibam em equações. Ela parte, sem dúvida, das fórmulas e dos códigos de programação, mas já foi muito além.
Não tem mais o aspecto de uma tela de comandos cifrados, com símbolos, números e sinais matemáticos. Não se apresenta como uma fileira quilométrica de números, letras e símbolos. Suas interfaces, como dizem os engenheiros, são sensíveis a palavras e às modulações do humor. Ela fala, ela escuta, ela desenha, ela compõe – e, como já lembrei aqui, ela mantém envolvimentos românticos, eróticos. Até parece gente. É tão mais desumana quanto mais parece humana.
No início deste prefácio, eu disse alguma coisa sobre como a sensibilidade se encontra com a razão e a integra e disse que esse encontro constitui um problema. Agora, volto ao mesmo problema, mas em outro nível. O problema é o seguinte: a razão desumana até parece sensível e por isso até parece humana. O que podemos fazer com nosso problema?
No mínimo, podemos falar dele, ao menos um pouco. Não é de hoje que sabemos que a razão, por mais que se pretenda inflexivelmente racional, não tem como ser inflexivelmente avessa à sensibilidade. A razão não é o oposto de emoção, como às vezes parece acreditar o senso comum.
Nem precisamos de David Hume para saber que emoções, paixões e sentimentos movem a política, a filosofia e o pensar – ainda que, no plano da razão, não tenham como prescindir do tempero que lhes é servido pelo tirocínio, pelo discernimento e pela virtude grega da prudência. Os afetos, à la Bento de Espinosa, visitam sobejamente a esfera da ética e da razão. Esta admite e consagra noções éticas e sensações estéticas, nem sempre exatas ou objetivas.
Nesse ponto, devemos ter em mente um pequeno desacoplamento entre razão e sensibilidade. A primeira não se resolve nos tecidos cerebrais ou neuronais – ela se projeta para além do corpo, seja no que Hannah Arendt ou Paul Valéry chamam de “espírito”, cada um a seu modo, seja no que Sócrates chama de “alma”. Por itinerários variados, chegaríamos rapidamente ao postulado de que a razão não é contida pela matéria orgânica em que ela se processa. Pelos mesmos itinerários variados, descobriremos que a sensibilidade a acompanha, mesmo quando viaja clandestinamente.
Aqui entra o desacoplamento. Diferentemente daquilo que, com variações, convencionou-se chamar de razão, a sensibilidade, como sabemos, guarda nexos diretos ou indiretos com os sentidos, e estes têm suas raízes fincadas nas fibras do corpo. Os sentidos aderem à natureza física do ser vivo, mais ou menos como a fome, o sono e a exaustão.
A pretensão de que eles caibam no interior das fronteiras da razão seria um contrassenso. Por outro lado, não há como recusar que alguma coisa que tem sua origem nos sentidos do corpo pode frequentar a casa da razão e até se sentir à vontade dentro dela. Nessa perspectiva, a sensibilidade é racional e a razão é sensível. Em retorno, a sensibilidade, hóspede da razão, educa os sentidos.
Mas todo esse desvio em que minha prosa mergulhou não se deu porque eu pretendesse glosar, como se diz no jargão acadêmico, séculos e mais séculos de discurso sobre a razão. Uma rapsódia filosófica, que, por sinal, está fora do meu campo de estudos, não é meu objetivo nem sequer é necessária. Eu só precisava passar por esses acúmulos bem decantados – e por seus desvãos traiçoeiros – para olhar mais de perto o que de fato nos interessa: a razão desumana.
Sobre a humana já se sabe um bocado. Da desumana, gerada pela técnica, sabe-se quase nada. De todo modo, como ela simula – e emula – a razão que já conhecemos, aquela que nos apetece chamar de humana, é recomendável que nos apoiemos no que é sabido para entrevermos o que não se sabe, mas pode ser sentido.
Sim, a razão desumana é uma farsa, uma réplica, mas não uma ilusão: tem existência material e pesa mais que os campanários das catedrais da Idade Média. Os traços da razão primeira, aquela que distinguiria o humano, aparecem vívidos nas suas muitas faces, em efeitos verossímeis, convincentes. Máquinas nem tão avançadas enunciam falas melosas que despertam a afeição do consumidor. Mesmo a compaixão mística é encenada – e converte o desavisado. A sensualidade e a sedução podem ser ofertadas por algoritmos, na banalidade de um aparelho que se compra pelos correios. Mas essa é a parte fácil.
Qual parte não é fácil? Muitas, eu diria. Por exemplo: a razão desumana ativou em seus discursos – pois ela os profere, com loquacidade, em atos, palavras e omissões – uma série de pacotes de escolhas prévias que, mais adiante, levarão a escolhas posteriores.
Escolhas prévias: uma escola de arquitetura a partir da qual será rabiscado o projeto da casa, ou uma corrente da ética, seja principista, seja consequencialista, mediante a qual será equacionado um dilema moral. Escolhas posteriores: a cor dominante das paredes da residência, o destino do passeio de férias, o fundo musical do consultório, o ônibus a se tomar para se chegar ao outro lado da cidade, o voto a ser dado nas próximas eleições.
Outro exemplo: a razão desumana aprendeu a prestigiar algumas tradições filosóficas em detrimento de outras, num tipo de inclinação que não podemos dizer que seja intencional. Apenas acontece, como costuma acontecer em tudo o que se deixe cortar pela ideologia, ou seja, em tudo que seja representável na linguagem. Ela aprendeu, igualmente, a dar mais centralidade a uma religião em prejuízo das demais.
Qual religião? Qualquer uma, incluindo as religiões que não se sabem religiões. Ela aprendeu a jogar com inclinações de fundo valorativo ou opinativo. Ela aprendeu a favorecer um gosto, ao mesmo tempo que aprendeu a encobrir um desgosto. Mais ainda: ela provavelmente já está aparelhada para se reproduzir por sua conta e desenvolveu os meios para se replicar sozinha, com modificações incrementais, quase imperceptíveis, ou com mutações mais traumáticas e mesmo violentas.
Temos tido sinais de que seu programa se reprograma e se restabelece em novas bases sem depender do aval de seu autor supostamente humano. A propósito: existe o autor humano quando ele, o humano, recebeu e assimilou o adestramento da técnica? Onde está o humano naquele corpo tornado previsível e gerenciável?
A razão desumana é o fantasma digital, o “espírito” que se liga na tomada e anda sozinho. Ela é a técnica elevada à segunda potência.
Eu falei da técnica elevada à segunda potência. Isso demanda uma satisfação a quem me lê. Ao aludir à segunda potência, quero indicar um dos elementos que consubstanciam o que há de recente, muito recente, na coisa estranha que tento descortinar aqui. Quando falo em segunda potência, quero dizer que a razão desumana resulta da fusão da técnica com o capital.
Olhando o mesmo fenômeno por outro ângulo, posso dizer que, na razão desumana, temos a técnica, mas não só a técnica, temos também o capital encarnado, o capital que já não precisa se esconder. A lógica incomensuravelmente complexa que apareceu nas primeiras linhas deste texto é posta pelo capital como o significante primeiro. A razão desumana se organiza pelos ditames do capital. Ela se deixa pentear por ele. Ao mesmo tempo, embute os critérios e as ferramentas para redefinir o modo como o capital age no mundo.
Sem a razão desumana, e sua técnica, e seu discurso, o capital já não teria como implementar e consumar seus ditames. Não estamos divisando apenas uma obra da engenharia ou da ciência. Acima disso, o que se insinua ou se escancara diante de nós são as relações capitalistas de produção automatizadas e autonomizadas.
Antes de terminar este Prefácio, que já foi longe demais em digressões, retomo o subtítulo do livro: “Cultura e informação na era da desinformação inculta (e sedutora)”.
Outra vez, temos aqui uma expressão que se arranha por dentro: “desinformação inculta”. Não se trata de um trocadilho, porém. “Desinformação inculta” denota uma constatação. A desinformação do nosso tempo reduz a escombros o que poderíamos chamar de cultura. A desinformação não apenas se vale da cultura, não apenas emprega instrumentos fornecidos pela cultura, mas deglute e destrói a cultura no instante em que a toca. O que ela faz é deglutir e destruir a cultura no instante em que a toca.
Uma vez tomados pelas engrenagens da desinformação, os utensílios linguísticos da cultura, como as imagens didáticas e as analogias mais primárias, mais ou menos metafóricas, perdem sua utilidade. Tomados pela desinformação, eles rapidamente se inutilizam, pois o ambiente comunicacional da desinformação acelera o ciclo exaurimento dos signos.
Mais rapidamente eles se tornam lugares-comuns e, depois, “signos ideológicos defuntos”, no dizer de Bakhtin. Em seguida, eles se desintegram. A desinformação calcina os signos culturais no instante mesmo que os recruta.
Em mais de uma passagem deste livro, sustento que a desinformação não se constituiu num “conteúdo”, mas num ambiente comunicacional que interdita o acesso ao conhecimento e gera um artefato no mínimo desconcertante: a ignorância artificial. Eu trato do conceito no sexto ensaio deste livro, “Inteligência artificial, paz e democracia: esse encontro é possível?”. Podemos entendê-lo como um dos sintomas da razão invertida e desumanizada.
Costumeiramente, quase que por inércia, visualizamos a ignorância como se visualizássemos o vazio, a ausência de saber, a ausência de signos. Sendo a pura vacuidade, a ignorância poderia ser superada com educação, conhecimento e experiência. Para deixar de ser ignorante, bastaria ao sujeito a capacidade de aprender.
Nos nossos dias, entretanto, a ignorância não se apresenta mais como um efeito da ausência. Ela é, antes, resultado de uma superabundância de estímulos sígnicos (figurinhas, barulhos, vozerios) que ocupam os espaços com certa brutalidade sem nada acrescentar a eles. A desinformação abarrota os espaços com seu nada – um nada que congestiona todos os canais. Também por esse procedimento, ela aniquila as células da cultura, uma a uma, mais ou menos como corrói por dentro a institucionalidade democrática.
Volto uma vez mais ao subtítulo, para destacar a palavra que aparece entre parênteses: “sedutora”. Ela está aí porque a razão desumana seduz. Eu diria até mais: ela sabe sorrir, e muito bem. A forma do seu sorriso é o entretenimento totalizante. E se você quiser enxergar a trilha genealógica que veio dar no entretenimento da atualidade, posso apresentá-la, de modo bem abreviado, mas suficiente.
Essa trilha teve sua origem na arte que, no Renascimento, passou a se emancipar das determinações que lhe fossem externas. Em seguida, a mesma trilha avançou pela indústria cultural que liquefaz os fundamentos da arte, tornada trabalho fungível, nos termos de Theodor Adorno e Max Horkheimer. Mais adiante, o entretenimento se remodelou na sociedade do espetáculo, descrita por Guy Debord, até desembocar no que eu mesmo tenho chamado de Superindústria do Imaginário.
Vertebrada pela técnica e animada pelo capital, a razão desumana, sorridente, fisga o desejo, inebria a mente, monopoliza o olhar e aprisiona a libido num fluxo ininterrupto. Quando sorri, ela mata.
Eu disse certa vez que ainda vivemos dentro da Caverna de Platão. A única diferença é que, agora, as paredes da caverna são revestidas de telas eletrônicas, que às vezes assumem a aparência de espelhos. Se soubermos criticar o que nos confina e nos traga, já teremos feito muito.