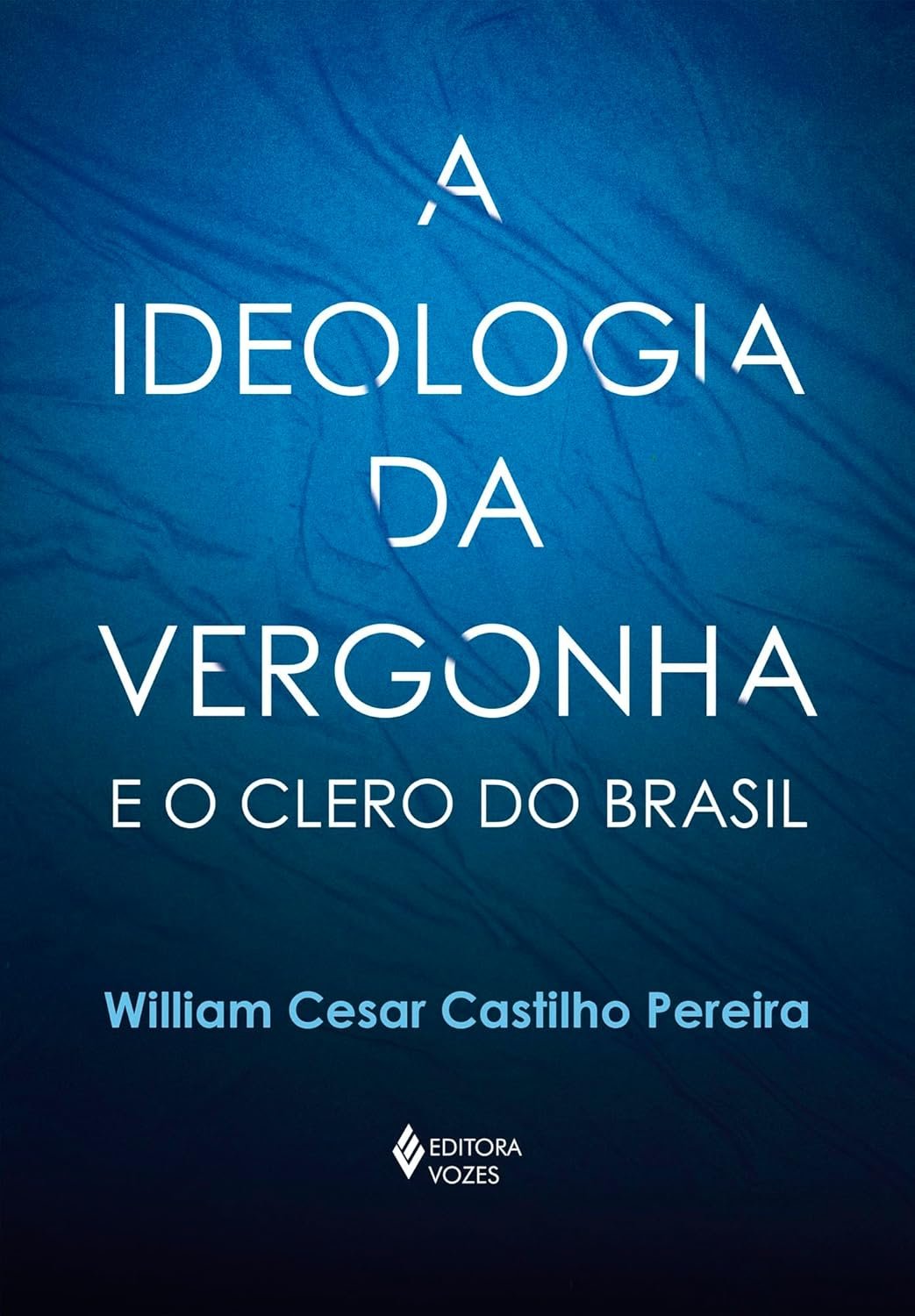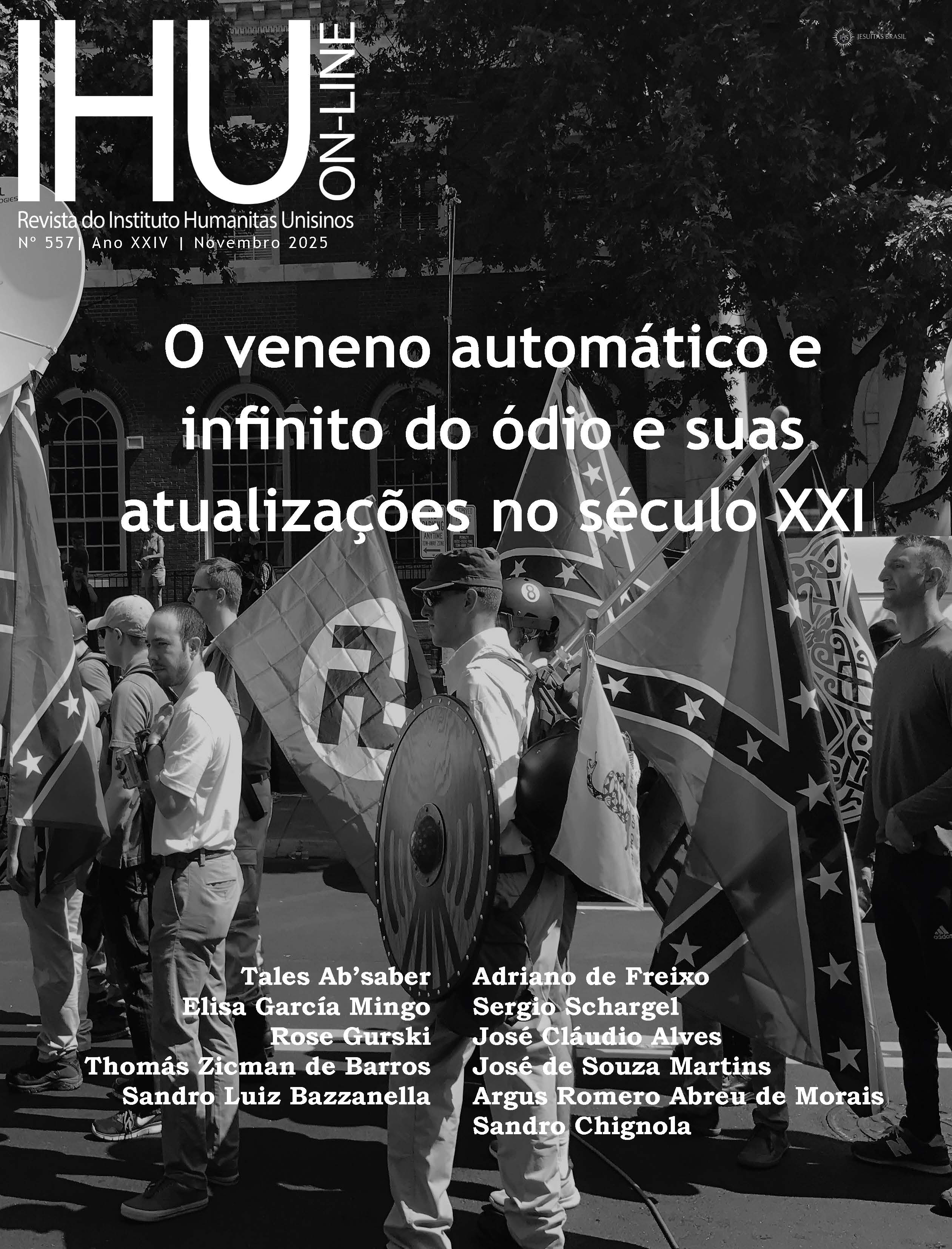27 Novembro 2025
"O uso abusivo dessa renúncia cristã é uma caricatura, uma careta diante de um sorriso. Porque o que separa uma da outra é o abismo entre destruir e doar."
O artigo é de Adrien Candiard, frade dominicano, membro do Instituto Dominicano de Estudos Orientais e autor de vários ensaios, publicado por Settimanna News, 21-11-2025.
Eis o artigo.
A Assembleia Geral dos religiosos e religiosas franceses (Corref) foi realizada em Lourdes entre 18 e 22 de novembro de 2025 e foi dedicada ao tema A esperança, um compromisso para a vida religiosa. Participaram 350 pessoas na Assembleia, que foi aberta pela intervenção da presidente, irmã Véronique Margron, ao concluir seu segundo e último mandato. Os trabalhos prosseguiram com a conferência introdutória confiada ao dominicano irmão Adrien Candiard, prior do Convento do Cairo, para onde foi enviado há 13 anos para trabalhar no Instituto Dominicano de Estudos Orientais (Idéo), um centro de pesquisa voltado para os estudos sobre o Islã. Retomamos, com a gentil autorização da Corref, sua conferência.
Os mais estáveis entre vocês, ou os mais inamovíveis, talvez se lembrem de que há sete anos a irmã Véronique Margron me convidou para dirigir-lhes a palavra ao final dos seus trabalhos; agora, ao contrário, fui chamado para iniciá-los.
Percebo a passagem do tempo entre esses dois convites e não posso deixar de pensar: era realmente um bom período. No entanto, quem estava presente em 2018 lembra que o clima não era nada festivo. Estávamos entrando de corpo inteiro na tempestade dos abusos, ainda sem os números da CIASE, sem saber nada de suspeito sobre Jean Vanier, sem imaginar metade do que os anos seguintes nos ensinariam, mas já plenamente conscientes de que a onda se aproximava e que não sairíamos ilesos.
Na época falei a vocês sobre liberdade e governo na vida religiosa, de maneira bastante vigorosa, porque via claramente que as coisas não iam bem. Sete anos atrás, a situação não era boa: ídolos eram derrubados, a extensão dos dramas vinha à tona, nossos modos de funcionamento eram questionados, talvez se perdesse o equilíbrio ou se sentisse náusea; mas havia uma coisa: a esperança. Os dossiês eram abertos, os corações eram abertos, as coisas iam mudar. No meio de uma Igreja colocada em questão, a vida religiosa era mais sacudida do que o restante. Mas intuía-se que do tsunami poderia emergir uma vida religiosa renovada, purificada de suas tentações sectárias, de seu culto da personalidade (dos fundadores, dos superiores), de seu autoritarismo cotidiano e das humilhações aceitas, dos abusos que a desfiguravam.
Não quero idealizar nada: para vocês, aquele período foi duro, às vezes duríssimo; duro, para não dizer atroz. Eu não me limitava a fazer grandes discursos proféticos para fingir sacudi-los um pouco, como se as circunstâncias não fossem suficientes para abalar toda a Igreja; também eu, no meu pequeno âmbito e sem nada comparável ao que os superiores de congregação enfrentavam, começava a descobrir situações revoltantes, e mais de uma vez me vi vacilar. Mas estávamos construindo, estávamos libertando, caminhávamos em direção a uma Igreja mais segura e, em nossas comunidades, em direção a relações mais verdadeiras, mais evangélicas, sem dominação.
Sete anos depois, não se trata de pôr em questão o trabalho realizado — e realizado com grande coragem em muitas congregações (tenho orgulho de a Corref estar na linha de frente). Mas, como sempre, percebe-se que a necessária liberação da palavra não produziu todos os efeitos esperados. Há, é claro, lugares onde o velho mundo resiste: seria ingênuo pensar que os abusos pertencem apenas ao passado da Igreja, infelizmente. Mas sobretudo, o novo mundo não é tão idílico assim.
Para vocês superiores, é também um mundo de suspeita, até mesmo de suspeita sistemática em relação à autoridade, surgida às vezes dos próprios escombros. No banco dos réus, em primeiro lugar: a obediência. É normal, afinal, porque foi usada de maneira perversa. É lógico, portanto, que em resposta se a olhe com prudência. Mas devemos jogar fora a criança com a água do banho, quando a criança corre o risco de ser nada menos que a própria vida religiosa?
Vocês sabem bem que, sem obediência, não resta muito que possa funcionar.
Entre nós dominicanos, é o único dos três votos formulado explicitamente, então vocês podem imaginar… Um irmão, relatando as palavras de outro que se dispensava das Laudes para ir correr, dizendo: Eu considero que tenho esse direito, ou isso equivale a uma oração, observava que uma frase que começa com Eu considero nunca pode terminar bem… Se um pedido do superior precisa ser avaliado com o psicólogo e com o advogado antes de receber resposta, isso muda um pouco as coisas.
Sem chegar a esse extremo, vocês veem o risco de uma relação com os superiores colocada sob suspeita de abuso de autoridade e sob a ameaça de ação judicial: isso complica um pouco o exercício de suas responsabilidades, que já são pesadas o suficiente. Naturalmente, se há alguém a culpar são os abusadores: a dúvida sobre a obediência é mais uma vítima, menos trágica certamente do que outras, mas ainda assim considerável, de suas maldades.
Mas não é apenas um problema para os superiores, um grão de areia incômodo no bom funcionamento das nossas instituições. Levanta perguntas mais profundas: cada ato de autoridade pode ser lido como abuso? A obediência não é mais do que um instrumento de sujeição?
É preciso lembrar que, se a Revolução Francesa aboliu os votos religiosos, não foi sobretudo por anticlericalismo ferrenho, nem por desejo de pôr as mãos nos bens das ordens religiosas, nem — como se dizia na época — para libertar dos claustros pessoas infelizes que nunca haviam pedido para entrar. Mas foi por coerência com uma concepção muito forte do indivíduo autônomo, que não pode alienar a própria liberdade, nem mesmo voluntariamente. Não se pode descartar apressadamente essa antropologia rotulando-a de individualista — termo facilmente pejorativo. Porque foi exatamente essa concepção de ser humano que nos ajudou a identificar e recusar os abusos contra as pessoas. Precisamos dessa atenção à liberdade de cada um.
Mas devemos aceitar todas as consequências desse bendito individualismo? Em outras palavras: ainda é possível propor a vida religiosa depois da crise dos abusos, ou o primeiro abuso, no fundo, é a própria vida religiosa?
Parece-me, porém, que existe um perigo ainda maior do que a irrupção do jurídico — e às vezes até do judicial — da lei que protege e da norma que sufoca o espírito em nossa vida religiosa. Um perigo maior, mas mais impalpável, impossível de medir objetivamente, que talvez eu perceba apenas por uma série de coincidências infelizes que não formam estatística alguma: vocês julgarão segundo a própria experiência.
Quero falar do crescimento de uma certa amargura. Amargura em relação aos superiores, ou à congregação, de repente personificada, porque não se é escutado, encorajado, vivificado, considerado. Os superiores não entendem nada: é até assim que se reconheceria um superior. Mas às vezes me parece que não são os superiores que decepcionaram, e sim a própria vida, que não cumpriu todas as promessas.
Fala-se dos politécnicos que entraram na vida religiosa, que às vezes (não sempre, graças a Deus) ostentam o luto do grande futuro que lhes havia sido prometido na juventude e que, ao fim, não experimentaram os sucessos anunciados sem jamais terem renunciado totalmente a eles. Se fossem apenas eles, seria simples; mas são muito mais numerosos aqueles que esperaram encontrar na vida religiosa a felicidade — não lhes havia sido imprudentemente prometida? — entendida como realização do próprio ser, como atualização de todo o próprio potencial (para dizer com um vocabulário vagamente tomista), ou como realização da melhor versão de si mesmo (para usar a linguagem do desenvolvimento pessoal, que penetrou profundamente nosso discurso sobre nós mesmos). Conhecemos as palavras de Flaubert a Louise Colet: A felicidade é um mito inventado pelo diabo para nos desesperar.
Cuidar da florescência de cada um em nossas comunidades é certamente uma boa ideia, melhor do que esperar a santificação dos irmãos e irmãs. Mas prometer que nosso estilo de vida conduzirá a tal florescência, como talvez desejamos fazer para virar as costas a uma concepção dolorista sobre a qual os abusos puderam prosperar, significa comprometer-nos muito além do que podemos razoavelmente fazer, muito além do que nossas famílias religiosas propõem, muito além do que o próprio Cristo promete àqueles que o seguem.
As Bem-aventuranças falam de felicidade, sim, mas não da felicidade pelo sucesso. O drama dessas promessas não cumpridas — da vida em geral, da vida religiosa em particular — é que podem gerar amargura. E a amargura, sabemos bem, estraga tudo, destrói tudo pela raiz: é o que pode nos fazer desistir. Um religioso pecador, tudo bem. Um religioso que luta com a castidade, que luta com a gula, que se deixa dominar pela impaciência ou pela cólera, não está perdido: é um religioso que sabe precisar da graça, da misericórdia de Deus e dos seus irmãos. E que, talvez, saberá melhor compreender os pecadores. Mas de um religioso amargurado, o que se pode fazer? Ele pedirá perdão, mudará de vida? Suas próprias falhas o tornarão mais indulgente? É a catástrofe total.
Então, o que fazer? Fazemos o de sempre quando não sabemos o que mais fazer: abrimos a Bíblia. E quando estamos preguiçosos, vamos aos livros curtos. Sete anos atrás, com vocês, abri a Carta a Filemom e seus vinte e cinco versículos. Hoje penso no livro de Ageu e seus dois capítulos. Não é certamente a estrela mais brilhante entre os profetas do Antigo Testamento, mas há ali muito a ler e reler.
Ageu, que vive no fim do século VI a.C., não enfrenta o período mais trágico da história sagrada — duas gerações antes, os habitantes de Jerusalém haviam vivido um cerco abominável, seguido pela destruição da cidade e do Templo, e pela deportação da população a Babilônia.
Mas o período de Ageu, mais tranquilo, não é por isso menos profundamente deprimente. Os babilônios haviam deportado grande parte da população no início do século, mas Deus, por meio do profeta Jeremias, havia prometido aos deportados que voltariam à terra prometida, que reencontrariam Jerusalém. Depois de setenta anos de exílio, grande alegria: os babilônios são derrotados pelos persas, cujo rei, Ciro, decide pôr fim ao exílio dos judeus. É o grande retorno para casa, na empolgação: Deus não nos esqueceu e reencontraremos o esplendor dos tempos de Davi e Salomão. Claro, agora os senhores são os persas, mas veremos o que veremos.
E, no entanto, não se vê grande coisa… Nenhuma catástrofe, não. Simplesmente, tudo é mais difícil do que se pensava. Primeiro, os exilados que retornam a Jerusalém percebem que já há gente lá: judeus que permaneceram, porque os babilônios não puderam deportar todos; e populações vizinhas que se instalaram durante aqueles setenta anos. Entre os que retornam e os que ficaram, nem tudo será simples, nem mesmo entre judeus.
Além disso, é muito bonito querer reconstruir Jerusalém, suas muralhas, seus palácios, seu Templo, mas para tudo isso é preciso dinheiro, e Ciro não deu, ou não o bastante. Em suma, o grande sonho do retorno se transforma não em pesadelo, mas em um despertar sombrio para uma vida cotidiana difícil, fazendo contas no fim do mês, constatando que nenhum problema está resolvido. Chegou-se até a interromper a reconstrução do Templo de Deus, destruído pelos babilônios. Começou-se o trabalho, cheios de entusiasmo, logo após o retorno do exílio, depois, diante da amplitude da tarefa, deixaram tudo de lado. Não definitivamente, mas havia coisas mais urgentes. Era preciso reconstruir tudo. O tempo do Templo viria, mas não agora. Essa é a situação dezesseis anos após o retorno.
É nesse período deprimente, no fim do verão de 520, que um profeta de quem nada sabemos além disso, Ageu, interpela o povo de Jerusalém em nome de Deus. Deus irá desculpar-se por essa realidade tão decepcionante? Ao menos consolará com palavras doces? De modo algum. Considerai atentamente o vosso comportamento, começa Deus: olhem primeiro quem vocês são e o que fazem. E se olharmos para o resultado, é desanimador: Semeastes muito, mas colhestes pouco; comestes, mas não para saciar-vos; bebeste, mas não para vos alegrar; vestistes-vos, mas não para vos aquecer; o trabalhador recebeu salário, mas para colocá-lo num saco furado.
Uma descrição impressionante de uma vida mecânica, vivida na superfície, em que se faz tudo o que deve ser feito — come-se, bebe-se, veste-se, trabalha-se, encontram-se pessoas, rezam-se Laudes e Vésperas, talvez se pregue, participam-se de reuniões — mas apesar de tudo falta algo, algo importante, algo que dá sentido a toda essa rotina. E sobre aquilo que falta, Ageu tem uma ideia: é o Templo de Deus, que negligenciamos reconstruir.
Assim fala o Senhor dos Exércitos: Considerai atentamente o vosso comportamento. Subi ao monte, trazei madeira, reconstruí minha casa. Nela terei prazer e manifestarei minha glória – diz o Senhor. Esperáveis muito e veio pouco; o que trouxestes para casa Eu dispersei. E por quê? — oráculo do Senhor dos Exércitos. Porque minha casa está em ruínas, enquanto cada um de vós se ocupa de sua própria casa.
Todos disseram: primeiro faço minha vida, minha casa, minhas coisas, e depois cuidarei de Deus. Mas vamos pensar no que é mais urgente. É por isso, diz Deus, que nada funciona. Em outras palavras, para usar uma imagem do rúgbi, é preciso recolocar a igreja no centro do vilarejo. Se nos reconhecemos na descrição que Ageu faz de seu tempo — não trágico, mas decepcionante, amargo e estéril — então a questão para nós é: qual é esse templo que devemos reconstruir a qualquer custo? Como seguir a lição de Ageu para a vida religiosa de nosso tempo?
Naturalmente, não se trata de uma concepção pagã, mágica. Não é literalmente um templo que nos falta (aliás, Deus dissuadiu Davi de construí-lo: não és tu quem me construirá uma casa, sou eu quem te construirá uma casa). Tampouco de uma concepção pagã segundo a qual não demos a Deus a parte que lhe cabe, e portanto Ele faz beicinho e nos castiga. Um irmão polonês me disse há vinte anos: É normal que na França vocês não tenham mais vocações: vocês não rezam o rosário, não celebram a missa. Isso me irritou um pouco: primeiro porque celebramos a missa e rezamos o rosário; e sem querer parecer esnobe, a análise do processo de secularização era um pouco simplista demais. Imagino que, vinte anos depois, a evolução da sociedade polonesa o tenha levado a rever o próprio julgamento, e a compreender que o templo que Deus deseja não é uma filialzinha de onde Ele recolhe sua parte do bolo e da qual, em troca, cuida de nós. A ideia de um Deus que resolve nossos problemas e organiza nossos triunfos, a imagem do Deus tampão, morreu na cruz.
Então, o que tudo isso significa? Não pretendo esgotar o tema, mas faço duas observações.
Primeiro: Deus reprova os homens por terem pensado primeiro em si mesmos e depois Nele. Não um capricho divino, mas um deslocamento. A vida batismal, a vida religiosa, nos chamam fortemente a isso. É esse o segredo? A renúncia, simplesmente? Isso é tão antigo quanto o jovem rico. Sem dúvida, mas não necessariamente tão evidente.
Efeito geracional: na minha formação religiosa, não muitos anos atrás, não se falava muito disso, apresentando-se antes a dimensão positiva e realizadora da nossa vida. Mas isso só é possível se tivermos renunciado a nós mesmos: não ao ser nós mesmos, ao pensar, falar, defender nosso ponto de vista, viver. Mas a renunciar precisamente a conseguir: essa é a lição do jovem rico, que não quer fazer o mal, mas quer (ainda!) ter sucesso na vida. A pressão da felicidade o obsedia: é dela que deveria se libertar. Cuidar do templo mais do que da própria casa significa não se levar tão a sério, ou mais exatamente, saber que o que é sério em nós é o que Deus realiza em nós. Não se trata mais de ter sucesso na vida, mas mais modestamente de conseguir viver: apesar das oportunidades perdidas, dos mal-entendidos, das absurdidades, não deixar-se vencer pela amargura.
Paul-Dominique, que ensinou marxismo a vida inteira, quando teria preferido São Paulo: sua alegria de velho irmão, sem uma gota de amargura, é conseguir viver. Quando poderia ter ficado ruminando, porque não lhe foi permitido realizar a própria vida.
Isso questiona nossa capacidade de enfrentar contrariedades e fracassos, até mesmo rejeições injustas. Se não sabemos superar a humilhação, seguir Cristo será complicado. O que mostramos às pessoas a quem pregamos? É uma linha muito sutil: tampouco fazer o elogio da humilhação… Mas, em geral, a própria vida se encarrega disso. O essencial é não estar desarmado. O Evangelho nos alimenta a cada página nesse tema.
O uso abusivo dessa renúncia cristã é uma caricatura, uma careta diante de um sorriso. Porque o que separa uma da outra é o abismo entre destruir e doar.
Segundo: doar é precisamente a finalidade do Templo, que é o lugar do sacrifício.
Ora, o Templo de Deus sois vós: minha vida, para aprender a me doar na sequela de Cristo. E enquanto isso não acontece, há a esterilidade que Ageu denuncia. Se a vida religiosa pode servir à Igreja e ao mundo, é como escola de doação de si. Que não tem nada a ver com autodestruição. Porque uma verdadeira concepção de doação de si não se opõe à antropologia do indivíduo autônomo: em certo sentido, ela a pressupõe e a transcende. Se nossa vida religiosa não ajuda a tornar-nos nós mesmos (não no sentido do sucesso, não volto a isso), se impede que eu exista como sujeito, então não posso me doar. Para me doar, deve existir um eu. A cruz de Cristo não é a coroação de uma vida de silêncio e santa discrição, mas o dom generoso e total, sem amargura, de uma vida plena e verdadeira.
Entre os dramas do abuso está a destruição, parcial ou total, da minha capacidade de doar-me. E é precisamente isso o que tenho de mais precioso. A crise dos abusos nos obriga a reexaminar nosso vocabulário, nossa teologia. É uma oportunidade: redescobrir o verdadeiro sentido das noções, libertadas de usos perversos. Não abandonar esses termos — renúncia, sacrifício — porque às vezes foram transformados em instrumentos de destruição. Relê-los à luz desses ensinamentos dolorosos não significa colocar uma tampa sobre algo, mas continuar a meditar a sequela de Cristo.
Eis, portanto, o programa que Ageu nos propõe no retorno do Exílio, quando tanto há a reconstruir na Igreja e em nossas congregações: começar reconstruindo o Templo, trabalhar nossa capacidade de nos doar realmente, livremente, sem nos preocuparmos com o sucesso. Se conseguirmos, não estará tudo realizado: restarão muitas coisas para seus grupos de trabalho. Mas todo o resto nos será dado em acréscimo.
Leia mais
- França religiosa: o legado de Véronique Margron
- Abuso a conta-gotas na vida religiosa. Entrevista especial com Véronique Margron
- Os abusos na sociedade e na Igreja – da cultura do silenciamento à cultura do cuidado
- "Para mim, a vida religiosa foi uma escola de liberdade". Entrevista com Véronique Margron
- Especialista em abuso sexual clerical aconselha cardeais sobre a eleição do próximo Papa. Entrevista com Hans Zollner
- Papa se reúne com comissão de salvaguarda enquanto enfrenta teste decisivo
- Seguimento de Jesus = Esvaziamento do “ego”
- E o Concílio descobriu a liberdade de consciência
- “A espiritualidade começa quando a gente cuida do outro”, afirma Marcelo Barros
- Diante do mal. Artigo de Cristiana Scandura
- Abuso espiritual: a manipulação invisível. Artigo de Eliseu Wisniewski
- “O caminho para uma santidade ao alcance de todos”, segundo Francisco
- Dignitas... por que infinita? Artigo de Vincenzo Bertolone
- Legionários de Cristo, dados chocantes: em 80 anos foram abusados 175 menores
- França. Escândalos sexuais na Igreja: “A situação é realmente crítica”
- França. Abuso sexual na Igreja: dois anos depois de seu relatório, as dúvidas de Jean-Marc Sauvé
- Vaticano nomeia juízes para julgamento do ex-artista jesuíta Rupnik acusado de abusar mais de 20 mulheres
- O Papa confirma ‘Vos estis lux mundi’, o procedimento contra abusos
- Motu Proprio "Vos estis lux mundi". Padre Zollner: "O passo mais importante dos últimos anos"
- Vaticano exige maior transparência, mais indenizações e a participação das vítimas, com voz e voto, nos processos de reparação
- Abusos: por uma espiritualidade de reparação. Discurso do Papa Francisco
- O enfrentamento dos abusos sexuais na Igreja Católica
- Papa Francisco menciona os escândalos que “desfiguraram o rosto da Igreja”