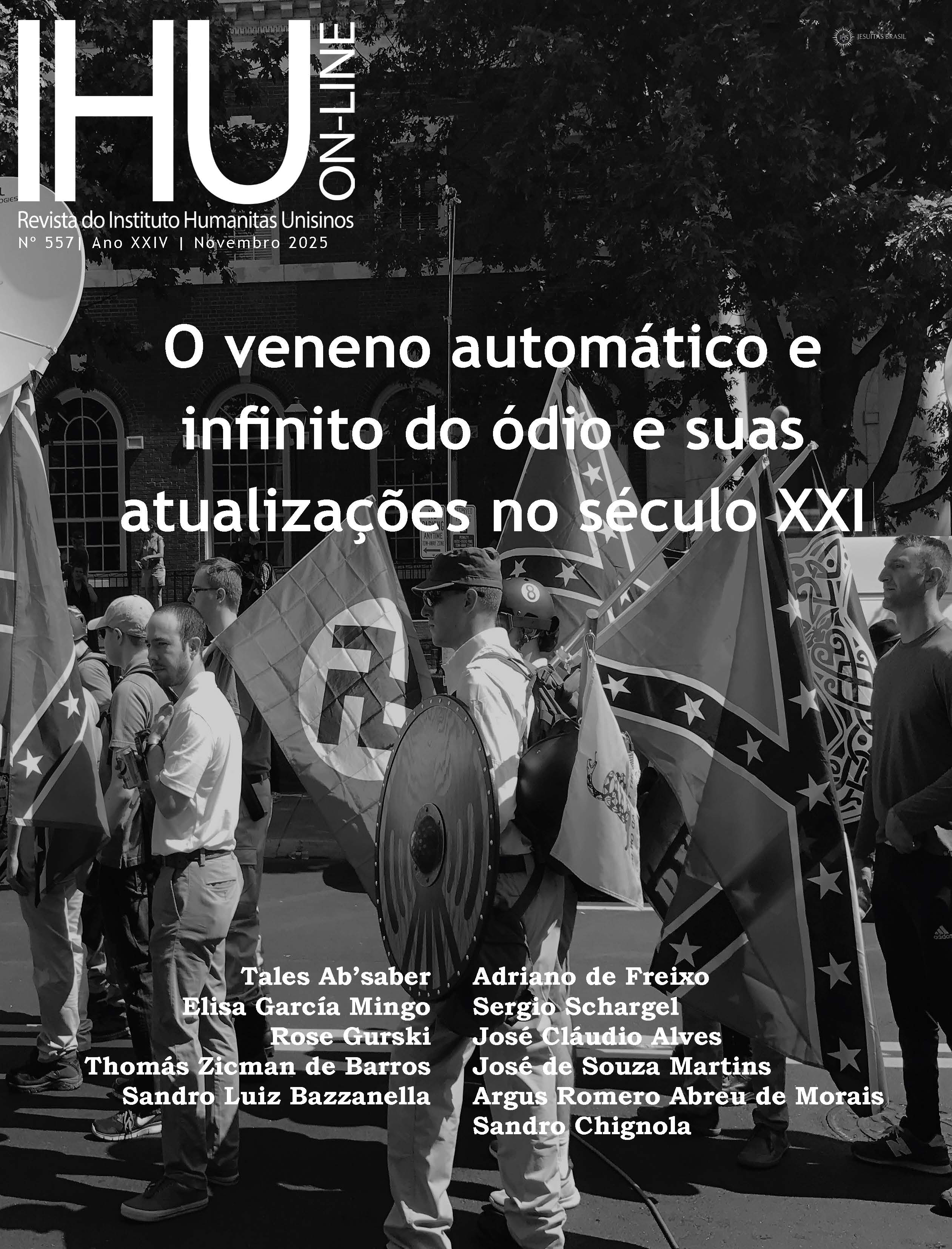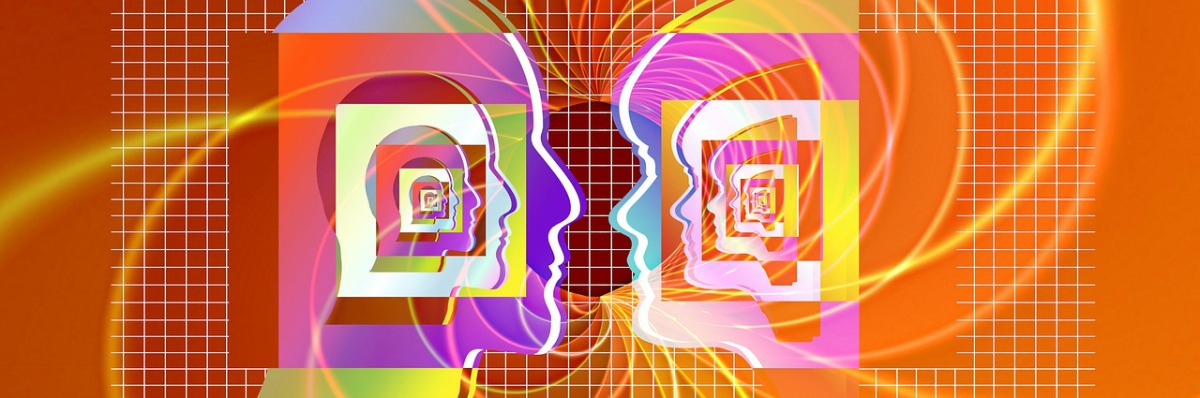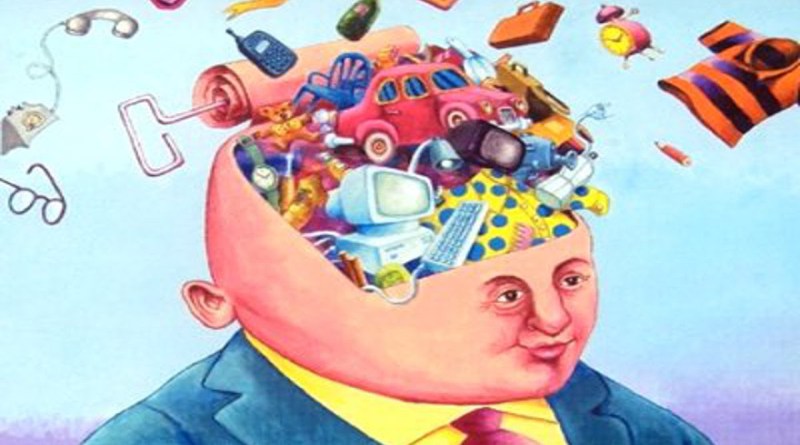08 Novembro 2025
"É dentro desse arcabouço de ideias – de que o interesse de cada indivíduo deve ser considerado porque, para cada um de nós, a nossa própria segurança é extremamente importante – que foi desenvolvida a visão política do Iluminismo. E esta é a raiz do individualismo moderno. Surgiu também uma visão reformadora romântica – um sonho de seres estranhos, isolados e lúcidos que são ao mesmo tempo muito mais egocêntricos e enormemente melhores no planejamento racional do que quaisquer membros reais da nossa espécie. No entanto, esse planejamento racional, além de não se efetivar na vida de todos, e traz cada vez mais tensões para a vida comum neste planeta. As crises na convivialidade da atualidade são mostras disso, e resultam paradoxais num mundo que acreditou tanto na razão no progresso. Tensões sociais, culturais, raciais, religiosas, econômicas e ceticismo e niilismo em relação ao futuro tão comuns no nosso tempo são evidências de que nossas concepções modernas demandam reparos urgentes."
O artigo é de José Costa Júnior.
José Costa Júnior é professor de Filosofia no Instituto Federal de Minas Gerais (Campus Ponte Nova) desde 2014. Doutor em Ética e Filosofia Política pela Universidade Federal de Minas Gerais (2017), mestre em Filosofia da Literatura pela Universidade Federal de Ouro Preto (2011), bacharel e licenciado em Filosofia também pela Universidade Federal de Ouro Preto (2009). Atuou como pesquisador no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (2021-2022) e no Centro de Estudos Brasileiros da Universidad de Salamanca, na Espanha (2023). É pesquisador vinculado ao projeto "(Women) In Parenthesis", desenvolvido no Reino Unido, trabalhando especificamente com o legado da filósofa Mary Midgley.
Eis o artigo.
Uma experiência comum do nosso tempo é deixarmos nossas vidas pacatas e estáveis no interior de países do Sul Global em busca de possibilidades e realizações nas metrópoles e centros de algum desenvolvimento. As promessas e sonhos de uma vida melhor estimulam a procura por novas oportunidades e objetivos em outros locais ou em instituições que possam abrir caminhos e portas dentro da ordem econômico-cultural vigente. De forma concomitante, outra experiência comum do nosso tempo é a insatisfação que essa busca pode acarretar, uma vez que não necessariamente haverá o encontro com a realização e com as promessas de sucesso esperadadas. Nas décadas iniciais do século XXI, muitos de nós vivenciamos tais conflitos, de alguma confiança no futuro, junto com o medo das possibilidades em aberto e as tensões de todos os gêneros no mundo globalizado que nos aguardava.
Aqui, um episódio que envolve traços dessas tensões da vida nesse período nos vêm à mente. Quando estudante de graduação numa universidade brasileira, aproveitei um recesso acadêmico para voltar à minha cidade e passar algum tempo com a família. O ano era 2006 e viver um pouco da tranquilidade da vida ali era muito bom. Há algum tempo distante, estar ali era uma oportunidade de reencontrar amizades, paixões e um resquício de uma vida segura e estável. No entanto, um acontecimento impactou decisivamente esse planejamento. Uma facção criminosa paulista havia organizado uma onda de ações de ataque por todo o estado, em represália a mudanças estruturais nas penitenciárias paulistas. Os alvos principais eram agentes de segurança pública em delegacias e postos policiais e também alguns fóruns de justiça. Num tempo em que não havia Internet, as imagens dos ataques eram veiculadas na televisão e chegavam ao interior do estado, numa mistura de informação e distribuição de pânico. A cena da Avenida Paulista vazia durante um dia de semana evidenciava o medo e a insegurança durante os ataques de maio de 2006. Os ataques resultaram em dezenas de mortes de agentes de segurança e centenas de mortes de civis nos dias posteriores.
Há algum risco de que a memória nos traia, mas uma cena que marcou dessa situação brutal naquele momento foi o fechamento de uma das ruas principais de nossa pequena e pacata cidade, onde ficava o Fórum de Justiça, devido ao risco de ataques. Outras cidades haviam sido atacadas e provavelmente uma orientação geral estadual foi que as vias fossem fechadas – evitando assim mais ataques. Dadas as circunstâncias, as famílias paulistas fecharam-se em suas casas e meus planos e estratégias para aquele período foram impactados. Pela primeira vez na vida, senti o dito direito de “ir e vir” interrompido devido aos riscos da violência da metropóle que agora fechava nossas ruas. A cobertura televisiva das “ações terroristas” do “mundo do crime”, noticiando os números de mortos e feridos nos ataques, retroalimentava as tensões e contribuia para “tudo parasse”. Como tudo aquilo era possível? Como a brutalidade cresveu a tal ponto? Como tal estado de coisas podia chegar até nós, protegidos pela calma e pela distância?
Meses depois que tudo isso passou, em agosto de 2006, outro acontecimento ligado à facção criminosa voltou a chamar a atenção e impactar o público. Numa ação que visava manifestar os descontentamentos e fazer exigências sobre as condições da vida no cárcere, um jornalista e um cinegrafista de uma grande rede televisiva foram sequestrados durante o seu trabalho. A exigência para a libertação dos sequestrados era a leitura de um manifesto da facção, a ser transmitido em rede nacional pela televisão – exigência devidamente cumprida durante uma madrugada, talvez para evitar uma grande audiência naquela veiculação. Mais uma vez, o “mundo do crime” chegava até nossas casas e agora ainda fazia denúncias e exigências. Os pesquisadores Bruno Paes Manso e Camila Nunes Dias descrevem o episódio no livro A Guerra: A Ascenção do PCC e o mundo do crime no Brasil (2018), obra fundamental sobre a criminalidade brasileira na atualidade:
À 0h28 de domingo, o repórter César Tralli entrou no ar em rede nacional num plantão de 3 minutos e 36 segundos. Informava a condição imposta pelo PCC: a veiculação da íntegra de um manifesto produzido pela facção com reivindicações a respeito do sistema carcerário. A Globo só não veiculou alguns trechos do DVD em que eram mostradas armas pesadas, como fuzis, pistolas e bananas de dinamite. No filme, aparece um homem jovem, com uma touca ninja e um blusão azul, lendo um texto. Durante a leitura, ele faz algumas confusões como trocar a palavra “iluminismo” (referência ao movimento iluminista do século XVIII) por “ilusionismo”. Ao fundo, aparece a frase pichada “PCC luta pela justiça carcerária Paz e Justiça”. No manifesto, ele critica o rigor das punições e condições dos presídios (p. 145).
Na cena apresentada, a figura ameaçadora de um jovem realiza uma leitura nervosa e com dificuldades de expressão. Quando se revê a filmagem amadora hoje, é impossível não pensar na ousadia da ação. Ali, lido em rede nacional, um manifesto com exigências era exposto, numa estética própria e agressiva, criando uma atmosfera que nos trazia mais uma vez tensões de um mundo distante, que nos parecia alheio, mas que nos chegava pelas ondas televisivias. Relendo os estudos e análises sobre tais acontecimentos de então, nota-se que o manifesto lido traz uma confusão curiosa, que hoje, com alguma informação adicional, estimula reflexões. Vejamos um trecho do que ali foi exposto pelo jovem encapuzado, no qual o leitor confunde termos relevantes para as suas exigências, conforme a transcrição realizada por Manso e Dias:
Como integrante do Primeiro Comando da Capital venho pelo único meio encontrado por nós para transmitir um comunicado para a sociedade e os governantes. A introdução do Regime Disciplinar Diferenciado, pela Lei 10.792/2003, no interior da fase de execução penal, inverte a lógica da execução penal. […] O Regime Disciplinar Diferenciado agride o primado da ressocialização do sentenciado, vigente na consciência mundial, desde o Ilusionismo e pedra angular do sistema penitenciário nacional, inspirado na escola da nova defesa social. […] Queremos um sistema carcerário com condições humanas, não um sistema falido desumano no qual sofremos inúmeras humilhações e espancamentos. Não estamos pedindo nada mais do que está dentro da lei (p. 146).
Não sabemos se a confusão presente no manifesto, que continua num grande parágrafo, entre os termos “Ilusionismo” e “Iluminismo” envolve o nervosismo do leitor ou uma grafia incorreta no texto. Para além do engano, a referência às circunstâncias históricas nas quais foram desenvolvidas as noções direitos humanos, respeito à autonomia, dignidade e soberania é rica, evidenciado um conhecimento amplo sobre as próprias circunstâncias por parte do leitor próximo do mundo do crime. Assim, começando pelo revisitar dessas memórias, e juntamente com leituras sobre as construções e consequências da Modernidade – suas promessas e frustrações – tais episódios também estimulam algumas reflexões. É o que faremos no que segue, contando também com o aporte de outras análises e hipóteses.
Esse conjunto de memórias e a revisita àqueles acontecimentos do ano de 2006 surgiram a partir da leitura de algumas publicações de autoria do indiano Pankaj Mishra (1969). Oriundo de um lugar parecido com o nosso no distante Sul Global – uma história duramente marcada pela colonização e com dificuldades de inserção no mundo moderno – Mishra é jornalista e ensaísta, com publicações em diversas revistas literárias do mundo ocidental, além de participar de amplos debates políticos e culturais sobre as relações entre as visões e conexões do Ocidente e do Oriente. Seus escritos e análises são fortemente marcados pela experiência colonial, além da consideração sobre a história e suas interpretações pela cultura ocidental.
Além de obras editadas, Mishra publicou Butter Chicken In Ludhiana: Travels In Small Town India (1995), An End to Suffering: The Buddha in the World (2004) e Temptations of the West: How to be Modern in India, Pakistan and Beyond (2006), obras de cunho jornalístico nas quais busca apresentar os desafios da modernização da Asia, inserida agora nos contextos da globalização e o efeito dessa mudança na vida das pessoas comuns. Já em From the Ruins of Empire: The Intellectuals Who Remade Asia (2012), Age of Anger: A History of the Present (2017), livro que abordaremos mais especificamente aqui, e Bland Fanatics: Liberals, Race, and Empire (2020), o autor analisa como as promessas e influências da Modernidade não necessariamente se efetivaram, e o mundo de progresso e realização desejável não chegou para todos – juntamente com as consequências da negação desses progressos.
Mishra também é escritor de ficção, com duas obras sobre as tentativas e tensões da busca por novos horizontes no mundo dito moderno. The Romantics: A Novel (1999) e Run and Hide: A Novel (2022) abordam o desafio de personagens e sua busca pelos horizontes que a história promete, a dificuldade de abandonarmos nossos laços e raízes e os modos pelos quais somos seduzidos por tais promessas. Sua última publicação foi The World After Gaza: A History (2025), uma crítica combativa aos modos pelos quais a dita cultura humanista do Ocidente pode ser seletiva e virar perigosamente as costas para a brutalidade quando isso convém. É curioso que um autor tão reflexivo sobre muitos dos desafios pelos quais passamos não tenha sido traduzido e publicado no Brasil, com excessão de alguns artigos e entrevistas. Conforme veremos, suas análises podem nos ajudar a analisar alguns dos desafios da convivialidade brasileira, de alguma forma presentes nas tensões e conflitos do mês de maio de 2006.
A confusão entre “Iluminismo” e “Ilusionismo” citada acima nos remete a um ensaio intitulado “A política na era do ressentimento: O tenebroso legado do Iluminismo” publicado por Mishra numa coletânea de textos que analisam o nosso tempo de 2017 (A grande regressão: Um debate internacional sobre os novos populismos – e como enfrentá-los – organizada por Henrich Geiselberger – traduzida para o nosso idioma em 2019). Seu objetivo no ensaio é mostrar como os nossos principais conceitos e categorias oriundos da Modernidade, dissecados em três décadas de liberalismo economicista, não parecem “capazes de absorver uma explosão de forças descontroladas: entre outras coisas, as massas de repente dão a impressão de serem muito mais maleáveis e imprevisíveis do que supúnhamos. Por conseguinte, grassam a confusão e o espanto entre as elites políticas, empresariais e jornalísticas” (p. 176). Nesse sentido, as várias manifestações de descontentamentos variados estão abrindo os “olhos para os fiascos do capitalismo global; em particular, para o não cumprimento de sua promessa de prosperidade generalizada e para seu menosprezo pelo princípio democrático da igualdade”.
Segundo a análise de Mishra, as concepões políticas tradicionais continuam a ter uma visão definida pela suposição de que os indivíduos são atores racionais, próximos do modelo do Homo economicus formulado por Adam Smith no século XVIII. Segundo esta formulação os desejos materiais egoístas constituem a principal fonte de motivação para a vida, havendo frustração quando tais desejos não são realizados, e apaziguamento quando se obtém a satisfação. No entanto, e este seria o “legado tenebroso” do Iluminismo, uma vez que tal noção da motivação humana surgida naquele período histórico, “postulou a capacidade humana de identificar racionalmente interesses individuais e coletivos” (p. 177) como traço definidor de nossa condição. Dentro desse esquema explicativo, que acabou como um pressuposto político comum nas décadas finais do século XX, uma concepção próxima do “burguês egoísta”, tornou-se a norma entre os seres humanos, um sujeito dotado de livre-arbítrio, cujos desejos e instintos naturais são moldados por sua motivação última: perseguir a felicidade e evitar a dor.
No entanto, tal concepção negligencia outros fatores que também estão presentes na vida humana, como o medo de se perder a dignidade e o status, a desconfiança em relação às mudanças na organização básica da vida e a atração natural que envolve o que é familiar. Além disso, Mishra aponta que a concepção tradicional da Modernidade de humanidade não deixa espaço para impulsos mais complexos como a vaidade e o medo de parecer vulnerável ou a preocupação com a própria identidade e honra. A visão hiper-racionalista, obcecada por um progresso material que, em tese, está ao alcance e é do desejo de todos, acaba por não notar a difícil situação daqueles que perdem esse jogo ou que se encontram numa posição de inferioridade. Essa tensão foi identificada na literatura e na filosofia em vários momentos, como por exemplo nos estudos sobre o “ressentimento” desenvolvidos na crítica filosófica de Friedrich Nietzsche e a noção de “homem do subsolo”, tão presente na literatura de Fiódor Dostoiévski.
No entanto, o problema se avoluna na vida contemporânea. Cada vez mais temos “convidados indesejados para o banquete da vida”, nos termos de Mishra, que possuem grande dose de tormentos e conflitos no interior do eu, surgidos a partir de negações e exclusões de um mundo que parece produzir satisfação para poucos. Isso se dá devido ao fato de que, muito embora os ideais da democracia moderna jamais tenham sido tão populares, sua realização vem se tornando progressivamente difícil, senão impossível, nas condições da globalização neoliberal que vivenciamos. Nesse sentido, o desejo enfurecido de igualdade se combina com a busca constante e doentia de prosperidade, comandada pela economia global de consumo, agravando tensões e contradições na vida íntima de cada um, as quais ganham então expressão na esfera pública. Não é incomum vivermos num tempo de ostentação de bens materiais e da procura massiva por “coachs” e treinamentos que, em tese, levarão à riqueza e à prosperidade com mais facilidade.
Nesse sentido, segundo Mishra, com desejo enfurecido por igualdade se combina com a busca de prosperidade, numa economia global de consumo, agravando tensões e contradições na vida íntima de cada um, e que acabam por ganhar expressão na esfera pública. Junto à isso, as disparidades em termos de classe e raça hoje existentes e observáveis por toda parte, inflamadas por noções ampliadas e expandidas de aspiração individual e igualdade, estimulam reações e emoções difíceis de ser controladas. Trata-se de uma experiência generalizada da modernidade, que pôs em um ressentimento existencial contra a existência do outro, cuja origem remonta a uma combinação intensa de inveja e sentimentos de humilhação e impotência, que, ao se enraizar e aprofundar, envenena a sociedade civil e fragiliza a liberdade política:
O ressentiment, esse complexo de emoções, revela da forma mais patente o eu humano em suas relações fundamentalmente instáveis com o mundo exterior. [Jean-Jacques] Rousseau tinha uma compreensão profunda do fenômeno, ainda que jamais tenha usado a palavra. A seu ver, numa sociedade comercial as pessoas não vivem para si mesmas ou para seus países; vivem para satisfazer sua vaidade, ou seu amour-propre — o desejo e a necessidade de conquistar o reconhecimento dos outros, certificando-se de que eles tenham para com elas a mesma consideração que elas têm para consigo próprias (p. 186).
Dessa forma, não é incomum vivermos em circunstâncias parecidas com a vida em fins do século XIX, quando massas insatisfeitas e militantes começaram a se sentir atraídas por alternativas radicais a um terrivelmente prolongado experimento em racionalidade política e econômica, que traz resultados para poucos e raiva para muitos. Seja pela brutalização racista da política, seja pelos desejos de reversão da ordem social com igualdade extrema ou pela organização da vida à margem das sociedades, as reações aparecem. O ponto geral aqui é que a devastação e as promessas imcumpridas a partir dos fracassos do liberalismo racional pavimentou o caminho para soluções brutais, violentas ou marginais. Surpreedentemente, a raiz de nossas tensões permanece, como um conto de fadas que nunca abaca:
Nossa obsessão quantitativa com o que conta e que, portanto, pode ser contado e analisado há muito tempo desconsidera o que não conta: as emoções subjetivas. Há quase três décadas, a religião da tecnologia e do PIB, assim como o cálculo rudimentar do interesse egoísta, imposto ainda no século XIX, dominam a política e a vida intelectual. Hoje, a sociedade de indivíduos empreendedores, ordenada em torno de um mercado evidentemente racional, revela profundezas insondadas de miséria e desespero; e, assim, engendra uma revolta niilista contra a própria ordem (p. 194).
As reações e revoltas do nosso tempo, engendradas pelas insatisfações e objetivos inconclusos da vida na Modernidade, se alastram pelos variados espectros políticos. Observando a partir de outra tradição, Mishra consegue ver um engano fundamental na construção do nosso modo de vida, que acaba por criar distâncias materiais inatingíveis entre aqueles que convivem no espaço comum. No livro que amplia essa discussão, intitulado Age of Anger. A History of the Present, este indiano amplia suas reflexões, e, numa referência à filósofa Hannah Arendt, destaca que: “Na atualidade, os indivíduos estão diretamente expostos à ‘solidariedade negativa’ (da qual falava Arendt), numa época de competição acelerada em campos de jogos desiguais, onde é fácil sentir que não existe nem a sociedade, nem o Estado, e o que realmente existe é uma guerra de todos contra todos” (p. 19).
E aqui voltamos ao engano do jovem criminoso que leu o manifesto da facção criminosa na televisão no distante ano de 2006. Ao confundir “Iluminismo” com “Ilusionismo” ele comete um engano terminológico, mas talvez não tenha cometido um erro de leitura da história – inclusive naquela em que está inserido. Mesmo de forma inconsciente, descreve sua curiosa condição de alguém que existe num mundo que lhe afere uma humanidade universal de base iluminista, com direitos e cidadania, mas que ao mesmo tempo lhe considera um “convidado indesejado”. Não se trata necessariamente de uma vítima, uma vez que reage com brutalidade à tal condição, num tipo de violência que se alastra e que, em outros modelos e perspectivas, passa a fazer parte das opções políticas de nosso tempo. Há assim um caráter ilusório nesse modelo, que prometeu tirar universalmente o medo da indigência e da inferioridade, mas que acaba por empurar muitos ao subsolo e ao ressentimento. Mishra é econômico nas sugestões sobre o que fazer, mas seus diagnósticos, ao mesmo tempo endógenos e exógenos, estimulam reflexões sobre o nosso estranho modo de vida. Mas seria possível revisar velhor conceitos?
É de Immanuel Kant a descrição do Iluminismo como “a emergência do homem de uma imaturidade autoimposta”. No entanto, partindo das análises de Pankaj Mishra, é possível notar, no mínimo, algumas tensões no projeto histórico iluminista. O progresso, a ciência e a prosperidade inerentes ao programa não chegaram para todos, assim como a igualdade e o reconhecimento pleno de humanidade. Sobre esse último ponto, concepções sociopolíticas do século XIX como o darwinismo social buscaram justamente evidenciar cientificamente o fato de que alguns seres humanos possuem uma inferioridade natural. Dessa forma, o racismo e o colonialismo seriam assim práticas justificadas do ponto de vista científico. Tal tipo de projeto não possuia nenhum tipo de evidência experimental que o sustentasse, mas era a concepção ideológica dominante – no caso do darwinismo social, tratava-se de um erro biológico e filosófico grosseiro. No entanto, é fruto da expectativa iluminista de que a ciência possa nos guiar na realidade, inclusive revelando sobre nosso lugar na realidade.
Temos então um exemplo do que o historiador francês Antoine Lilti identifica como uma das “ambivalências da Modernidade” (2023), no caso, uma confiança perigosa na concepção de progresso, pautado pela razão, que nos levará ao futuro próspero. Conforme o argumento de Lilti, é inegável que tivemos uma série de progressos ligados ao Iluminismo e suas expecativas; no entanto, conforme a leitura de Mishra nos sugere, muitas das classificções e expectativas do philosophes do período se mostraram questionáveis ou excessivas. E surgem situações paradoxais entre as expectativas iluministas e o mundo que delas resultam. Temos assim um cenário de “ambivalências”, na medida em que há ao mesmo tempo, um programa emancipatório e elitista, universal e individualista, defensor da igualdade e racista, entre outras tensões.
Uma análise de fundo sobre a herança iluminista que estimula reflexões e evidencia um programa inconcluso, é a crítica da filósofa britânica Mary Midgley (1918-2018). Nascida ao final da Primeira Guerra e tendo vivenciado a brutalidade da Segunda Guerra Mundial, Midgley é produto de algumas dessas ambivalências. Sendo mulher, não tem espaço na vetusta Universidade de Oxford até que os homens sejam convocados para a Guerra, além de observar diretamente o violento declínio daquela que se dizia a mais ilustrada e pretensamente evoluída das sociedades. Sua geração de filósofas e filósofos precisa conciliar as expectativas de progresso e emancipação da Modernidade com a descoberta e libertação dos campos de concentração que lhes são contemporâneos. Nesse sentido, desenvolve seu trabalho lidando criticamente com algumas das fragmentações erigidas na filosofia moderna e suas consequências no mundo contemporâneo.
Num artigo com o curioso título de “Hidráulica filosófica”, publicado em 1992, Mary Midgley nos sugere considerar a situação de vivermos num local abastecido por água e que esteja equipado por processos de esgotamento sanitário. No entanto, por um momento o complexo sistema de encanamentos que faz com que esse sistema funcione. São muitos tubos e conexões, alguns mais recentes e outros mais antigos. Alguns passaram por consertos e outros continuam com vazamentos, também maiores ou menores, que demandam reparos urgentes ou nem tanto. Trata-se assim de uma rede fundamental para a manutenção do seu conforto e da funcionalidade de aspectos banais da nossa vida: lavar a louça do almoço e as roupas da semana, tomar banho e beber água todos os dias e manter-se afastado da sujeira. Dessa forma, quando alguma parte ou a totalidade do sistema falhar, sentiremos os efeitos: falta de água em função de rompimentos de canos, mau cheiro devido à problemas no esgoto, água suja em função de algum problema na chegada da água.
Enfim, um sistema complexo, amplo e vital, elaborado por outras pessoas ao longo do tempo e de acordo com as nossas necessidades mais básica. Quando falham, demandam reparos e revisões sob o risco de impactar decisivamente nossas vidas. Essa é a sua metáfora para o papel das construções filosóficas e conceituais nas nossas vidas. Assim como o encanamento, elas foram construídas há muito tempo, por outras pessoas, com outras necessidades. É normal que muitas vezes falhem e produzam efeitos no mundo da vida. É é aqui a filosofia é necessária: reparar e reestruturar nossos sistemas de pensamento, que muitas vezes possuem problemas que nos passam desapercebidos, mas que impactam decisivamente o modo como pensamos e lidamos com a realidade. Nesse sentido, a filosofia se parece com o “ofício de reparar os encanamentos e as conexões” que formam nossos sistemas de pensamento. E este seria o caso de grande parte da tradição iluminista.
Em The Myths We Live (2003) Midgley aponta que uma das principais expectativas do Iluminismo envolve a concepção de “contrato social”, na figura de individuos que promovem acordos entre si, considerando principalmente sua individualidade e subjetividade. No entanto, para Midgley, “O mito do contrato social é uma simplificação típica do Iluminismo” (p. 35). Seu desenvolvimento se deu de forma muito apropriada como uma resposta à doutrina do direito divido dos reis, numa defesa contra os conflitos religiosos e dominações que as monarquias praticavam nos séculos XVI e XVII. Porém, sua limitação está no fato de que sua constituição não deixa espaço para aqueles que estão distantes ou pertencem a outros que sejam por algum motivo diferentes. Nesse sentido, a noção de contrato social, fundamental para o reconhecimento do poder e da humanidade de alguns indivíduos, entra em conflito com outra ideia fundamental do Ilumnismo, que é o reconhecimento da universalidade da humanidade. Como conciliar as demandas cada vez mais crescentes do indivíduo com necessidades universais? Nas palavras de Midgley:
O tipo de individualismo que trata as pessoas, e na verdade, outros organismos, como entidades basicamente separadas em em competição – ignorando o fato de que a competição não pode começar de forma alguma sem haver grande cooperação para torná-la possível – tem sido a ideologia dominante nas últimas décadas. Hoje esse tipo de individualismo está sendo combatido, o que resulta em muita controvérsia” (p. 37).
Junto à essa concepção de individualismo que floresce na Modernidade, que também serve de exemplo como uma de suas ambivalências, Midgley destaca o desenvolvimento da concepção de que somos “naturalmente egoístas”. Midgley rastreia a poderosa influência do individualismo de volta à ideia do filósofo Thomas Hobbes, quem defendeu, grosso modo, no alvorecer da Modernidade que as pessoas são indivíduos egoístas que se reúnem na sociedade para perseguir seus interesses com mais segurança. Para Midgley, o mito do egoísmo natural se consolidou com o recente enfraquecimento no Ocidente da solidariedade social e do espírito comunitário pelo individualismo extremo. Assim, pensadores iluministas valorizavam muito corretamente a soberania do indivíduo e os direitos democráticos que fluíam dessa ideia. No entanto, o que é útil na política pode ser desastroso na esfera privada. O atomismo social o afasta do que é mais valioso na vida: o cuidado com os outros, a conversa, o convívio, o riso e o amor.
É dentro desse arcabouço de ideias – de que o interesse de cada indivíduo deve ser considerado porque, para cada um de nós, a nossa própria segurança é extremamente importante – que foi desenvolvida a visão política do Iluminismo. E esta é a raiz do individualismo moderno. Surgiu também uma visão reformadora romântica – um sonho de seres estranhos, isolados e lúcidos que são ao mesmo tempo muito mais egocêntricos e enormemente melhores no planejamento racional do que quaisquer membros reais da nossa espécie. No entanto, esse planejamento racional, além de não se efetivar na vida de todos, e traz cada vez mais tensões para a vida comum neste planeta. As crises na convivialidade da atualidade são mostras disso, e resultam paradoxais num mundo que acreditou tanto na razão no progresso. Tensões sociais, culturais, raciais, religiosas, econômicas e ceticismo e niilismo em relação ao futuro tão comuns no nosso tempo são evidências de que nossas concepões modernas demandam reparos urgentes.
As promessas incumpridas de um mundo próspero não chegaram para todos. De algum modo, é o que o jovem encapuzado afirma naquele manifesto. Dessa negação, floresce uma brutalidade pela qual é responsável, mas ao mesmo tempo, dela é sujeito. A sugestão de Midgley, de que as peças conceituais construídas no glorioso período identificado como “Iluminismo” já nos são funcionais fica clara aqui: o encapuzado é possuidor de direitos mas não é, é cidadão, mas não é, é gente, mas não é reconhecido como tal – nem sua identidade sabemos – aliás, quem será? O mundo construído por tais conceitos, pautado muito mais por individualidades e distâncias do que por solidariedades múltiplas, parece ter dificuldades em sustentar “contratos sociais”, principalmente para aqueles que não têm sua voz plenamente reconhecida. Talvez seja tempo de reconhecer que o engano que aquele jovem cometeu seja na verdade um aviso.
Referências
FELTRAN, Gabriel. Irmãos: Uma história do PCC. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.
LILTI, Antoine. A herança das Luzes: Ambivalências da Modernidade. Tradução de Andrea Daher e Luiz César de Sá. Niteroi Eduff, 2024. (2019)
MANSO, Bruno Paes; DIAS, Camila Nunes. A guerra: A ascenção do PCC e o mundo do crime no Brasil. São Paulo: Todavia, 2018.
MISHRA, Pankaj. “A política na era do ressentimento: O tenebroso legado do Iluminismo”. In: GEISELBERGER, Heinrich (Ed.). A grande regressão: Um debate internacional sobre os novos populismos – e como enfrentá-los. Tradução de Alexandre Hubner. São Paulo: Estação Liberdade, 2019. (2017)
MISHRA, Pankaj. Age of Anger. A History of the Present. Farrar, Straus and Giroux, 2017.
MIDGLEY, Mary. “Philosophical plumbing”. In: Royal Institute of Philosophy Supplements, Vol. 33, p. 139-151, 1992.
MIDGLEY, Mary. A presença dos mitos em nossas vidas. Tradução de Alzira Allegro. São Paulo: EdUnesp, 2014. (2003)
Leia mais
- Hobbes e Schmitt e a soberania como fundamento da política autoritária contemporânea. Artigo de Márcia Rosane Junges
- O medo como afeto constitutivo da modernidade. Artigo de Alexandre Francisco
- Hobbes e Schmitt e a soberania como fundamento da política autoritária contemporânea. Artigo de Márcia Rosane Junges
- Os neoautoritarismos filofascistas: o novo ovo da serpente. Artigo de Castor M. M. Bartolomé Ruiz
- O fascismo como um traço constitutivo das democracias liberais capitalistas. Entrevista especial com Felipe Lazzari da Silveira
- Fascismos: como vencê-los? Artigo de Alexandre Francisco
- Da revolução ao empreendedorismo de si mesmo: um Muro em Berlim. Artigo de Tarso Genro
- Não oferecer uma utopia é uma limitação imediata da esquerda. Entrevista com Vijay Prashad
- A esquerda se tornou uma espécie de gestora de crises do capitalismo. Entrevista especial com Vladimir Safatle
- 8 de janeiro: A democracia venceu, até quando? Artigo de Alexandre Francisco
- Teologia Política: Carl Schmitt, o profeta do caos. Artigo de Alexandre Francisco
- Janja impediu golpe de estado no Brasil. Artigo de Alexandre Francisco
- O desgaste político do judiciário. Artigo de Alexandre Francisco
- O Brasil na era dos esgotamentos da imaginação política. Uma nação de zumbis que têm na melancolia seu modo de vida. Entrevista especial com Vladimir Safatle
- A política contemporânea tende a ir para os extremos. Entrevista especial com Vladimir Safatle
- A verdadeira face do Supremo Tribunal Federal. Entrevista especial com Vladimir Safatle
- O que é um genocídio? Artigo de Vladimir Safatle
- O suicídio de uma nação e o extermínio de um povo. Artigo de Vladimir Safatle
- O dia no qual o Brasil parou por dez anos. Artigo de Vladimir Safatle
- Como “Deus, Pátria e Família” entrou na política do BrasilFim da Nova República?
- ''Não houve eleição em 2018''. Entrevista com Vladimir Safatle
- Como a esquerda brasileira morreu. Artigo de Vladimir Safatle
- A esquerda brasileira morreu? Artigo de Valério Arcary
- Psicologia do fascismo brasileiro
- O bolsofascismo brasileiro unifica a direita historicamente repulsiva às transformações sociais. Entrevista especial com Francisco Carlos Teixeira da Silva
- “A extrema-direita pegou o elemento da rebeldia da esquerda”. Entrevista com Miguel Urbán
- “A precarização do mundo do trabalho é o terreno onde se fertiliza o fascismo”. Entrevista especial com Gilberto Maringoni
- Fascismo brasileiro: como geramos este inferno
- 'Não existe empreendedorismo, mas gestão da sobrevivência', diz pesquisadora
- Pensamento crítico. “Para derrotar a extrema-direita, a esquerda deve ser radical”. Entrevista com Álvaro García Linera
- A armadilha da identidade
- “A crise da imaginação é determinada pela crise do próprio capital”. Entrevista com Ekaitz Cancela
- O identitarismo e seus paradoxos. Artigo de Marilia Amorim
- Gaza: o Ocidente não sabe de nada. Artigo de Pankaj Mishra
- “Como é possível que Israel continue a roubar territórios, matando quantos palestinos quiser a qualquer momento, e nada aconteça?” Entrevista com Pankaj Mishra