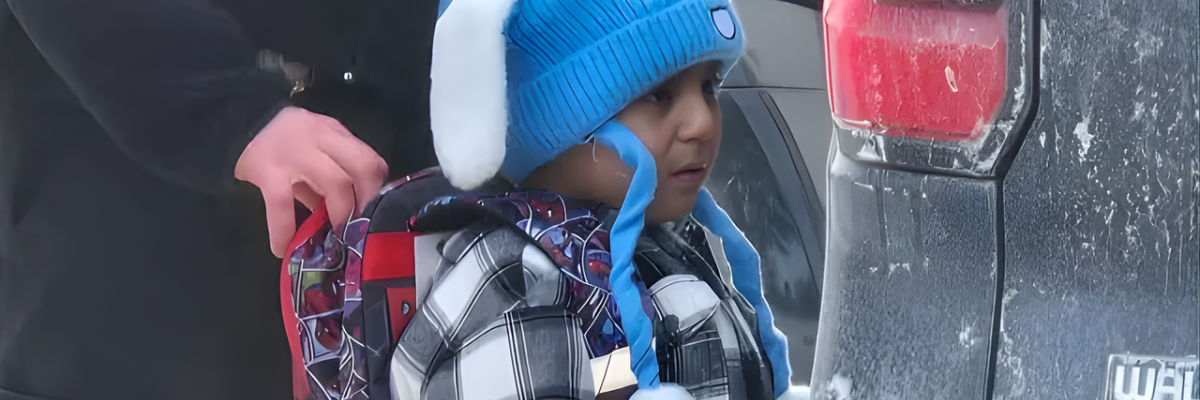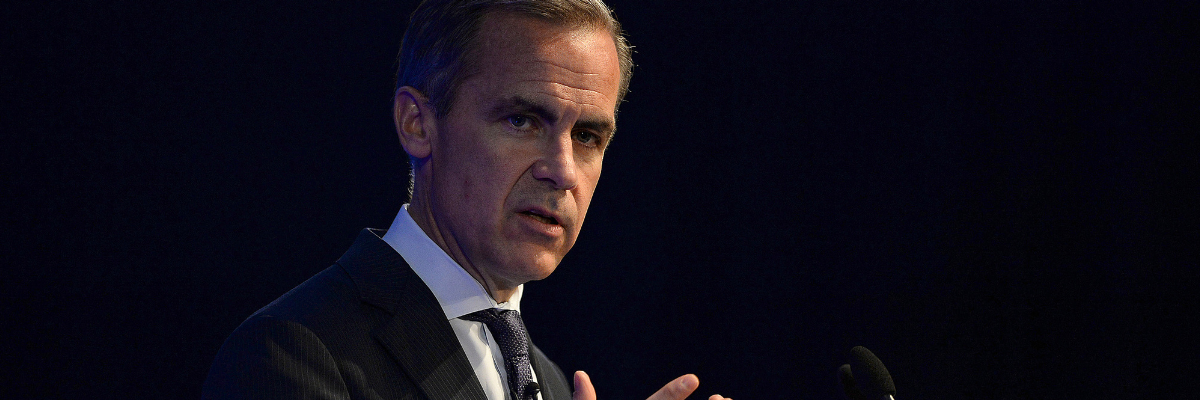31 Março 2025
À medida que Moçambique se aproxima do 50º aniversário de sua independência, seu partido governante se apega ao poder. A Frente de Libertação de Moçambique, que governa desde o processo de descolonização, é alvo de um crescente descontentamento social que se manifesta nas ruas. Assim como em outros países da África, os moçambicanos parecem buscar novos libertadores que os emancipem daqueles que conquistaram a independência, mas não conseguiram alcançar justiça, democracia ou desenvolvimento.
O artigo é de Marílio Wane, publicado por Africa is a country, e reproduzido por Nueva Sociedad. A tradução é de Mariano Schuster.
Marílio Wane é mestre em Estudos Étnicos e Africanos pela Universidade Federal da Bahia (Brasil) e é pesquisador na área de Patrimônio Cultural Imaterial em Moçambique.
Eis o artigo.
À medida que Moçambique se aproxima ao 50º aniversário de sua independência, o país atravessa uma crise política e de direitos humanos sem precedentes em sua jovem história como nação. O aniversário da independência, proclamada em 25 de junho de 1975, coincide ou se aproxima do de outras ex-colônias portuguesas na África: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau (que se independizou em 1973) e São Tomé e Príncipe (que se independizou em 1975), já que os processos históricos de libertação ocorreram de forma paralela e articulada, diante da luta contra um inimigo comum. Essa sincronicidade convida à reflexão sobre as experiências desses países nas últimas cinco décadas. Objetivamente, o balanço não é positivo, pois esses países estão entre as nações mais empobrecidas do mundo, como mostram diversos indicadores sociais e econômicos. Além disso, esses países sofrem com graves crises políticas marcadas pelo cansaço de suas populações diante das vicissitudes dos regimes atuais, especialmente em Moçambique, cujo caso é paradigmático de um problema ainda maior no continente.
Após as importantes transformações geopolíticas que ocorreram nos principais centros de poder global, surgiram no continente africano movimentos políticos que desafiam os regimes instaurados após a independência. Muitos os qualificam como movimentos de luta por uma "segunda independência", no sentido de que os movimentos de libertação do jugo colonial europeu, iniciados nas décadas de 1950, 1960 e 1970, se distorceram com o tempo, degenerando em regimes opressores e autoritários. Isso gerou uma crise de representação, baseada na percepção generalizada de que as elites políticas africanas sequestraram seus respectivos aparelhos estatais para satisfazer interesses privados e se manter no poder. Ainda mais grave é a ideia de que essas elites se aliaram com os antigos colonizadores europeus, assim como com outros atores estrangeiros, sob uma lógica de dominação neocolonial.
Sem dúvida, o exemplo mais eloqüente desse fenômeno é o caso da Aliança de Estados do Sahel (AES), um recente pacto de defesa mútua entre Mali, Níger e Burkina Faso. Trata-se de uma ação coordenada com o objetivo manifesto de eliminar a influência francesa na região, resultante do colonialismo e previamente instigada pelas elites políticas locais, depostas por golpes militares. Para isso, os líderes do movimento expulsaram as bases militares francesas (e até as embaixadas, em alguns casos) e redirecionaram os dividendos da exploração de recursos minerais para os respectivos cofres públicos. Ainda mais emblemática dos objetivos do movimento foi sua decisão unilateral de abandonar a Comunidade Econômica de Estados da África Ocidental (CEDEAO), o bloco de cooperação regional, alegando que se tratava de uma organização manipulada pelo Ocidente sob a liderança da Nigéria.
Em todo o continente, movimentos emergentes desafiam o status quo e expressam demandas de emancipação, participação e maior inclusão social. Esses movimentos expressam, de diferentes maneiras, as novas correlações de forças resultantes de dinâmicas sociais nacionais e regionais que interagem com transformações geopolíticas mais amplas. Consequentemente, seu sucesso ou fracasso dependerá de fatores como a solidez das instituições, o grau de organização da sociedade civil e, sobretudo, da reação dos regimes no poder diante de um conjunto de situações relativamente inéditas nos países africanos desde sua independência. O caso de Moçambique é, provavelmente, o mais ilustrativo.
De umas eleições controversas a um "governo paralelo"
Desde que foram anunciados os resultados das eleições gerais de 9 de outubro de 2024, uma onda de manifestações e protestos civis atingiu Moçambique, denunciando o que é percebido como fraude eleitoral a favor do Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), o partido que detém o poder desde a independência. Em 24 de outubro, os órgãos eleitorais deram a vitória a Daniel Chapo, o candidato oficialista, com 70,61% dos votos, frente a 20,37% de Venâncio Mondlane, apoiado pelo recém-criado Partido Otimista para o Desenvolvimento de Moçambique (centro-esquerda), mais conhecido como Podemos. No entanto, o processo eleitoral foi manchado por inúmeras denúncias de irregularidades, que começaram desde o processo de registro e se estenderam até o momento da votação. De fato, desde as primeiras eleições multipartidárias de 1994, as acusações de fraude têm sido recorrentes e amplamente documentadas. O fator determinante dessa situação é que o Frelimo mantém um controle quase absoluto das instituições estatais, incluindo os órgãos eleitorais e judiciais. No entanto, nesta ocasião, devido ao grande volume de acusações, o questionamento não veio apenas da oposição, mas também de diversos setores da s sociedade civil e até mesmo da comunidade internacional (em particular da União Europeia).
O fato é que, após o anúncio oficial dos resultados, o principal candidato da oposição convocou a população a protestar nas ruas. E, devido ao descontentamento generalizado com o agravamento das condições de vida no país, obteve uma resposta imediata. Os brutais assassinatos de Elvino Dias e Paulo Guambe, ativistas do Podemos, ocorridos em circunstâncias ainda não esclarecidas, agravaram ainda mais a indignação pública. Nesse contexto, e diante de uma repressão desproporcional e severa por parte das autoridades, as manifestações escalaram drasticamente. Nos últimos três meses, o país foi palco de episódios de verdadeira revolta popular e desobediência civil, como o bloqueio de rotas, a interrupção de atividades nos portos, aeroportos e postos fronteiriços, e a destruição de infraestrutura (especialmente delegacias de polícia e sedes do partido governante), deixando Moçambique em um estado de anomia que beira a ingovernabilidade.
A tensão atingiu seu ponto máximo na última semana de 2024, após a validação pelos órgãos constitucionais dos questionados resultados eleitorais. Durante essa fase das manifestações, as manifestações populares de revolta aumentaram e a repressão policial se intensificou, a ponto de organizações da s sociedade civil apresentarem acusações contra os responsáveis pela repressão a organismos internacionais por graves violações dos direitos humanos e crimes contra a humanidade. Ao começar 2025, com a esperada confirmação da vitória do Frelimo, a cerimônia de posse do novo presidente também foi marcada por fortes protestos e uma repressão policial desproporcional, que resultou em prisões e até mortes.
Durante a posse de Daniel Chapo, em 15 de janeiro, as manifestações foram isoladas pela polícia e depois reprimidas, supostamente por questões de segurança. Do ponto de vista simbólico, a cerimônia refletiu a notória desconexão entre o partido, outrora libertador, e a sociedade moçambicana. Em contraste, Venâncio Mondlane, que retornou ao país na semana anterior à posse do novo presidente, foi aclamado popularmente nas ruas de Maputo. Desde outubro, Mondlane havia se exilado, alegando que sua segurança estava em risco. Desde seu exílio, o candidato oficialmente derrotado convocou e organizou as manifestações, que incluíram greves e, especialmente, a não-pagamento das tarifas de transporte. Muitas manifestações terminaram em violência e tensões, gerando um clima de confusão generalizada pelo qual ambos os partidos foram responsabilizados. Além das controvérsias, o certo é que as manifestações convocadas pela oposição obtiveram um apoio popular massivo, em visível contraste com o poder oficial.
Aproveitando a falta de popularidade do presidente, Mondlane autoproclamou-se presidente da República por meio das redes sociais, de onde realiza a maior parte de sua mobilização social. Essa estratégia de comunicação tem sido um dos principais fatores que impulsionaram seu apoio popular, especialmente entre a numerosa população jovem, afetada pelo desemprego, pela extrema pobreza, pela violência e pelas baixas expectativas de futuro. De fato, como apontaram diversos analistas sociais moçambicanos, essas são as causas fundamentais do descontentamento popular, sendo a crise eleitoral a ponta do iceberg de problemas mais profundos. Nesse sentido, diversos setores da sociedade pediram uma iniciativa para promover um diálogo inclusivo entre o novo governo e a oposição, o que ainda não se concretizou, adiando assim a solução da crise.
É precisamente através das redes sociais que Mondlane instituiu uma espécie de "governo paralelo", emitindo "decretos presidenciais" baseados em agendas que contam com amplo apoio da população e que contradizem as decisões e políticas governamentais. Essa situação de ambiguidade resultou em diversos episódios de tensão social que podem se agravar nos próximos anos. O risco de que essas situações saiam de controle e se tornem cada vez mais violentas é elevado. Segundo dados publicados pela Plataforma Eleitoral Decide (uma organização da sociedade civil que tem monitorado os últimos processos eleitorais), foram registradas 353 mortes desde que as manifestações começaram em outubro. 91% delas foram causadas por disparos letais por parte da polícia. Segundo a organização, se essa situação de "dois governos" continuar, a tendência é que o mal-estar social aumente, o que provocará mais mortes e confrontos violentos.
Problemas e soluções no bairro
O ambiente de incerteza que se vive em Moçambique reflete um ambiente mais amplo, vivido no restante do continente, e que se vincula à resposta social contra regimes políticos que se consolidaram há décadas, após o alvorecer da independência africana. No nível regional, o rápido apoio dado pelos aliados históricos mais próximos do Frelimo – como o Congresso Nacional Africano (África do Sul), o Movimento Popular para a Libertação de Angola, a União Nacional Africana da Zâmbia e o Partido da Revolução de Tanzânia – que reconheceram a vitória eleitoral de seus "camaradas" mesmo antes da validação oficial dos resultados, é bastante sintomático.
Não é coincidência que alguns desses países enfrentem problemas semelhantes aos de Moçambique. Nas eleições do ano passado, o histórico Congresso Nacional Africano de Nelson Mandela foi obrigado a formar um governo de "unidade nacional" com a Aliança Democrática, o partido que representa o segmento branco da população. Essa situação deve-se à crescente impopularidade do partido que lutou contra o apartheid e governa o país desde 1994. Em Angola, por sua vez, existe uma enorme preocupação por parte do regime sobre o efeito potencial de contaminação que a situação em Moçambique pode gerar a nível local, dados os paralelismos entre as histórias de ambos os países.
Como contraponto, Botsuana celebrou eleições que puseram fim a 58 anos de governo do Partido Democrático, que havia permanecido no poder desde a independência, conquistada em 1966. Esse caso chamou a atenção por ser um ponto de inflexão, no qual a transição ocorreu sem contratempos. Botsuana é, de fato, um dos países mais prósperos da África, com taxas de crescimento econômico positivas e uma boa posição no índice de desenvolvimento humano, de acordo com os padrões do continente. Apesar de ser um país de escassa relevância estratégica na região, o exemplo de Botsuana oferece importantes lições para seus vizinhos, especialmente sob o ponto de vista da estabilidade política e do desenvolvimento socioeconômico.
Para Moçambique e os demais países africanos de língua portuguesa, o 50º aniversário da independência pode servir como um momento de reflexão que traga lições úteis para superar as difíceis condições de vida a que se vê submetida a grande maioria dos habitantes. Nos casos de Moçambique e Angola, os sistemas unipartidários sobreviveram ao estabelecimento da democracia liberal, dando origem a uma espécie de "multipartidarismo sem democracia", no qual persiste um controle quase absoluto sobre todas as instituições e esferas da vida pública. Como sugere o caso moçambicano, a excessiva concentração de poder pelos velhos partidos e movimentos de libertação, cuja legitimidade se baseia em lutas anticoloniais passadas, pode se tornar o principal fator de instabilidade e um obstáculo ao desenvolvimento. Consequentemente, os diversos movimentos de protesto por todo o continente apontam para soluções internas, como o fortalecimento da sociedade civil e mecanismos destinados a favorecer uma maior inclusão de diversos atores e setores da sociedade nos processos de tomada de decisão. Só assim todos poderão ser parte, de maneira plena, nas celebrações do 50º aniversário da independência.
Leia mais
- Ameaça de guerra civil ainda paira sobre Moçambique
- O que está acontecendo em Moçambique? Artigo de Flávio Aguiar
- Moçambique enfrenta dificuldades para lidar com a agitação pós-eleitoral e uma insurgência mortal
- Líder católico diz que Moçambique está "inexoravelmente mergulhado no caos"
- Moçambique. Mais de 61 mil crianças obrigadas a fugir em Cabo Delgado
- Novos ataques jihadistas em Moçambique têm como alvo missionários
- Moçambique. Terroristas matam 11 cristãos na província de Cabo Delgado
- Uma presença que desvela um outro olhar sobre o continente africano
- Moçambique. "Aqui o islamismo se funde com a raiva social, a população é vítima da luta pelo gás". Entrevista com Alex Zanotelli
- Moçambique. A religiosa sobrevivente do atentado: "Não temos intenção de abandonar a missão"
- Moçambique. Grupo católico diz que a insurgência no país ainda ameaça civis
- Moçambique. Apelo dos líderes religiosos de Cabo Delgado: é uma crise humanitária
- Moçambique: Cabo Delgado sofre com pobreza extrema e persistência da violência
- Moçambique: Cabo Delgado parece “um cenário de um filme de terror”
- Moçambique. O drama dos deslocados pela guerra em Cabo Delgado
- Moçambique. Francisco, ao bispo de Cabo Delgado: “O que posso fazer por vocês?”
- Moçambique – Conflito de Cabo Delgado: os excessos militares correm o risco de comprometer o apoio da população local
- Moçambique. O povo de Cabo Delgado quer paz
- Moçambique. O governador de Cabo Delgado nega a decapitação de 50 pessoas; O Bispo de Pemba reitera: "situação dramática"
- Terror em Cabo Delgado: Mia Couto diz que aos moçambicanos só resta “pedir socorro”
- Moçambique: Bispo de Pemba alerta para crise humana e cenário de fome em Cabo Delgado
- Moçambique. Papa Francisco telefona de surpresa ao bispo de Pemba, em Cabo Delgado