25 Janeiro 2024
O historiador Daniel B. Schwartz realiza um seminário sobre a história do gueto em sua instituição, a Universidade George Washington. “Quando ouvem a palavra gueto, os estudantes têm como principal referência o gueto negro. Também na Europa, esse termo retornou nas últimas décadas, com uso controverso, para falar dos enclaves de imigrantes, muitas vezes muçulmanos, que se formaram como resultado da descolonização e da imigração. É algo que me impressiona: esquecemos que essa não é uma ideia que vem dos EUA, vem da Europa; tudo começou com os judeus, não com os afro-americanos. Muitas vezes as pessoas não sabem nada sobre a origem italiana do termo”, afirma o professor ao “La Lettura”.
A entrevista com Daniel B. Schwartz é de Viviana Mazza, publicada por La Lettura, 21-01-2024. A tradução é de Luisa Rabolini.
Quando Schwartz, especializado em história do Judaísmo moderno na Europa e nos EUA, decidiu escrever um livro sobre a história dos guetos, quase imediatamente se deparou com a questão: o que é um gueto? Ghetto. Storia di una parola (Hoepli) é uma reconstrução da evolução dos vários e contestados significados da palavra, "ao longo dos séculos e dos continentes", desde a Veneza de 1516 aos Estados Unidos e a Alemanha, até os dias atuais.
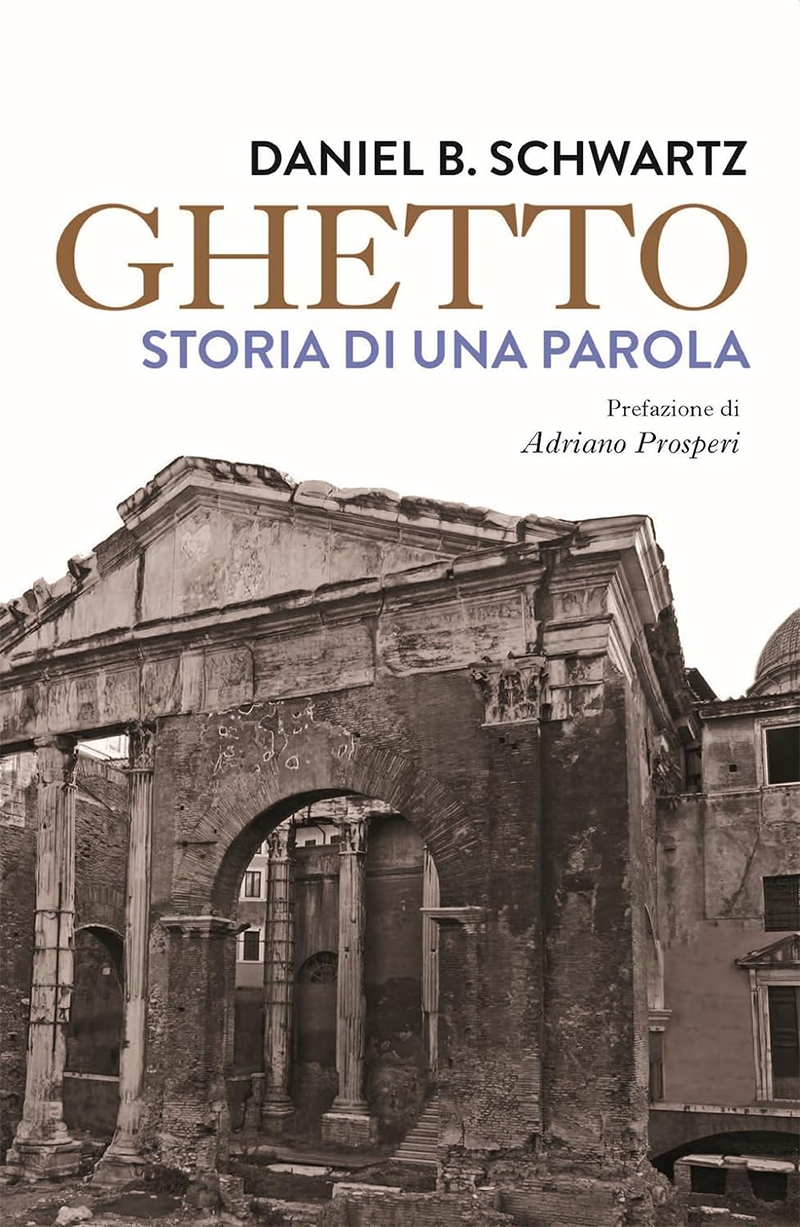
Ghetto. Storia di una parola
“Em 29 de março de 1516, a Sereníssima decidiu confinar os judeus a uma pequena ilhota na região setentrional de Veneza. Ordenou que os cristãos que viviam lá se mudassem para outro lugar e depois mandou que todas as fachadas para o exterior das casas e as margens da ilha fossem muradas e se construíssem duas portas, em pontos diferentes, a serem fechadas ao pôr do sol. O novo enclave veneziano não era nem o primeiro exemplo de “rua ou bairro dos judeus” — realidades que existem desde o início da diáspora, nos tempos antigos - nem o primeiro caso na Europa em que os judeus eram obrigados a viver num bairro fechado separando-os dos cristãos”, escreve Schwartz.
“O fato é que a criação de um bairro fechado e exclusivo para os judeus de Veneza marcou um divisor de águas histórico em pelo menos um aspecto fundamental, porque deu origem ao fatídico nexo entre a ideia de segregação e uma palavra especificação: gueto. A mais aceita das numerosas teorias sobre a etimologia da palavra reconduz a origem ao topónimo daquela ilhota da laguna veneziana, que já antes do edito de 1516 era chamada Ghetto Nuovo. Acredita-se que gueto deriva do veneziano “gettare”, que pode significar lançar, mas também despejar um metal liquefeito no molde, este último significado lembra a antiga fundição de cobre que existia onde o bairro judeu teria sido construído”.
Eis a entrevista.
Então, na sua opinião, antes de poder traçar a história, é preciso entender que a própria palavra se torna um “termo guarda-chuva” para vários tipos, bastante diferentes, de instituições e lugares?
Por exemplo, escrevo sobre a migração desse conceito da Europa para os EUA, mas também dentro da Europa. Entre os séculos XIX e XX, com a migração em massa de judeus do Leste europeus para cidades da Europa Ocidental e da América do Norte, criam-se enclaves étnicos: os residentes não eram obrigados a viver neles como no gueto de Veneza ou de Roma e, de fato, a população era um pouco mais misturada do que se imagina. E há guetos afro-americanos nas cidades do Norte dos Estados Unidos, considerados locais de verdadeira segregação: não eram obrigados a viver ali por lei, mas havia uma série de fatores, não só sociais e econômicos, mas estruturais e legais, que criavam essa situação. O termo foi usado de forma muito ampla. E pelo fato de ser cada vez mais associado aos negros estadunidenses na segunda metade do século XX, acabei refletindo sobre o que significou para os judeus ver associado a outro grupo esse termo tão entrelaçado com sua história, memória e identidade.
Os campos de refugiados são guetos?
É uma pergunta difícil. Um dos aspectos interessantes do termo é que é politicamente sensível. Não é simplesmente descritivo. Associá-lo a algo faz parte de uma argumentação controversa. Não sou especialista em campos de refugiados, mas podemos examinar alguns fatores: são locais onde as pessoas são obrigadas a ficar por lei ou podem sair? Até que ponto são homogêneos? Nem todos sabem que era possível sair dos guetos originais durante o dia e os não-judeus podiam entrar, mas à noite tinha que haver total separação.
Gaza é um gueto?
Em dezembro, Masha Gessen escreveu um artigo no “New Yorker”, intitulado À sombra do Holocausto, que falava sobretudo da política da memória do Holocausto, particularmente na Alemanha. Falando de Gaza, analisava o uso de definições como “prisão a céu aberto”. E Masha Gessen afirma: deveríamos chamá-la pelo seu nome, é um gueto. E não apenas um gueto, mas um gueto ao estilo Varsóvia do Holocausto. Gessen admite que existem algumas diferenças, mas dá a entender que o que eles têm em comum é mais importante e usa uma frase muito sensível sobre Gaza: o gueto é "liquidado", uma alusão direta ao que os nazistas faziam com os guetos depois de terem deportado os judeus.
De um ponto de vista sociológico podemos perguntar-nos se em Gaza existem aspectos de guetização: podemos observar que é muito difícil sair da Faixa por causa do cerco. Existem também critérios como a densidade populacional e a extrema pobreza. Há diferenças se olharmos para as motivações e funções dos guetos. Mas onde eu realmente traçaria a separação é quando se começa - algo que já acontece há tempo - a comparar Gaza ao gueto de Varsóvia no Holocausto. Eu não acho que seja comparável. Os guetos do Holocausto estavam ligados a um plano de genocídio muito mais amplo e explícito. E é aqui que vejo o ponto de ruptura dessas analogias. Mas não é só isso: acho que são comparações tão influenciadas por questões políticas e ideológicas que, no final, têm o efeito de inflamar em vez de iluminar.
O próprio termo tornou-se uma arma retórica, na sua opinião.
Hoje se fala do aparecimento de uma clara oposição binária entre opressor e oprimido, uma redução de conflitos históricos complexos a esse modelo. A ideia do gueto desempenha um papel. Outro aspecto interessante é como palavras provenientes do léxico da comunidade judaica tenham sido usadas por outras comunidades que se veem através das lentes da experiência dos judeus, mas essa última vem progressivamente sendo cancelada. Assim como acontece com o termo diáspora: historicamente é associada, especialmente na imaginação sionista, ao termo gueto. Mas hoje, quando as pessoas pensam na diáspora, pensam sobretudo na diáspora africana, chinesa, indiana, armênia, palestina. Termos da história judaica são adotados e os judeus muitas vezes tornam-se progressivamente irrelevante nessas histórias.
Essa oposição binária também pode estar ligada à identificação dos judeus como “brancos”?
A ideia do judeu branco faz parte da transferência do termo gueto dos judeus para os negros no pós-guerra estadunidense. O famoso escritor afro-americano James Baldwin escreveu um artigo no ‘New York Times’, publicado em 1967, Negros são antissemitas porque são antibrancos. Os judeus se tornaram um símbolo de brancura porque se tornaram o rosto da sociedade branca nesses guetos que inicialmente haviam sido muitas vezes guetos judeus. Já não moravam mais ali em grande número, exceto os idosos, mas eram lojistas, proprietários das casas, superintendentes escolares, professores.
E nesse texto escrito no verão de 1967, no auge das revoltas urbanas negras, Baldwin ressalta que o fato de não serem reconhecidas as semelhanças entre a revolta do gueto de Varsóvia e aquelas dos negros de guetos como Watts causa ressentimento. Isso mostra também como a brancura foi teorizada e elaborada como primordial símbolo da identidade hegemônica opressiva. E os judeus, num certo sentido, encontram-se num espaço liminar.
Leia mais
- Suárez e suas fontes sobre a moralidade do ano defensivo. Conferência com Daniel Schwartz
- "Houve muitos atos heroicos nos guetos e nos campos de extermínio", afirma Serrado Blanquer sobre os campos nazistas
- O céu escuro acima do gueto de Roma. Artigo de Lia Levi
- Em 16 de outubro de 1943, a invasão do gueto de Roma. Mais de 1000 pessoas levadas para Auschwitz. Apenas 16 retornaram
- A lista de Schindler dos judeus de Roma: “Mais de três mil salvos em igrejas e conventos”
- O levante do gueto de Varsóvia. Artigo de Marcello Pezzetti
- Lei sobre o Holocausto na Polônia. A grande traição de Varsóvia com Israel
- Masha Gessen: “Comparar Gaza a um gueto serve para aprender história”
- Gaza é um gueto? A comparação nos ensina sobre o mundo. Artigo de Masha Gessen
- ''Gaza tornou-se um gueto. Com o apartheid, Israel nunca construirá a paz.'' Entrevista com Zygmunt Bauman




