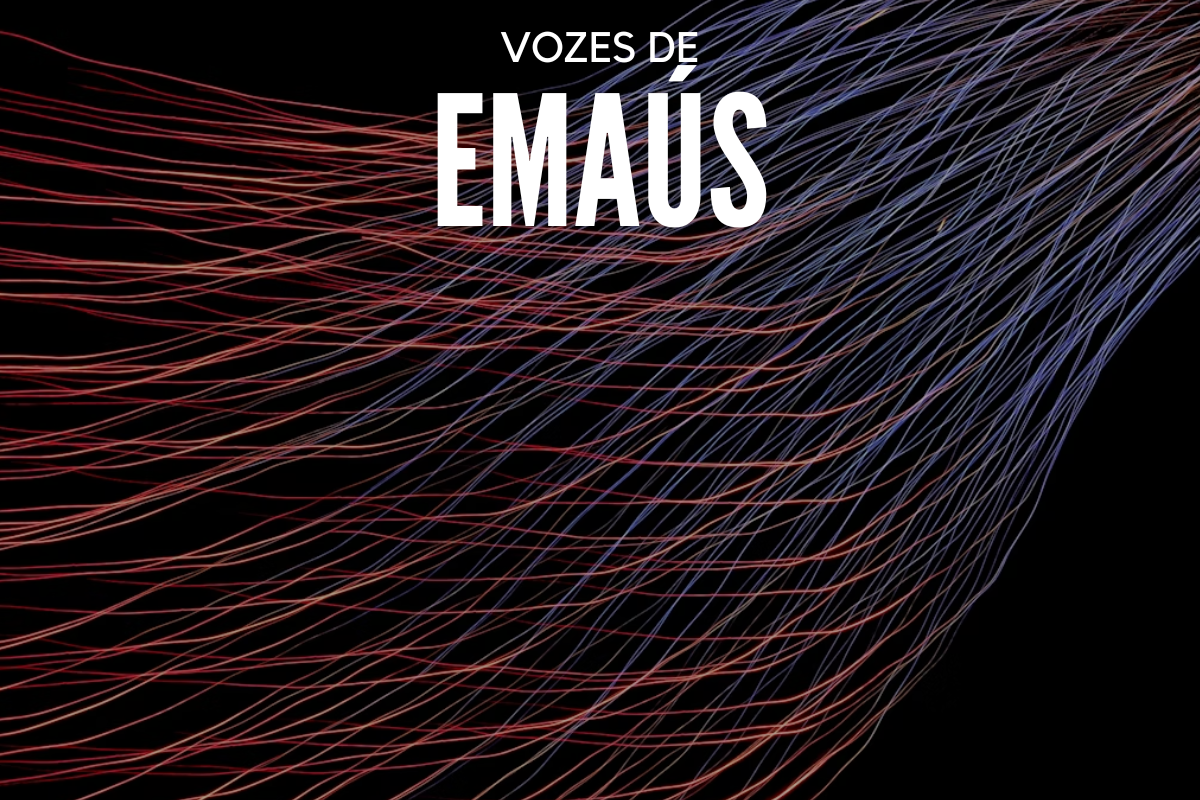06 Agosto 2025
“Suspeito para ambos os lados por seu afã de querer criar uma comunidade religiosa em um Japão hostil a qualquer ocidental, Pedro Arrupe, em poucos dias, deixou de ser uma vítima colateral para os Estados Unidos em sua decisão de acabar com a Guerra do Pacífico de forma abrupta – assim, em sua textualidade – para ser um herói dos remanescentes do Império do Sol Nascente pela coragem em socorrer as vítimas da bomba nuclear que devastou Hiroshima, a primeira lançada sobre população civil”. A reflexão é de Ramón Álvarez, em artigo publicado por La Vanguardia, 28-07-2023. A tradução é do Cepat.
Eis o artigo.
O contexto
Suspeito para ambos os lados por seu afã de querer criar uma comunidade religiosa em um Japão hostil a qualquer ocidental, Pedro Arrupe, em poucos dias, deixou de ser uma vítima colateral para os Estados Unidos em sua decisão de acabar com a Guerra do Pacífico de forma abrupta – assim, em sua textualidade – para ser um herói dos remanescentes do Império do Sol Nascente pela coragem em socorrer as vítimas da bomba nuclear que devastou Hiroshima, a primeira lançada sobre população civil.
O jesuíta que tanto havia insistido em seguir os passos evangelizadores de São Francisco Xavier no Japão foi, juntamente com a comunidade jesuíta estabelecida em Hiroshima, outra vítima daquela barbárie. Ainda assim, ele, os trinta noviços que formava e os outros quatro religiosos que professavam a sua fé na igreja construída no centro da cidade, milagrosamente conseguiram sobreviver. Em grande medida, porque tanto o seminário que Arrupe dirigia como o templo eram de alvenaria e amorteceram tanto a onda expansiva quanto o calor liberado pela explosão, que chegou a mil graus.
Em sua aberrante decisão, a Administração Truman não só tinha conhecimento da presença de uma comunidade cristã composta por religiosos ocidentais em Hiroshima, mas também considerou que seu sacrifício, como o de centenas de milhares de civis japoneses, era inevitável para dobrar a vontade do imperador Hirorito e forçá-lo a uma rendição humilhante, embora ele e sua família tenham escapado impunes pela própria vontade dos vencedores.
No momento da aterrorizante explosão, Arrupe e seus noviços encontravam-se na casa que a Companhia tinha em Nagatsuka, a apenas seis quilômetros da zona zero, onde estavam os outros quatro padres jesuítas. Ao invés de determinar a evacuação, o superior ordenou que os noviços fossem em busca de alimentos e remédios para atender o maior número de feridos. Da mesma forma, assim que as chamas que acabaram de destruir a cidade diminuíram, ele liderou uma expedição ao centro da cidade em busca dos irmãos que ali estavam.
O testemunho nu e cru do padre Arrupe sobre a grande tragédia humana deixada pela bomba atômica em Hiroshima foi a primeira visão com olhos ocidentais da barbárie produzida por uma decisão estratégica tomada friamente a milhares de quilômetros de distância. É assim que ele explicou, dois anos depois, a uma comissão de jornalistas estadunidenses esses acontecimentos e é assim que o deixou por escrito nas suas memórias, das quais recolhemos um fragmento.
O discurso
Para entender qual foi o cenário em que a bomba atômica representou sua tragédia, convém relembrar algo do que já foi dito sobre a cidade e acrescentar alguns dados adicionais. Seus habitantes ultrapassavam os 400.000, ou seja, pouco mais que Sevilha. E a sua extensão era incomparavelmente maior, porque para além de alguns prédios de concreto que se erguiam magnificamente no centro da cidade, dominando a planície, todas as outras construções eram tipicamente japonesas, de um ou dois andares, construídas com madeira como elemento de resistência e juncos, barro, papelão e papel resistente como elementos complementares. E no chão, isso sempre, palha de arroz em um tecido fino de esteira que seria um combustível assustadoramente rápido quando soasse a hora apocalíptica do pranto final.
Em termos militares, Hiroshima não tinha muita importância. Não era uma cidade que bordejasse os céus com a fumaça bélica das fábricas de guerra, mas era um porto militar de embarque e desembarque de tropas, talvez o mais importante daqueles que olhavam confiantes para os mares do sul. Todas as semanas, com uma constância que nunca foi interrompida pela guerra, víamos o desfile duplo dos novos fardados que iam às frentes para receber a circuncisão de sangue, e dos que vinham arrasados com a dor da luta e a esperança da vitória.
Nós, jesuítas, tínhamos então duas casas em Hiroshima: uma no centro da cidade, que era a paróquia, e outra em Nagatsuka, a seis quilômetros do aconchegante centro da metrópole, onde funcionava o noviciado. Eu me encontrava nesta segunda casa já há vários anos. Trinta e cinco jesuítas formavam o núcleo da comunidade. O mais chamativo de toda a guerra, no setor de Hiroshima, foi a paz absoluta em que a aviação americana deixou a cidade. Relativamente próximas estavam outras grandes cidades, como Kure, e mais adiante Osaka e Kobe, que tinham sido duramente bombardeadas.
No começo, a população de Hiroshima ia dormir nas cavernas escavadas nas montanhas vizinhas, mas vendo que o tempo transcorria sem que a tranquilidade fosse perturbada por nada além do desagradável e insistente apito das sirenes, aos poucos recobrava a confiança perdida nos primeiros tempos. Depois de algum tempo, preferiu expor-se a morrer entre os lençóis do que viver entre teias de aranha, contraindo reumatismo, sofrendo de pneumonia, acabando por morrer com todos os desconfortos de sua nova existência subterrânea.
A vida transcorria sem anormalidades. Todos os dias, às 5h30 da manhã, um B-29 cruzava o céu da cidade e uma única vez deixou cair uma bomba sobre nós. Tal foi a sua constância que com naturalidade e com uma pitada de fina ironia foi batizado com o nome de ‘correio americano’. Em 6 de agosto de 1945, foi o único, o primeiro e o último, a entrar por um caminho novo. Às 7h55, um segundo alarme nos sinalizou que o inimigo estava se aproximando.
A grande altitude passou outro B-29 sem que ninguém se preocupasse com isso. Foram tantas as vezes que vimos formações aéreas de 200 ou mais aeronaves cruzando à distância! Às 8h10 soou o fim do perigo e a população preparou-se para voltar à sua rotina. As sirenes pararam de soar na hora errada. Apenas cinco minutos se passaram, eram 8h15, quando uma luz fortíssima como a de magnésio rasgou o azul do céu.
Eu, que estava em meu escritório com outro padre, imediatamente me levantei e olhei pela janela. Naquele momento, um rugido surdo e contínuo, mais como uma cachoeira que se rompe ao longe do que como uma bomba que instantaneamente explode, nos atingiu com uma força aterradora. A casa tremeu. Os vidros se estilhaçaram, as portas se abriram e as divisórias japonesas, feitas de barro e junco, se quebraram como uma carta de baralho esmagada por uma mão gigantesca.
Aquela força terrível que pensávamos que iria arrancar a construção de suas fundações nos derrubou ao chão com a bofetada de seu golpe. E enquanto cobríamos a cabeça com as mãos, num gesto instintivo de defesa, uma chuva contínua de restos estilhaçados caía sobre nossos corpos imóveis no chão. Quando aquele terremoto terminou, nós nos levantamos, ambos com medo de ver o outro ferido. Felizmente, saímos ilesos, sem mais consequências do que os hematomas naturais da queda.
Fomos dar uma olhada na casa toda. Minha grande preocupação eram os 35 jovens jesuítas pelos quais, como superior, eu era responsável. Quando passei pelo último dos quartos, vi que ninguém se ferira e que a explosão não havia causado nada além de danos materiais destrutivos. Com aquela curiosidade natural que se sente depois do perigo, saímos todos para o jardim para ver onde tinha caído a bomba que nos fez rolar, tão indelicadamente, ao compasso das suas vibrações.
Mas nossos esforços para encontrar a marca esférica de sua queda foram inúteis. Não havia o menor vestígio ali. O jardim, o pomar, tudo estava como antes. E em violento contraste com a natureza que irradiava vida no amanhecer de agosto, a casa gasta e flácida, com as telhas quebradas, violentamente amontoadas, sem aquela elegância simétrica que vem do fato de estarem assentadas uma sobre a outra. Nenhum vidro estava inteiro. E através das janelas, brutalmente abertas e desencaixadas, podia-se ver o interior ferido, com os tabiques partidos e o pó ainda naquela dança circular que mantém vida até se assentar.
Subimos ao topo da colina para procurar um raio de visão maior. E de lá, olhando para a planície a leste, avistamos a área devastada do que tinha sido Hiroshima. Não era mais. Estava queimando, como uma nova Pompeia. A cratera invertida da bomba atômica lançou a primeira labareda de intenso fogo branco sobre a cidade vítima. E em contato com seu calor terrível, todos os combustíveis queimavam como fósforos em uma fornalha. E como se não bastasse, as casas de madeira que desabaram sob a onda da explosão caíram sobre as brasas dos fogões que logo se transformaram em labaredas de fogueiras.
Diante daquele espetáculo que nem sequer tínhamos podido imaginar, ficamos cravados ao chão. Então, coletando dados alheios às nossas próprias impressões, conseguimos reconstruir toda a cena. Às 08h15 da manhã, um avião americano B-29 lançou uma bomba que explodiu no ar a uma altura de 1.560 m. O barulho foi muito pequeno, mas veio acompanhado por um clarão que nos deu o efeito de uma explosão de magnésio. Por alguns instantes, alguma coisa, seguida de uma coluna vermelha de chamas, caiu rapidamente e explodiu novamente, desta vez terrivelmente, a uma altura de 570 m acima da cidade.
A violência dessa segunda explosão foi indescritível. Chamas azuis e vermelhas voaram em todas as direções. Imediatamente, um terrível trovão acompanhado de insuportáveis ondas de calor caíram sobre a cidade devastando tudo. Queimou tudo que podia queimar; e as partes de metal ficaram derretidas. Tudo isso foi a tragédia do primeiro momento. No momento seguinte, uma gigantesca montanha de nuvens rodopiava no céu. Bem no centro da explosão apareceu um balão com uma cabeça assustadora. E com ela, uma onda gasosa que se deslocou a uma velocidade de 500 milhas por hora varreu tudo em um raio de 6 km. Finalmente, dez minutos depois, uma espécie de chuva preta caiu no nordeste da cidade.
Os japoneses, que não sabiam que a primeira bomba atômica havia explodido, com aquela harmonia imitativa de sua língua, designaram esse fenômeno com a palavra pikadon. Pika era para eles a luz deslumbrante e don era o barulho explosivo que se seguiu. Para nós, como para todos, aquilo era inexplicável. Em quatro anos de guerra, tínhamos visto muitas bombas caírem e muitas granadas explodirem. No entanto, aquilo era uma novidade que em nada admitia comparação com o que se conhecia até então.
Queríamos desde o início entrar na cidade. Não era uma curiosidade macabra. Também não era para procurar feridos, já que eram tantos que vinham até nós sem a necessidade de ter que sair ao seu encontro. O motivo que nos impulsionava era lembrar que bem no centro de Hiroshima, em uma das partes mais afetadas pela bomba, estavam os restos de nossa residência e talvez nada mais que os cadáveres de nossos padres. Era, portanto, um dever de fraternidade. No entanto, não poderíamos dar um passo em direção a eles. O fogo fechava todos os caminhos, saltando de casa em casa e encurralando as ruas com línguas de fogo avermelhadas.
Faríamos da casa um hospital. Com que ardor todos eles acolheram a ideia. Com que doloroso entusiasmo se dispuseram a colaborar. Lembrei que eu tinha estudado medicina. Há anos, sem prática posterior, mas que naquele momento me fizeram médico e cirurgião. Fui buscar o estojo de primeiros socorros e o encontrei entre as ruínas, destruído, sem nenhuma utilidade além de um pouco de iodo, um pouco de aspirina, sal de frutas e bicarbonato.
O número de vítimas passava dos 200.000. Por onde começar? Era preciso agir sem medicamentos e essa realidade impunha os procedimentos que poderiam ser usados. Encontramo-nos com uma realidade desgastada por uma dura guerra, em que há muito os alimentos tinham se tornado escassos. Eles tinham os fundos tuberculosos, substrato comum de muitos milhões de japoneses que tivemos que fortalecer para redobrar suas energias para a convalescença. Era preciso alimentá-los com fartura... e não tínhamos nada na despensa.
Nós, como qualquer outro japonês, vivíamos com a escassa ração de arroz que nos era passada. E isso era tão minguado que não havia possibilidade de economizar. Reuni todos os jovens jesuítas que estavam sob a minha jurisdição e em quatro palavras dei-lhes as orientações do que deviam fazer: ‘Vão – disse-lhes – para onde Deus os conduzir e tragam de comer. Não me perguntem mais. Eu não me importo com o lugar. Emprestado, comprado, doado. O fato é que todos os feridos que estarão aqui quando vocês voltarem da busca deverão poder comer e se recuperar. Ninguém disse nada. A ideia era clara. A realização... Deus diria. Todos eles saíram.
Os pobres aldeões dos arredores, que observaram a bomba e o incêndio de uma distância segura, deram generosamente o que tinham e se ofereceram para nos fornecer o que não tinham. E assim foi. Nenhum dos nossos feridos se queixou de fome, porque sempre podíamos dar-lhes mais do que precisavam. Esta primeira precaução coroou nossos esforços com sucesso. Sem saber, só porque Deus quis que assim fosse, atacamos inconscientemente a anemia e a leucemia que se desenvolveriam na maioria dos acometidos pela radiação atômica.
Em primeiro lugar, tínhamos que limpar aquelas feridas que tinham origens diferentes. Muitas eram consequências de hematomas produzidos pelo desabamento das casas. Eram ossos fraturados e cortes, mas não como os de um sabre ou de uma bala que deixam limpas as bordas da ferida, mas como os provocados pelo desmoronamento de um edifício, pela pressão de vigas que caem sobre alguém, pelas chuvas das telhas pulverizadas, que rasgam a massa muscular e deixam nela incrustadas partículas de serragem, vidro, madeira... e lascas dos próprios ossos estilhaçados.
Mas o que predominou, talvez, eram as queimaduras. Como a daquela pessoa que veio várias horas depois da explosão com uma bolha que cobria o peito e o estômago, na frente e a mesma extensão nas costas. E assim vinham muitos. Vítimas que caíram sob os escombros de suas casas, e que só conseguiram sair dos escombros quando já tinham pago seu tributo de sangue ao incêndio que queimou tudo. Isso era natural em uma cidade construída quase inteiramente de madeira.
O que nos intrigava eram as queimaduras de muitos que afirmavam não terem se queimado. À pergunta ritual: ‘O que aconteceu com você?’, a resposta era sempre a mesma. ‘Não sei. Vi uma luz, uma explosão terrível, e nada aconteceu comigo. Mas depois de meia hora senti que bolhas superficiais se formavam na minha pele e depois de quatro ou cinco horas pareciam uma queimadura violenta que começou a supurar no dia seguinte’. Hoje já sabemos que foram os efeitos da radiação infravermelha que agride os tecidos e produz não apenas a destruição da epiderme e da endoderme, mas também do tecido muscular.
Consequência imediata, as supurações em toda a área afetada, e efeito mediato, muitas vezes, uma morte inesperada que naquele momento era inexplicável para nós. As feridas tiveram que ser perfuradas e desinfetadas a sangue frio porque não tínhamos éter, nem clorofórmio, nem morfina, nem qualquer outro anestésico para as operações. Dores terríveis daquelas curas em corpos com um terço e, às vezes mais, de pele em carne viva, que os faziam se contorcer de dor sem que uma única queixa escapasse de seus lábios.
Devia ser por volta das 16 horas quando a evaporação produzida por aquele incêndio de dimensões gigantescas se condensou em uma chuva forte que apagou a superfície da terra. No fundo, sob os troncos queimados e os telhados desabados, continuava a crepitar uma brasa, que as chuvas não deixaram queimar. Era hora de romper o cerco de fogo e entrar na cidade sitiada. Visão dantesca que se apresentava aos nossos olhos. É impossível imaginá-la, muito menos descrevê-la. Mortos e feridos em terrível confusão sem que a compaixão salvadora de um samaritano se estendesse a eles.
Nenhum de nós que viveu aqueles momentos jamais será capaz de esquecê-los. Gritos de partir o coração, que atravessavam o ar como ecos de um grande lamento. Porque aquelas gargantas, destruídas pelo esforço de muitas horas pedindo ajuda, emitiam sons roucos que nada tinham de humano. E cravando-se na alma, muito mais fundo do que qualquer outra dor, aquela que se experimentava ao ver crianças quebradas, agonizantes, abandonadas e sentindo sobre si todo o peso da própria impotência.
Pobre criatura aquela que se contorcia há oito horas com um caco de vidro enfiado na pupila do olho esquerdo. Dores angustiantes, porque, além de terríveis, ninguém as compartilhou para amenizá-las com um gesto protetor, com uma palavra de carinho. Mais aterrorizante foi a visão daquele outro que se chafurdava em uma poça de sangue com uma grande farpa cravada nos intercostais. Oito horas também com essas punhaladas de madeira perfurando seu peito.
Como olhava para nós quando nos aproximamos dele! Já não parecia mais estar vivo! Suas feições aflitas pela dor haviam passado de pálidas para verde-oliva. A boca entreaberta babava de agonia, e as mãos, num movimento convulsivo meio desesperado, percorriam mil vezes o caminho do peito. E ali, sem forças para sofrer mais, paravam sem conseguir arrancar aquele pau estilhaçado que o matava. ‘Padre, salva-me, não aguento mais’. E seus olhos brilharam por um instante para proferir essa súplica que lhe saía sibilante dos lábios, contraídos num espasmo supremo, não sei se de confiança ou de desespero.
E assim como ele, cada um com uma tortura que seu maior carrasco não teria imaginado, milhares e milhares de criaturas que não mereciam ser vítimas da guerra e que purgavam os pecados dos outros. Que terror desesperado deve ter sentido aquela pobre criança com quem tropeçamos presa entre duas vigas e com as pernas calcinadas até os joelhos. A casa desabou sobre ela, mas não teve a generosidade de deixá-la imune nem a compaixão de deixá-la morta. Não, ela ficou viva. Mordeu-a entre as mandíbulas sujas de duas toscas vigas, que apertavam sem matar para prolongar seu martírio. Levamos cinco horas para chegar onde se encontravam os cinco jesuítas. Todos feridos, mas nenhum morto.
Em nossa lenta marcha de macabra procissão pelas ruas mortas da cidade, chegamos à margem do rio, não muito longe do centro da explosão. Outra lembrança indelével na coleção daquelas cenas horríveis que pareciam não ter fim. No momento da tragédia e nas horas seguintes, quando as queimaduras começaram a se manifestar em todas as suas dolorosas consequências, os feridos, para fugir do incêndio, buscaram na margem do rio um refúgio contra as chamas.
Medida fatal que custou a vida de muitos milhares de infelizes. Afundados no lodo daquele delta que deságua quase sem desnível, deixaram que passassem as primeiras horas da sua desgraça, perdendo sangue e vitalidade e energia... Quando ao cair da noite o mar começou o seu lento trabalho de contrapeso, as águas pararam de recuar e, um momento depois, o equilíbrio quebrado em favor da maré alta, o nível de todos os braços do delta começou a subir lenta mas continuamente.
Terrível suplício o daqueles infelizes que viram a marcha ascendente das águas. Prisioneiros de sua fraqueza e da terra lamacenta em que imprudentemente haviam entrado, ouviam as gargalhadas, naquele dia macabro, das ondas que quebravam em cada parede. Logo chegaria a última. Suas bocas se enchiam até a borda e na agonia de sua asfixia, ainda encontravam forças para limpar seus pulmões mais uma vez. Até a nova onda. Até aquela que fosse a definitiva e, cobrindo suas cabeças, não recuaria mais.
Como era angustiante ouvir o lamento de todas aquelas centenas de feridos condenados a uma morte lenta e irremediável, que a conheceram como um destino certo muito antes que as primeiras vítimas chegassem ao fim nas agonias de sua longa luta! Na manhã seguinte, todo o leito do delta estava coberto de cadáveres inchados com a água salobra do Pacífico. Nenhum deles conseguiu escapar.
Leia mais
- 30 anos sem Pedro Arrupe: “ele segue sendo uma inspiração para nós”, diz Arturo Sosa, s.j. (com vídeo)
- De Pedro Arrupe a Arturo Sosa (III): Os 25 anos de Peter-Hans Kolvenbach (1983-2008)
- “Minha maior devoção a um santo da Companhia é a Pedro Arrupe”. Entrevista com Arturo Sosa
- Os Jesuítas. De Pedro Arrupe a Arturo Sosa
- O último segredo de Pedro Arrupe. Relatos de Pedro Miguel Lamet, s.j.
- A última frase de Pedro Arrupe antes de morrer. Artigo de Pedro Miguel Lamet
- Pedro Arrupe fez um voto de perfeição
- “Houve uma ‘guerra civil’ na Companhia. Arrupe foi traído de dentro”
- Profeta do Concílio. Arrupe: está aberta a fase diocesana para a causa de beatificação
- James Martin: Por que você pode rezar para Pedro Arrupe
- Padre Arrupe já é considerado “Servo de Deus”
- Pedro Arrupe. Cronologia de um profeta
- Aos 27 anos da morte de Pedro Arrupe
- Padre Arrupe, herói em Hiroshima. O relato de García Márquez
- “Oppenheimer” é um pesadelo americano extremamente sombrio. Não podemos desviar o olhar. Comentário de Ryan Di Corpo
- A tragédia de J. Robert Oppenheimer e a atualidade do perigo inerente ao armamento nuclear
- Hiroshima, Nagasaki, nós
- Papa: Não podemos deixar se repetir no Oriente Médio as mesmas consequências sombrias de Hiroshima e Nagasaki
- A marca de Caim. Hiroshima foi um ponto de não retorno
- Papa recorda Hiroshima e Nagasaki e pede para “suprimir para sempre as armas nucleares e toda arma de destruição massiva”
- Não é apenas a bomba atômica que assusta o Papa. “A próxima guerra será pela água”
- A água fará o mundo se revoltar?
- 8° aniversário do desastre de Fukushima: 11 de março de 2011, um dia para não ser esquecido
- 8 anos depois: lições de Fukushima que não queremos aprender
- Japão, Ministro do Meio Ambiente: 'Água radioativa de Fukushima será descarregada no Pacífico'
- A afinidade católica com a família imperial japonesa. Francisco se reúne com Naruhito, o novo imperador do Japão
- “O uso e a posse de armas nucleares são imorais”. Entrevista com o Papa Francisco no voo de volta da Tailândia e do Japão