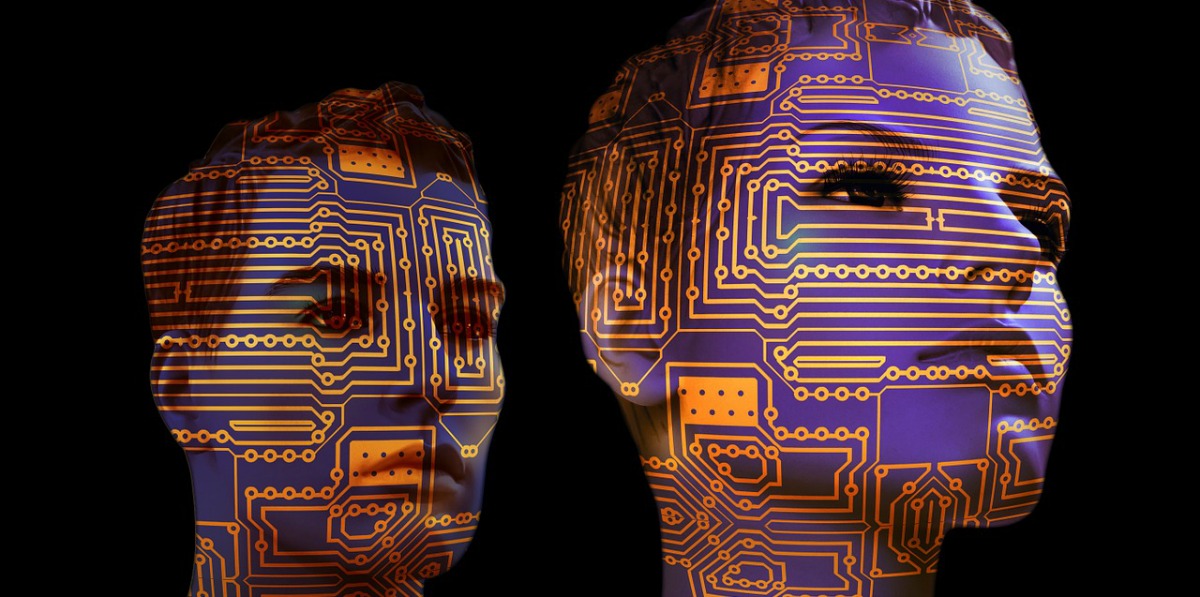08 Fevereiro 2021
O engenheiro e filósofo Yuk Hui propõe uma terceira via para se distanciar das impiedosas formas e valores neoliberais do Vale do Silício, mas também do pobrismo tecnológico dos nostálgicos do século XX. A fórmula não é retroceder, nem acelerar as tendências tech. O caminho passaria pelo redirecionamento das irrefreáveis invenções informáticas, respeitando cosmotécnicas particulares que permitam maior contemplação do ambiente humano e não humano.
O artigo é de Alejandro Galliano, professor da Universidade de Buenos Aires e colaborador das revistas Crisis, La Vanguardia e Panamá, publicado por Télam, 29-01-2021. A tradução é do Cepat.
Eis o artigo.
Em 2020, a digitalização da vida se acelera. E em seu rastro ativa debates antigos e modernos. Um deles é o que opõe o universal ao particular, hoje traduzido como o global contra o local. Esta discussão, velha como o Ocidente, cruza com outra que confronta a pastoral tecnocrática com o novo ludismo. O resultado é um campo de batalha dividido entre os defensores do capitalismo global, suas instituições e valores made in Silicon Valley versus a reação localista, nostálgica e tecnofóbica. Neste campo enlaçado, a filosofia de Yuk Hui entra como uma navalha propondo um particularismo tecnológico.
No início da pandemia, em meio ao festival de interpretações que convocou figurões do pensamento ocidental, destacou-se um misterioso ensaio intitulado “Cem anos de crise”, um texto mostrengo que parecia querer dizer mais do que cabia em suas 5.300 palavras. Seu autor, Yuk Hui, um engenheiro informático honconguês e professor de filosofia em Weimar, falava de uma “imunologia global” e uma “guerra entre infosferas”, ponderava a vigilância digital asiática diante da “eugenia libertária” ocidental e, sobretudo, propunha “recuperar a tecnodiversidade”.
Os ensaios de Hui reunidos em “Fragmentar el futuro” (Caja Negra, 2020) são uma oportunidade para desvendar aquele mistério e se aprofundar em sua proposta.
A recursividade
A dicotomia entre o mecânico e o orgânico está inserida na filosofia moderna. Serviu para opor o artificial ao natural, o formal ao autêntico, o linear ao integral, a sociedade de indivíduos regulados por leis à comunidade de membros ordenados por costumes e, essencialmente, as máquinas à natureza. A cibernética dissolve essa dicotomia. O princípio que a domina não é a lógica linear de uma engrenagem impulsionando a outro, mas a recursividade: a operação não linear que volta constantemente sobre si, retroalimentando-se de informação para se conhecer melhor.
Assim funciona a correção automática do processador de texto com o qual se escreve esta nota. Assim funciona meu braço ao se esticar em busca do mouse, recalculando distâncias com a informação de meus olhos. Assim funciona um mosquito. Assim funciona o planeta Terra segundo James Lovelock: um sistema integrado de elementos que mantém seu desequilíbrio químico para evitar a entropia. E assim funciona a alma humana: para Aristóteles, o noeîn se volta constantemente sobre si para se reexaminar. Mais tarde, os romanos traduziram noeîn como intellegere.
A recursividade permite ao algoritmo absorver a contingência, lidar com acidentes que uma máquina travada com um parafuso solto não poderia resolver. Assim abandona a mecânica e emerge a inteligência artificial. A máquina cibernética não é mecânica, é orgânica, assim como a natureza. E uma civilização, conclui Hui, é uma relação íntima e cúmplice entre os seres humanos e seu meio.
A cibernética é o princípio que pode salvar o planeta, se conseguirmos integrar, mediante sistemas recursivos, máquinas e humanos a seu meio. Dessa maneira, a cibernética superaria a relação utilitária que a técnica tem com a natureza como mero estoque de recursos, conforme a denunciou Heidegger, para dar lugar a uma comunidade em que cada um seja metade indivíduo animal, metade ambiente (ecológico, tecnológico, simbólico).
Mas a cibernética também ameaça acabar integrando tudo: os dados já não são o dado, mas um produto da própria técnica. A inteligência (que sempre incorporou a matéria mediante sua matematização, para depois voltar sobre ela em forma de ferramenta) hoje se emancipa da matéria humana e ameaça nos substituir. Como um vírus hegeliano, a cibernética avança anulando dualismos, reduzindo tudo a 1, comprimindo distâncias, minando o local. “Um dos grandes fracassos do século XX – diz Hui – foi a incapacidade de articular a relação entre o local e a tecnologia”.
A crise civilizatória, da qual a Covid é apenas um sintoma, se explica por esta incapacidade: as reações contra a globalização perfilam obscurantismos no seio do Ocidente, a lógica computacional (entender o mundo como o computável) arrasa os recursos naturais sob um verniz de neutralidade e despolitização, a tecnologia escapa do controle humano e substitui a filosofia mediante a recursividade.
A saída para Hui é pensar para além da totalização cibernética: emancipar mais uma vez a inteligência, mas neste momento de sua concepção uniforme; incorporar ao não racional, o não computável; ressituar as máquinas orgânicas dentro da vida, da estética, de “certa mística”. Do simbólico, enfim. Pensar uma nova ecologia das máquinas. Para isso, será necessário voltar ao local, mas trazendo para casa todo aquele fulgor digital: “para superar a Modernidade sem recair na guerra e o fascismo é necessário se reapropriar da tecnologia moderna através do ajuste novo de uma cosmotécnica”.
A cosmotécnica
Já é um lugar comum dizer que a globalização morreu em 11 de setembro de 2001. Para a visão conservadora, que vai do venerável Henry Kissinger aos neorreacionários (ramo obscuro da alt-right capitaneada por Nick Land e Peter Thiel), o que entrou em crise é o projeto tricentenário do Iluminismo.
Hui entra em debate com essa visão. A crise do século XXI não é a morte do Iluminismo, mas sua coroação: um processo de globalização tecnológica orientado pelo Ocidente que culmina quando essas tecnológicas são apropriadas pelo Oriente. “Hoje, a globalização continua, mas sua consciência feliz foi avantajada pelas condições materiais”. O Ocidente perde o monopólio de seu patrimônio técnico, a aldeia global se rompe, a Inteligência Artificial, nova fronteira tecnológica, torna-se um campo de batalha.
Mas a crise não se resolve com uma mera passagem da hegemonia global para o Leste. A homogeneização tecnológica do mundo moderno não só arrasou com a biodiversidade, mas também sepultou as diversas cosmologias que a suportavam. Até aqui, o lamento de Hui não se distancia de certo pachamamismo: o relativismo antropológico que entende a “modernidade ocidental” como uma cosmologia mais a par de outras como o animismo ou o totemismo.
Contudo, a restauração de “naturezas indígenas” não é o suficiente para Hui, pois carece de uma reflexão sobre as tecnologias. A tecnologia é o suporte do pensamento, de cada tipo de pensamento, a membrana que regula os fluxos entre o exterior e o interior de cada cultura: “A tecnologia não é um universal tecnológico, é possibilidade e restringida por cosmologias particulares”.
Recuperar a diversidade biológica e cultural requer recuperar a diversidade tecnológica, reconstituir cosmotécnicas, isto é, a unidade do cosmos e a moral por meio de atividades técnicas. As tendências são universais, mas os fatos técnicos e o cosmos que os envolve são particulares. É hora de voltar para casa, diz Hui, o mundo acabou.
Qual é a tarefa política deste retorno ao local? Seria possível resumir como um redirecionamento do aceleracionismo. Velocidade não é aceleração. Esta última requer uma direção. Acelerar a tecnologia para superar o neoliberalismo não é intensificar a velocidade do dado, mas o redirecionar, bifurcar o futuro para múltiplas cosmotécnicas, mais orgânicas, mais respeitosas de seu ambiente humano e não humano.
Em diversas passagens de seus ensaios, assim como em seu livro “The Question Concerning Technology in China”, Hui menciona o caso da cosmotécnica chinesa: sua propensão à inteligência intuitiva, seu pensamento taoísta não trágico, seu acesso à verdade sem Ser, um cosmos que tornou possível outras técnicas que a globalização obscureceu e que Hui acredita ser possível recuperar. Trata-se, diz, somente de uma a mais entre outras cosmotécnicas. A pergunta latino-americana é se temos uma cosmotécnica e se a China nos permitirá recuperá-la.
Made in Argentina
Não é um dado menor a nacionalidade de Hui. A China não é um país, é uma civilização, assim como são Rússia e Índia. E os Estados Unidos também. Circuitos semifechados de insumos culturais com barreiras eficazes para filtrar inteligentemente os recursos externos. A América Latina, ao contrário, talvez com a exceção brasileira, é um mosaico de mestiçagens, antropofagias e ideias fora de lugar, enclaves modernos e consumos importados. Qual é a cosmotécnica argentina? A instalação de Biogénesis Bagó, em Garín, ou o drama da crotoxina? O germoplasma de “soja Maradona” ou o Projeto Huemul?
Não é por acaso também que os insumos filosóficos de Hui, para além de pensadores da técnica como Norbert Wiener ou Gilbert Simondon, pertençam a essa tradição de transcendentalismo alemão que vai de Herder a Heidegger. A ênfase de Hui na particularidade e na organicidade o coloca na tradição romântica, seu sujeito é um povo com um espírito sobre uma terra. Também é alemão seu projeto de introduzir a tecnologia nessa sensibilidade. Em suas páginas, aparecem os nomes de Schmitt e Spengler, representantes do que Jeffrey Herf chamou de “modernismo reacionário”.
Hui não é um reacionário: “Pessoalmente, não sou um tradicionalista, mas valorizo a tradição e continuo acreditando que o fracasso de todas as revoluções comunistas se deveu à incapacidade de respeitar a tradição e de se nutrir de suas forças”. No entanto, seu convite ao local, sua rejeição ao humanismo abstrato da ONU, a partir de um império em amadurecimento abertamente antidemocrático, admite uma leitura nacionalista, quando não imperialista, para além da vontade de seu autor.
Não seria a primeira vez que a China reverte um discurso descolonizador. A seleção eminentemente política da edição argentina de seus ensaios (em que, por exemplo, faltam seus escritos sobre o objeto digital ou a individuação nas redes sociais) tem o mérito de destacar este risco.
Então, como ler Hui a partir de uma potencial província desse novo império? Após 300 anos de globalização monotecnológica, a reconstrução de cosmotécnicas particulares requererá um pouco de tradição e bastante de invenção. As tradições sempre nascem do presente. Nessa “invenção da tradição cosmotécnica”, as hibridações serão uma ferramenta e nossa condição mestiça pode funcionar como circuito e como barreiras. Inclusive diante da nova monotécnica chinesa: Huawei já apresentou Harmony, seu próprio sistema operacional, com sua constelação de aplicativos: Huawei Mobile Services.
Qual a contribuição da Argentina à mestiçagem cosmotécnica regional? Nosso país padece de uma espécie de provincianismo cosmopolita: vive buscando referências internacionais, mas as achata em um sentido pateticamente paroquial. Assim, nem conseguimos desenvolver um “pensamento nacional”, nem “nos abrimos ao mundo” para além de nossos narizes. Esse circuito cultural deficitário pode se enriquecer quando chegam a nosso porto vozes novas, propondo pensar localmente a agenda global.
Entre as conversas de [Aleksander] Dugin na CGT [Confederação Geral do Trabalho] e o desenvolvimentismo de porcarias, pensadores como Benjamin Bratton, Mark Alizart, Mercedes Bunz, Evgeny Morozov e o próprio Hui (um autêntico híbrido filosófico diante do remanejado e já complacente Byung-Chul Han) nos permitem acessar o instrumental do capitalismo 4.0 por fora de seu decadente marco neoliberal, como ponto de partida para um nacionalismo econômico não protecionista, uma política ambiental não decrescentista e uma economia popular não ludita.
Trata-se de politizar e digitalizar o “escritor argentino e a tradição”. Trata-se, enfim, de fragmentar o futuro para poder ocupá-lo.
Leia mais
- Yuk Hui e a pergunta pela cosmotécnica
- Um pensamento nômade. Entrevista com Yuk Hui
- “A tecnodiversidade implica em pensar divergências no seio do desenvolvimento tecnológico”. Entrevista com Yuk Hui
- Os índios são especialistas em fim do mundo, diz o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro
- “O sentimento de perder o mundo, agora, é coletivo”. Entrevista com Bruno Latour
- “O capitalismo nunca será subvertido, será aspirado para baixo”. Entrevista com Bruno Latour
- Éric Sadin alerta contra a “propagação de um anti-humanismo radical”
- “As tecnologias digitais têm poder de decisão em nossas vidas”. Entrevista com Éric Sadin
- Tecnologias quânticas. A revolução 4.0 do século XXI
- “Não se deve ter medo da tecnologia, mas conhecer seus limites”. Entrevista com Marta García Aller
- O modo como a China desafia o Vale do Silício
- “O naturalismo é a metafísica mais idiota, o pensamento mais estúpido da história e vai destruir a humanidade”. Entrevista especial com Markus Gabriel
- “Planejar o futuro incluindo os especialistas em humanidades”. Entrevista com Markus Gabriel