“O fato de um crime estar bem caracterizado não garante que um impeachment ocorra, como também a existência de fundadas dúvidas sobre a ocorrência do crime não impede um impeachment de se consumar”, observa o professor
Desde o impeachment de Dilma Rousseff há um infindável debate sobre ter ou não havido crime que levasse à interdição do mandato. A discussão não chega a ser nula, mas, talvez, seja mais relevante ter às claras que o que efetivamente pesa é o jogo político. Agora, mesmo diante de denúncias e fatos corriqueiros que poderiam caracterizar crime de responsabilidade do presidente Jair Bolsonaro, é o mesmo jogo político que faz com que sequer seja aberto um processo no parlamento. “A conjuntura política é o que faz o processo andar ou, como ocorre atualmente, não andar. O fato de um crime estar bem caracterizado não garante que um impeachment ocorra, como também a existência de fundadas dúvidas sobre a ocorrência do crime não impede um impeachment de se consumar”, destaca o jurista Rafael Mafei, em entrevista concedida por e-mail ao Instituto Humanitas Unisinos - IHU.
Mafei tem estudado tanto a fundamentação jurídica da instituição do impeachment como a forma com que se move ao longo da história e por isso considera ter muito clara a importância dos elementos políticos. “A política, nesse sentido, tem duas acepções possíveis. A primeira é a opinião política de uma parcela relevante da sociedade”, aponta. Seria quando a avaliação do presidente e de seu governo despencam, manifestado em insatisfação das pessoas. Para o professor, o principal indício disso é o de que a economia vai mal e a população sente isso na pele.
Nesse contexto, a população acaba criando o ambiente político favorável para que o parlamento ‘faça andar’ um processo que pode acabar em impeachment. Aí, já estamos numa segunda acepção da perspectiva política. “Quando o Presidente e o governo são mal avaliados, isso aumenta o custo político para que partidos da base permaneçam apoiando o Presidente. Nesse cenário, é mais fácil atraí-los para um outro projeto, que envolva a deposição do presidente e sua sucessão pelo vice”, detalha. E acrescenta: “Há também interesses externos ao Congresso, mas que têm muito peso sobre os parlamentares, como o de setores empresariais, do agronegócio e, ultimamente, militares e lideranças religiosas”.
No caso da atual conjuntura, Mafei analisa como a instituição do impeachment vai sendo violentada nesse jogo político, tornando a figura do presidente da Câmara dos Deputados um crupiê que dá as cartas nesse jogo. “Cunha amesquinhou o papel da Presidência da Câmara dos Deputados, ao utilizar seus poderes regimentais, inclusive no impeachment, e de modo desavergonhado, visando a benefícios próprios. Na sequência, Rodrigo Maia deu a si próprio o poder de ignorar denúncias a perder de vista, até que elas perdessem o objeto pelo transcurso do mandato presidencial, como ele fez na presidência de Temer”, dispara. Além disso, “antes de Maia, Cunha, e atualmente [Arthur] Lira, as Presidências da Câmara nunca foram tão ostensivas no uso de seus poderes no impeachment para benefício próprio”.
Ao longo da entrevista, o professor também analisa o que faz com que esses presidentes da Câmara não sejam chamados para suas reais responsabilidades e como, no caso de Bolsonaro, tanto para governo como para oposição não abrir o processo de impeachment pode ser um ‘bom negócio’. “Para os governistas, é bom concorrer como aliado de um governo que lhes dê tudo aquilo que pedem, pois com isso conseguem realizar benfeitorias em suas bases eleitorais; e para os oposicionistas, ao menos do PT, é bom disputar contra um candidato que tem força suficiente para chegar ao segundo turno, mas rejeição o suficiente para perder para Lula, que será seu provável adversário”, resume.

Rafael Mafei (Foto: Companhia das Letras)
Rafael Mafei é professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo - USP e pesquisador do Laut (Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo). Com artigos publicados no Brasil e no exterior, escreve regularmente para Folha de S. Paulo e Piauí e é coautor de Curso de história do Direito (Método, 2016), vencedor do Prêmio Jabuti. Recentemente, publicou Como Remover um presidente (Zahar, 2021).
IHU – Qual a origem do impeachment no mundo?
Rafael Mafei – O impeachment, como hoje conhecemos, é produto de uma longa evolução institucional. Começou na Inglaterra, no século XIV, como maneira de permitir aos lordes britânicos que acusassem, condenassem, removessem e punissem altos oficiais da Coroa inglesa vistos como corruptos, arbitrários ou incompetentes em suas funções. Quando o impeachment perdeu força na Inglaterra, pela consolidação do parlamentarismo, ele foi acolhido na constituição presidencialista dos EUA, no final do século XVIII.
Ali adquiriu as principais características com que hoje o conhecemos: um procedimento que envolve as duas casas do Congresso, e que permite remover altas autoridades, inclusive o Presidente da República, mediante condenação pelo Senado por uma acusação de crime político, que é chamado no Brasil de crimes de responsabilidade.
IHU – Como o senhor narra a história do impeachment no Brasil?
Rafael Mafei – Com a Constituição de 1891, o Brasil adotou o impeachment presidencial espelhando-se na Constituição dos EUA. Retivemos, entretanto, algumas características de nosso período monárquico, como o nome jurídico dos “crimes de responsabilidade”, que entretanto deixaram de ser ilícitos penais (ou seja, não são propriamente “crimes”, como a corrupção ou o homicídio, nem acarretam consequências tipicamente criminais, com a prisão).
Na prática, porém, o impeachment só conseguiu se efetivar no Brasil após a Constituição de 1988, quando alternativas mais rápidas, embora menos institucionalizadas, de remover presidentes, como golpes militares, tornaram-se muito custosas para ser empregadas.
IHU – O que diz a lei do impeachment no Brasil e como o senhor avalia essa formulação?
Rafael Mafei – A lei do impeachment (Lei 1.079 de 1950) vai na linha do que poderia se esperar dela. Define crimes de responsabilidade ora com mais detalhes, ora com redação mais aberta, dando margem de intepretação para os julgadores. Prevê adequadas oportunidades de defesa para a autoridade acusada, reforçadas por julgamentos do Supremo Tribunal Federal - STF na época dos julgamentos de Collor e Dilma. Ela apenas se desatualizou em relação ao papel da Câmara dos Deputados, que mudou com o advento da Constituição de 1988. Mas hoje, especialmente após o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF 378 em 2015, essa questão está pacificada no Brasil.
Historicamente, o ponto mais interessante da formulação da lei diz respeito a seus bastidores políticos, que envolviam os interesses não do presidente da República da época, mas de diversos governadores. A Lei do Impeachment disciplina também os crimes de responsabilidade de governadores, e muitos deles, à época de sua discussão e aprovação (1948-1950), temiam que a lei estivesse sendo elaborada para atingi-los. Como eu conto no livro [publicou Como Remover um presidente (Zahar, 2021)], alguns governadores mais ameaçados, como o paulista Ademar de Barros, tentaram de tudo para fazer com que a lei não fosse aprovada. Até mesmo os autos de tramitação do projeto de lei desapareceram na Câmara dos Deputados.
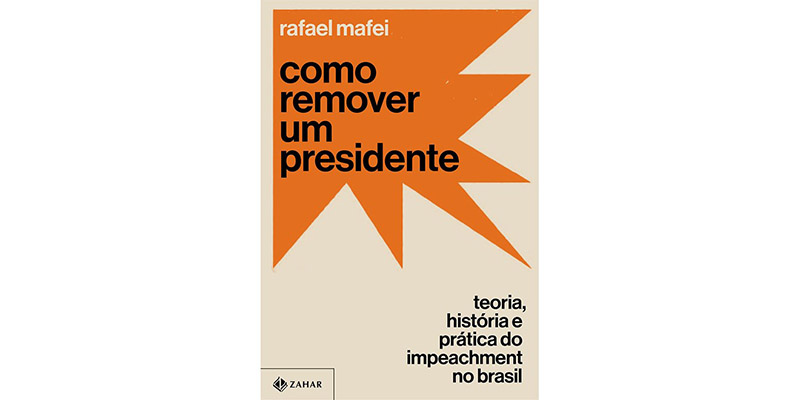
Em Como Remover um presidente (Zahar, 2021), Mafei aborda o impeachment desde perspectivas históricas a jurídicas (Foto: Divulgação)
IHU – O que, ao longo da história, ocorre para que um impeachment não siga adiante?
Rafael Mafei – Um processo de impeachment depende tanto de uma acusação juridicamente defensável, que circunscreva uma conduta a um delito previsto na Lei 1.079 de 1950, como de fatores políticos que permitam que o processo avance. A configuração jurídica do crime cria a permissão legal para que o presidente seja processado, condenado e afastado, mas ela não faz o processo andar, nem garante um veredito satisfatório: quem faz isso – ou, ao contrário, impede que isso seja atingido – é a política.
“A política”, nesse sentido, tem duas acepções possíveis. A primeira é a opinião política de uma parcela relevante da sociedade. Quando a avaliação do presidente e do governo despencam, quando a insatisfação da população com a sua vida aumenta (sinal de que a economia vai mal), quando grandes protestos tomam corpo e se tornam frequentes, isso ajuda a criar um clima propício para o impeachment.
Uma segunda acepção possível é da “política” no sentido estritamente parlamentar: o jogo de forças no Congresso, principalmente na Câmara. Quando o Presidente e o governo são mal avaliados, isso aumenta o custo político para que partidos da base permaneçam apoiando o Presidente. Nesse cenário, é mais fácil atraí-los para um outro projeto, que envolva a deposição do presidente e sua sucessão pelo vice. Há também interesses externos ao Congresso, mas que têm muito peso sobre os parlamentares, como o de setores empresariais, do agronegócio e, ultimamente, militares e lideranças religiosas.
Um impeachment envolve uma costura política complicada no Congresso, pois precisa reunir apoio de 2/3 da Câmara e do Senado. Isso não é algo simples de se conseguir, embora já tenha ocorrido duas vezes nos últimos 30 anos.
IHU – O que há de similar e de diferente entre o impeachment de Fernando Collor e de Dilma Rousseff?
Rafael Mafei – A semelhança está na deterioração política de ambos, muito motivada pelo insucesso de seus planos econômicos. Collor apostou tudo nos seus planos de combate à inflação, Dilma apostou muito na chamada Nova Matriz Econômica, e nenhum dos dois planos funcionou como esperado. Ao contrário de saúde, segurança e educação, que são temas de competência concorrente entre governos federal, estaduais e municipais, a economia é um tema no qual o presidente costuma ser visto como o único responsável. Por isso, se a economia vai mal, o presidente vai mal, e vice-versa.
Uma primeira diferença está no fato de que Collor era um atirador solitário, um sujeito sem história relevante na política nacional e sem um partido forte que o respaldasse, enquanto Dilma havia sido uma importante ministra de Lula, pertencia ao partido com a maior bancada no Congresso e com uma militância efetiva e bem capilarizada. Ela era um alvo menos fácil do que Collor, portanto.
Uma segunda diferença, e que ajuda a explicar por que mesmo toda a proteção que Lula e o PT lhe garantiam não foi suficiente, foi a operação Lava Jato. Essa circunstância foi única no governo de Dilma, e muito prejudicial a ela. Primeiro, porque desorganizou sua base política, na medida em que os parlamentares do MDB e do Centrão acreditaram que teriam melhores chances de escapar da Lava Jato em um governo Temer do que em um governo Dilma (pois ela nunca agiu para interferir na operação, e chegou mesmo a reconduzir Rodrigo Janot para a Procuradoria Geral da República - PGR).
Segundo, porque em um dado momento, ficou claro que a Lava Jato estava disposta a usar – impropriamente – seus poderes para impedir a reorganização política do governo Dilma, como ocorreu com a divulgação ilegal do áudio entre Lula e Dilma, e com a liminar juridicamente indefensável do ministro Gilmar Mendes que impediu Lula de ser ministro. No impeachment de Dilma, o Judiciário foi um jogador importante em desfavor dela; no caso de Collor, não.
IHU – A conjuntura política é mais importante do que a perspectiva jurídica para que ocorra impeachment? Que outros elementos fazem andar esses processos?
Rafael Mafei – A conjuntura política é o que faz o processo andar ou, como ocorre atualmente, não andar. O fato de um crime estar bem caracterizado não garante que um impeachment ocorra, como também a existência de fundadas dúvidas sobre a ocorrência do crime não impede um impeachment de se consumar.
O Direito regulamenta o processo, do ponto de vista do rito, e contribui para a legitimidade do resultado se as regras do processo forem rigidamente seguidas, se o julgamento ocorrer segundo as provas, e se houver uma interpretação defensável dos crimes de que a autoridade é acusada. Esse papel de legitimação que o Direito tem no impeachment, porém, pressupõe que os atores envolvidos tenham apreço e respeito pela integridade da democracia. Se agentes políticos estiverem dispostos a sacrificar outras instituições, a começar pela Presidência da República, para obter ganhos políticos e pessoais no curto prazo, não é esperado que eles se importem muito com a legitimação jurídica de suas ações. Nesse sentido, o papel do Direito é forçosamente limitado.
IHU – Desde a experiência de Eduardo Cunha com o impeachment de Dilma Rousseff, tem-se a ideia de que o presidente da Câmara é absoluto para ‘disparar o processo’. Isso é real?
Rafael Mafei – Cunha amesquinhou o papel da Presidência da Câmara dos Deputados, ao utilizar seus poderes regimentais, inclusive no impeachment, e de modo desavergonhado, visando a benefícios próprios. Na sequência, Rodrigo Maia deu a si próprio o poder de ignorar denúncias a perder de vista, até que elas perdessem o objeto pelo transcurso do mandato presidencial, como ele fez na presidência de Temer.
Antes de Maia, Cunha, e atualmente [Arthur] Lira, as Presidências da Câmara nunca foram tão ostensivas no uso de seus poderes no impeachment para benefício próprio, nem muito menos se davam o direito de engavetar eternamente denúncias contra o Presidente da República.
Essa libertinagem no uso dos poderes da Presidência da Câmara não está na Lei do Impeachment, nem no regimento interno, muito menos na Constituição. A lei e o regimento são claros ao dizer que o Presidente deve encaminhar imediatamente as denúncias para a comissão do impeachment, ou arquivar aquelas que julgar manifestamente improcedentes.
Arthur Lira só consegue ignorar as mais de 120 denúncias contra Bolsonaro porque as instâncias que poderiam compeli-lo a agir – isto é, encaminhar ou arquivar as denúncias – não estão dispostas a fazê-lo: o STF não parece interessado em assumir mais este conflito, e muitos grandes partidos no Congresso, inclusive na oposição, não têm interesse no impeachment por ora, seja porque querem ver Bolsonaro sangrar até as eleições para então derrotá-lo, seja porque querem seguir se aproveitando da fraqueza de um governo que opera em modo de sobrevivência há algum tempo.
IHU – Muitas pessoas falam em fraturas e em feridas que um processo de impeachment abre. Que fraturas são essas e como as analisa?
Rafael Mafei – Quando o presidente deposto tem base política e social importante, o impeachment deixa ressentimentos entre adversários que demoram a ser curados. Isso cria obstruções que impedem acordos e composições que são parte de democracias parlamentares, além de estimular a radicalização política, isto é, a indisposição de um lado aceitar vitórias do outro.
Em 1974, quando o republicano Richard Nixon renunciou para escapar do impeachment nos EUA, um dos primeiros atos de seu sucessor, Gerald Ford, foi perdoá-lo por todos os crimes dos quais ele era suspeito, com objetivo de sepultar o assunto de uma vez e permitir que a briga amarga entre apoiadores e adversários de Nixon ficasse para trás. E hoje, como vemos aqui, os ressentimentos em razão do impeachment de Dilma ainda são obstáculos importantes para entendimentos políticos entre grupos que têm em Bolsonaro um adversário comum.
Por outro lado, é importante ter claro que abrir mão do impeachment quando ele é indispensável também traz riscos e pode ocasionar traumas e feridas. A grande sabedoria política que o impeachment exige não é usá-lo apenas quando ele é necessário, mas igualmente não abrir mão dele quando ele se mostre imprescindível.
IHU – Quais os riscos, para a própria democracia, da recorrência de processos de impeachment? Ou tanto quanto o voto e a eleição, o impeachment é um instrumento e uma manifestação plena da democracia?
Rafael Mafei – Nada substitui a manifestação da vontade popular expressa em eleições, especialmente quando se trata de cargos de eleição majoritária, quando a pessoa do candidato é determinante para a escolha do eleitor. As pessoas votam em presidente e senador, não votam em vice-presidente ou suplente.
IHU – Como o senhor analisa a atual conjuntura brasileira? Temos elementos para que um processo de impeachment de Jair Bolsonaro seja ao menos aberto?
Rafael Mafei – Elementos jurídicos temos de sobra. Não creio que existe um debate jurídico sincero sobre se Bolsonaro cometeu ou não crimes de responsabilidade: quem ainda insiste em “falta de materialidade”, como diz Lira, está apenas se esquivando de assumir o ônus de sua opção política de não encaminhar as denúncias. Mas ainda não temos a conjuntura política para que o processo vá adiante.
IHU – Mas então por que, apesar de tantas denúncias e pedido de abertura de processos, a Câmara não leva adiante as denúncias contra o atual presidente?
Rafael Mafei – Primeiro, porque Lira se beneficia enormemente de ter o presidente acuado e sob seu crivo. Se Bolsonaro quiser se indispor com Lira, ele sabe que pode pagar um preço alto por isso. Com isso, o Executivo deixa de ser um contraponto ao Legislativo, e o parlamento pode assumir em grande parte o controle do orçamento e do governo. Presidentes da República ineptos, como Bolsonaro, fazem com que presidentes da Câmara e do Senado ganhem importância, e isso lhes beneficia politicamente.
Segundo, porque, como já foi dito, muitos partidos relevantes ainda não têm o impeachment de Bolsonaro como seu plano A. Partidos do chamado Centrão assumiram o controle do governo e do orçamento, e é difícil pensar como um futuro governo [Hamilton] Mourão poderia ser mais vantajoso para eles. Por outro lado, partidos da oposição, como o PT, estão confortáveis com a perspectiva de disputarem eleições em 2022 contra um presidente cada vez mais impopular. Se esses partidos médios e grandes não assumirem posição pelo impeachment, é impossível que ele vá adiante. Arthur Lira fica à vontade para se esquivar porque sabe que, no fundo, muitas das grandes forças no Congresso estão à vontade com a perspectiva de que um impeachment contra Bolsonaro não vá adiante.
Jair Bolsonaro é um presidente cuja avaliação é decrescente, mas ainda é uma força política enorme. Em 2022, se seus planos se concretizarem, o governo conseguirá implementar políticas de transferência direta de renda que podem recuperar uma parte do apoio ao governo. Nesse cenário, concorrer como apoiador do governo pode ser vantajoso para muitos candidatos a deputado federal, especialmente quando a liberação de emendas parlamentares tem sido generosa.
Do outro lado, concorrer contra Bolsonaro e seus apoiadores também pode ser vantajoso, pois ele é o único candidato que terá, ao que tudo indica, taxa de rejeição alta o suficiente para competir com a rejeição da esquerda, do PT e de Lula. Inabilitar Bolsonaro automaticamente significaria habilitar uma candidatura alternativa no campo da direita, o que poderia favorecer um candidato com menor rejeição do que Bolsonaro possivelmente terá.
Portanto, para os governistas, é bom concorrer como aliado de um governo que lhes dê tudo aquilo que pedem, pois com isso conseguem realizar benfeitorias em suas bases eleitorais; e para os oposicionistas, ao menos do PT, é bom disputar contra um candidato que tem força suficiente para chegar ao segundo turno, mas rejeição o suficiente para perder para Lula, que será seu provável adversário.
IHU – O senhor acredita que ainda temos tempo para um processo de impeachment antes das eleições de 2022?
Rafael Mafei – Como regra, quanto mais próximas estão as eleições, menores as chances do impeachment. A não ser que um escândalo gigantesco ocorra em 2022, é pouco provável que um impeachment saia em ano de eleição, pois impeachments exigem articulações políticas, e em ano eleitoral todas as articulações visam às eleições (palanques estaduais, apoios, pactos de não agressão etc.). O impeachment forçosamente fica em segundo plano, a não ser que um escândalo de enormes proporções o coloque no centro da agenda de modo que as lideranças políticas não tenham como ignorá-lo.
IHU – Como, com os elementos que o senhor tem agora, projeta o cenário para o Brasil de 2022?
Rafael Mafei – Por ora, projeto eleições tensas além do esperado, com risco até de violência, em razão da indisposição do presidente e de seus apoiadores, inclusive nas Forças Armadas, de aceitarem uma eventual derrota eleitoral.
É a primeira vez desde a redemocratização em que temos o risco real de o atual ocupante do cargo não reconhecer a vitória de adversários, e estimular seus apoiadores nas ruas e nas instituições, inclusive nas Forças Armadas e nas polícias, a não aceitarem o resultado das urnas. Como uma democracia pode sobreviver se 20%, 30% da população entenderem que o pleito foi roubado? Que a vitória do vencedor é na verdade uma fraude perpetrada para tirar do poder o verdadeiro representante do povo? Isso não é cenário de transição pacífica e democrática de poder em nenhum lugar do planeta, e não será aqui.