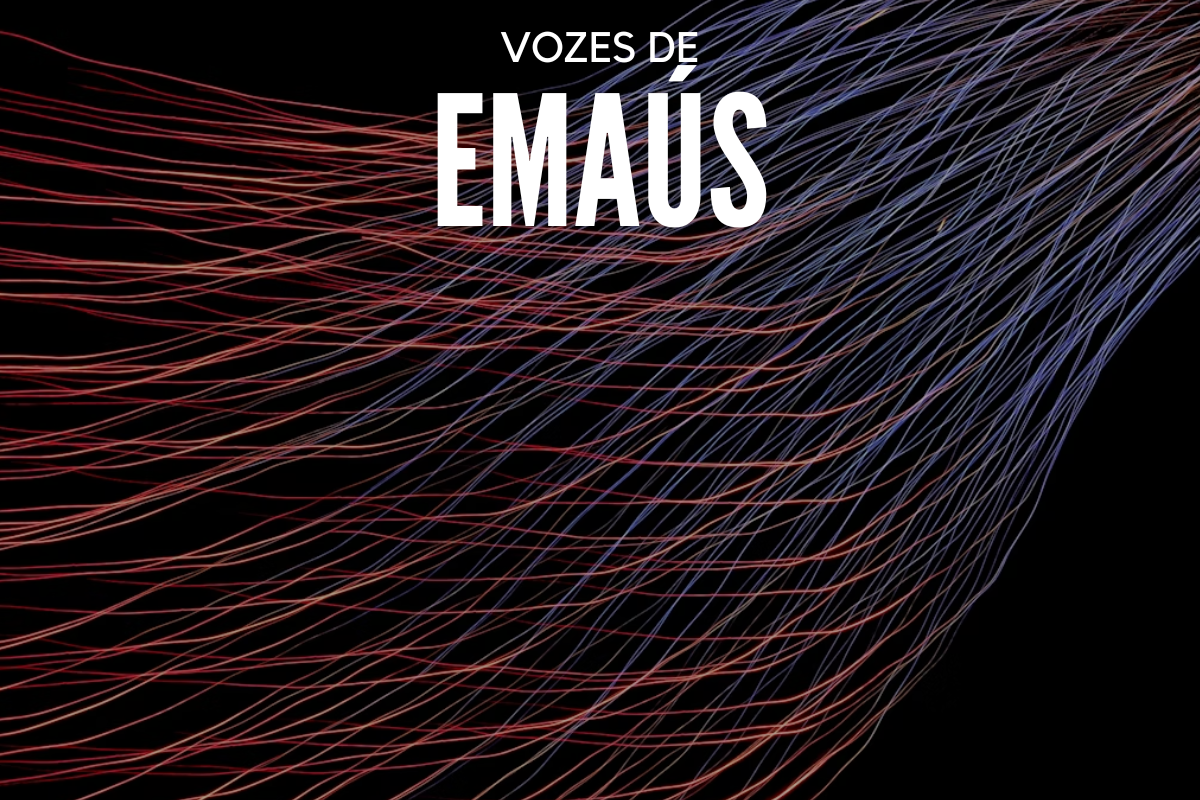Por: Vitor Necchi | 25 Outubro 2018
O professor Luis Felipe Miguel, ao refletir sobre o momento atual, revela um sentimento de muita inquietação – evita usar a palavra “pânico”. “Tenho a sensação de que minha geração falhou”, admite. O entendimento era de que, “aos trancos e barrancos, julgávamos que estávamos construindo um regime democrático”. No entanto, de 2014 para cá, “tudo isso desabou em pouco tempo”.
Miguel, em entrevista concedida por e-mail à IHU On-Line, afirma que “a democracia foi golpeada, os consensos que pareciam ter surgido se esfarelaram, o fantasma da intervenção militar volta a assombrar o Brasil, talvez um fascista tenha sido eleito presidente”. No entanto, se esforça “sempre para lembrar que esse desânimo que nos acomete é uma armadilha, para nos paralisar”. É necessário resistir, garante.
Ao retroceder no tempo em sua análise, observa que “a transição política brasileira seguiu uma característica comum às outras transições do mesmo período na América do Sul: foi norteada por um entendimento minimalista de democracia”. Enquanto se manteve “o foco absoluto na construção da institucionalidade democrático-liberal, um dos elementos centrais da luta contra a ditadura ficou de lado: a luta contra o caráter concentrador de riquezas, excludente, do regime ditatorial”.
Miguel destaca que “a democracia não pode se resumir ao voto” e que “o modelo de democracia eleitoral que nós temos é frágil, na medida em que convoca as pessoas à participação de quatro em quatro anos – e só”. No geral, percebe-se uma educação política que tende a ser baixa, “e as pessoas ficam vulneráveis a discursos simplificadores e mentirosos”.
Há décadas vem sendo percebida uma crise de representatividade nas democracias representativas de todo o mundo. Por uma série de motivos, “aqueles que detêm a riqueza se fazem ouvir com muito mais força”. Essa situação “pode levar ao descrédito e à apatia política”, assim como “à eclosão de novos ativismos, à busca de formas alternativas de presença política”. Outra possibilidade é “um desencanto final com a democracia” e a “atração por alternativas autoritárias”.
Miguel entende que “estamos vivendo o capítulo brasileiro da falência global da democracia liberal”. Trata-se de um modelo baseado “na participação política episódica de um eleitorado que escolhe com base em um mínimo de informação”, mas agora “ficou claro que esse modelo não sobrevive à existência do WhatsApp”.


Luis Miguel | Foto: Agência PT
Luis Felipe Miguel é doutor em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas - Unicamp, mestre em Ciência Política pela Universidade de Brasília - UnB e graduado em Comunicação Social pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. Leciona no Instituto de Ciência Política da UnB, onde coordena o Grupo de Pesquisa sobre Democracia e Desigualdades (Demodê). Publicou, entre outros, os livros Democracia e representação: territórios em disputa (Editora Unesp, 2014), Consenso e conflito na democracia contemporânea (Editora Unesp, 2017) e Dominação e resistência (Boitempo, 2018).
Confira a entrevista.
IHU On-Line – Como pode ser definida a experiência democrática que o Brasil inaugurou com o final da ditadura de 1964?
Luis Felipe Miguel – A transição política brasileira seguiu uma característica comum às outras transições do mesmo período na América do Sul: foi norteada por um entendimento minimalista de democracia. Havia uma compreensão generalizada de que o grande objetivo da transição era edificar no país as instituições da democracia liberal de tipo ocidental: eleições diretas, pluralismo partidário, separação de poderes, império da lei, direitos e garantias individuais. Mesmo a esquerda havia abandonado boa parte de sua crítica às limitações do arranjo democrático-liberal, o que se deve tanto à crescente crítica ao autoritarismo do modelo soviético quanto à própria experiência da ditadura, que fez com que, por contraste, institutos antes desprezados como “meramente formais” fossem revalorizados. Não há dúvida de que são, de fato, importantes.
Um caso como o da prisão do ex-presidente Lula basta para mostrar que falta fazem a igualdade perante a lei, o Judiciário independente ou a vigência plena do instituto do habeas corpus. Mas, com esse foco absoluto na construção da institucionalidade democrático-liberal, um dos elementos centrais da luta contra a ditadura ficou de lado: a luta contra o caráter concentrador de riquezas, excludente, do regime ditatorial. O combate à ditadura entendia que havia uma forte relação entre o autoritarismo político e as condições de vida precárias da maioria da população. Isso foi deixado de lado. Assim, era comum que se dissesse, no final dos anos 1990, que a transição democrática estava completa, ainda que a “dívida social” não tivesse sido paga. Não é por acaso.
A história do Brasil mostra que o grande nó da nossa política, sob o ponto de vista de nossa classe dominante, é a compatibilização entre democracia formal e desigualdade social. Os detentores do poder econômico querem uma democracia que funcione sem colocar em risco seus próprios privilégios. E quando a vigência da democracia formal foi vista como ameaçando a reprodução da desigualdade social, com as políticas compensatórias dos governos petistas, a democracia foi posta em xeque. Foi posta em xeque com o golpe de 2016 e, agora, com a adesão a um projeto regressista, de inegável tonalidade fascista.
IHU On-Line – No Brasil, ao contrário de outros países que passaram por períodos ditatoriais, não houve julgamento dos crimes cometidos por agentes do Estado e a tortura não foi criminalizada. Qual o efeito disso?
Luis Felipe Miguel – Nós estamos pagando, e caro, o preço da ausência de uma justiça de transição mais sólida. Os militares brasileiros foram mais hábeis do que seus vizinhos; iniciaram precocemente uma estratégia de descompressão política que lhes permitiu ter um grande controle sobre a transição. Quando os civis retomaram o governo, além de tudo com José Sarney no lugar de Tancredo Neves, houve uma situação de quase tutela. As forças armadas conseguiram vitórias importantes na Constituinte e tinham enorme influência em todas as áreas. Subitamente, a partir do governo Collor, elas pareceram desaparecer do cenário político. Mas continuaram agindo para garantir sobretudo que os crimes da ditadura não fossem punidos e que elas próprias não tivessem que rever suas práticas e valores. A educação militar não foi mexida. Não se produziu uma autocrítica da ditadura. Não houve preocupação em criar uma mentalidade democrática ou ao menos compatível com a democracia no oficialato. O desrespeito ao comando civil foi sempre tolerado, nunca foi efetivamente punido.
O resultado é que temos hoje uma elite militar que pensa de maneira muito parecida com aquela que deu o golpe em 1964. No campo democrático, adotou-se uma política de avestruz – enterrar a cabeça no chão e fingir que o problema militar não existia. Mas os problemas não desaparecem por mágica, eles precisam ser enfrentados. Em países como Argentina, Uruguai ou Chile, a aplicação da justiça de transição gerou turbulências políticas momentâneas, mas ajudou a construir bases mais sólidas para o poder civil.
IHU On-Line – O que o impeachment de Dilma Rousseff expressa sobre a democracia brasileira?
Luis Felipe Miguel – Expressa exatamente a intolerância de nossa classe dominante – ou, de maneira mais ampla, de nossas elites – a qualquer movimento que possa minorar a desigualdade social. O experimento democrático que foi fraturado com a deposição de Dilma Rousseff se baseava num equilíbrio instável entre regras democráticas e desigualdades sociais profundas, idêntico ao que vigorou no período democrático anterior (1945-1964). Com as políticas inclusivas do período petista, as elites passaram a considerar, talvez de forma exagerada, que algumas distâncias sociais estavam se tornando perigosamente reduzidas. Então há uma ruptura das regras do jogo, uma “virada de mesa”, a fim de restaurá-las.
O golpe de 2016 se dá por dentro da Constituição e da institucionalidade vigente, o que é algo comum a processos contemporâneos de retração democrática. A lei é torcida para gerar o resultado desejado, que afronta os princípios democráticos mais básicos. Mantém-se uma casca cada vez mais tênue de respeito à democracia, mas os grupos mais poderosos tutelam as decisões, limitando a ação possível dos governantes eleitores e mesmo, quando necessário, destituindo-os. É o que vem sendo chamado de “desdemocratização” ou “pós-democracia”.
IHU On-Line – A profunda desigualdade social e a imensa concentração de renda do Brasil são situações que fragilizam a democracia? Por quê?
Luis Felipe Miguel – Sim, claro. A democracia inclui uma promessa de igualdade; até o século 19, na verdade, a linguagem política usava “democracia” e “igualdade” praticamente como sinônimos. A privação material profunda retira das pessoas os recursos básicos para a participação política efetiva. Se a garantia da minha subsistência é minha preocupação dominante, não terei como me informar, como debater, como fazer política. Por isso, a garantia de um patamar mínimo de acesso ao bem-estar material é considerada um elemento fundante da possibilidade de real democracia. Ao mesmo tempo, a desigualdade material se converte em desigualdade de influência política, o que fere o princípio democrático de que todos temos o mesmo potencial de influência nas decisões coletivas. Por fim, a desigualdade profunda leva os privilegiados a buscar limitar o funcionamento da democracia. Se temos igualdade política, é de se esperar que as maiorias acabem por usar seu poder para minorar o fosso quanto à riqueza material, com políticas redistributivas – tributação progressiva, oferta de serviços públicos socializados. Em sociedades tão desiguais como o Brasil, uma preocupação central dos grupos dominantes é impedir que esse efeito ocorra. Por isso, eles sabotam a democracia.
IHU On-Line – O Brasil passa por uma crise de representatividade? Por que e quais as consequências?
Luis Felipe Miguel – Não só o Brasil e não só agora. É um fenômeno que vem sendo percebido há décadas, nas democracias representativas de todo o mundo. As democracias de tipo ocidental – o modelo que nos inspirou – são muito permeáveis à influência de grupos privilegiados. Por sua capacidade de moldar os discursos públicos mais visíveis, pelo acesso direto aos tomadores de decisão, pelo controle que dispõem sobre o investimento econômico, pelo financiamento legal ou ilegal de campanhas, pelo lobby, pela corrupção, enfim, por inúmeros canais aqueles que detêm a riqueza se fazem ouvir com muito mais força. Como há algum tempo disse o ex-ministro Luiz Carlos Bresser-Pereira, sem escândalo, simplesmente anotando um fato: no capitalismo, os empresários exercem poder de veto sobre as políticas governamentais. Podemos acrescentar a isso os filtros que fazem com que o campo político se apresente como hostil às mulheres ou aos negros.
Em suma, nossos representantes tendem a ser pouco representativos da diversidade da sociedade e também pouco receptivos a demandas de grupos em posição subalterna. Isso é efeito das desigualdades sociais, mas também é efeito da simples existência da representação política: ela cria, por si só, uma desigualdade entre quem participa diretamente do processo de tomada de decisões e quem não participa. Isso pode levar ao descrédito e à apatia política. Pode levar também à eclosão de novos ativismos, à busca de formas alternativas de presença política. Ou, então, pode levar a um desencanto final com a democracia e à atração por alternativas autoritárias.
Para enfrentar esse problema, é necessário tornar a elite política mais permeável aos diferentes grupos sociais e, sobretudo, estabelecer formas inovadoras de interlocução entre representantes e representados, ampliando a capacidade de diálogo, de supervisão, de compreensão. Em suma, reduzir o hiato entre representantes e representados. Creio que os novos ativismos podem apresentar caminhos, desde que não caiam no canto de sereia do repúdio à representação per se, da busca de uma política antirrepresentacional. Porque a política é necessariamente representativa: o discurso político é aquele em que pretendemos falar por outros, falar por um coletivo.
IHU On-Line – O candidato que venceu o primeiro turno da eleição presidencial brasileira, em um processo que se pretende como expressão da democracia, construiu sua carreira ancorado em discurso claramente autoritário e antidemocrático, que enaltece a ditadura e a tortura. Como um paradoxo desse se estabeleceu? Como lidar com isso, tendo em vista a necessidade de se consolidar a experiência democrática?
Luis Felipe Miguel – A democracia não pode se resumir ao voto. O modelo de democracia eleitoral que nós temos é frágil, na medida em que convoca as pessoas à participação de quatro em quatro anos – e só. No resto do tempo, estamos inseridos em espaços sociais hierárquicos, que premiam a obediência e punem a independência, o pensar com a própria cabeça. É assim nas empresas, nas famílias, nas escolas. Ou seja: temos na sociedade o treinamento oposto ao que é necessário para o exercício pleno e consciente da cidadania política democrática. Com isso, a educação política tende a ser baixa, e as pessoas ficam vulneráveis a discursos simplificadores e mentirosos. No caso do Brasil, a intenção de desestabilizar o governo do PT fez com que a direita moderada estimulasse a emergência de discursos fortemente autoritários, achando que seriam úteis e logo perderiam força. Deu no que deu.
IHU On-Line – Recentemente o senhor comentou sobre colunistas de jornais que consideravam exagero chamar Jair Bolsonaro de fascista. Esse comedimento semântico é exemplo de como a imprensa tratou o candidato antes e durante a campanha eleitoral?
Luis Felipe Miguel – É claro que, se a gente quiser que o rótulo “fascista” só possa ser usado para descrever fenômenos que correspondam 100% ao fascismo italiano da primeira metade do século 20, ele vai se tornar uma categoria restrita àquele momento histórico. Mas é preferível outra estratégia, que vai analisar as proximidades significativas. Jair não é Benito, mas há muito em comum entre eles. Há a intolerância às divergências, presente em slogans como “meu partido é o Brasil”, que marca como ilegítimas outras opções políticas. Há a defesa de todas as hierarquias sociais como intocáveis, vista no reforço da misoginia, do racismo, da homofobia, dos preconceitos de classe. Há o ódio aos movimentos emancipatórios, traduzida na promessa de exterminar os ativismos. Há a exaltação da violência como meio privilegiado de solução de disputas. Há a identificação de grupos sociais como bodes expiatórios, hoje sobretudo os gays, lésbicas e travestis, apresentados tanto como sintomas quanto como causas de uma decadência moral a ser exterminada pela força. Há o patriotismo de fachada, há a mitificação do líder... Há muito em comum. O problema é que a imprensa brasileira, notoriamente enviesada em suas preferências políticas, gosta de simular “imparcialidade” evitando chamar as coisas por seu próprio nome.
O jornal Folha de S. Paulo determinou que a candidatura de Bolsonaro não pode ser chamada de “extrema direita”. Se ela não é, o que seria então extrema direita? O que houve foi a normalização de um discurso claramente fascista, que deveria, ao contrário, ter sido desde o início marcado como inaceitável. Se a gente compara com a França, vê que lá os Le Pen – que em alguns sentidos são até menos extremistas do que Bolsonaro – receberam esta marca. Por isso, ninguém do campo liberal ou democrático, mesmo à direita, vai se aliar com os Le Pen. Aqui é o contrário, o pretenso “centro” se jogou nos braços dele, por puro oportunismo. Mesmo depois da adesão hipócrita de alguns à campanha do #EleNão, no primeiro turno.
IHU On-Line – A democracia brasileira restará mais fragilizada ao final do atual pleito, independentemente de quem se eleja?
Luis Felipe Miguel – Eu digo que estamos vivendo o capítulo brasileiro da falência global da democracia liberal, tal como a conhecemos. É um modelo baseado, como eu já apontei, na participação política episódica de um eleitorado que escolhe com base em um mínimo de informação. Agora, para dizer de forma um pouco provocativa, ficou claro que esse modelo não sobrevive à existência do WhatsApp. Um público tão deseducado politicamente estará sempre à mercê de campanhas milionárias de desinformação, de manipulação. Os exemplos estão se multiplicando pelo mundo afora – eleição de Trump, Brexit, plebiscito sobre o acordo de paz na Colômbia, agora a campanha de Jair Bolsonaro.
Quando a velha mídia de massa (TV, rádio, jornal) dava as cartas, a manipulação da informação também existia, mas a disputa se dava em campo aberto, que permitia contraofensivas. Agora, não. O caso brasileiro é especialmente dramático porque temos práticas autoritárias profundamente enraizadas na sociedade, porque o pacto lulista passava pela despolitização do debate público e porque nossas instituições já foram profundamente fragilizadas com o golpe de 2016.
Mesmo que Bolsonaro seja derrotado, sua bancada já está no Congresso, seus governadores já estão aí. E sua estratégia permanecerá ativa, bloqueando a capacidade governativa do eleito, esperando a próxima eleição. Será que nós aguentamos ter que travar uma batalha épica dessas a cada quatro anos? E quando falharmos, dá para imaginar o estrago que ele ou alguém como ele fará ao país e à própria democracia?
É preciso pensar em alternativas, em modelos que contribuam para uma maior politização da sociedade, o que exige mais espaços de participação. No fim das contas, é isto: nós pensamos que ficando com uma democracia minimalista, limitada, ela pelo menos seria mais segura. Agora está ficando claro que é o contrário. Ou avançamos para uma democracia mais popular e mais participativa ou ficaremos sem democracia alguma.
IHU On-Line – O título de um artigo seu é “A desdemocratização como projeto”. Que ponto de vista o senhor apresenta no texto?
Luis Felipe Miguel – Meu ponto, apoiado em autores como Wolfgang Streeck, é que o casamento entre democracia e capitalismo, que sempre foi conflituoso, entrou em crise profunda. Para funcionar, ele dependia da disposição da classe capitalista para oferecer compensações à classe trabalhadora e aos marginalizados, na forma de políticas sociais, direitos etc. A democracia eleitoral servia, entre outras coisas, para medir o grau de concessões necessários para a manutenção da paz social. Nas últimas décadas, por uma série de motivos, a classe capitalista se mostra menos disposta a pagar o preço da conciliação. Por um lado, a crise global da economia capitalista faz diminuir a “gordura” que podia ser queimada nas concessões. Por outro, aumentou o apetite dos próprios capitalistas, em parte pelo desaparecimento da “ameaça” socialista, o que é comprovado pela concentração acelerada da riqueza. A democracia liberal se torna, assim, um estorvo.
O projeto desdemocratizador é fazer com que as instituições democráticas sejam cada vez mais desprovidas de efetividade, tendo que se curvar de forma cada vez mais completa às exigências dos mercados. Então, o processo eleitoral serve apenas para legitimar o poder do mercado, e qualquer resultado diferente desse deve ser descartado. O poder pode ser exercido por tecnocratas ou empresários e executivos “com competência gerencial”, que, em nome de uma pretensa “modernidade”, retomam o velho discurso thatcherista do “não há alternativas”, que representa, na verdade, a negação da política e da democracia.
Este é o caso de Macron, na França, e de Macri, na Argentina. Quando isto falha, é possível entregar o poder a alguém que canalize o sentimento de revolta contra o sistema não contra o próprio sistema, mas contra as concessões que o sistema foi obrigado a fazer em favor dos grupos dominados – e este é o caso de Trump ou de Bolsonaro. A alternativa final é tirar parcialmente a máscara e impugnar os resultados de processos formalmente democráticos, ignorando plebiscitos, como na Grécia, ou destituindo governos eleitos, como no Paraguai, em Honduras ou no Brasil. Como uma intervenção pontual e sempre, é claro, tentando manter ao máximo a fachada de respeito à “institucionalidade” – afinal, não estamos nos anos 1960, ninguém quer instalar regimes abertamente autoritários.
IHU On-Line – O senhor foi idealizador do primeiro curso sobre o golpe de 2016, na UnB. Como foi essa experiência?
Luis Felipe Miguel – Aqui na UnB, depois das ameaças iniciais do então ocupante do MEC [Ministério da Educação] e da tensão gerada pela agitação da extrema direita, a disciplina ocorreu sem sobressaltos. Mas o começo do semestre foi muito tenso. Nunca imaginei que, em minha vida de professor, teria que dar aula sob esquema de segurança e temor de pancadaria. Creio que este é um dos efeitos mais lamentáveis da campanha macarthista do “Escola Sem Partido”: transformar as salas de aula em espaço de hostilidade, em vez de construção conjunta de conhecimento e de discussão franca.
Em outras universidades, porém, a situação foi mais complicada. Onde o Ministério Público está instrumentalizado pela extrema direita e onde juízes ativistas altamente ideologizados atuam, houve tentativas sérias de censura e de intimidação de professores. A proliferação de cursos sobre o golpe indicou a determinação da universidade brasileira para lutar pela preservação da sua autonomia, que é a condição básica para que possamos fazer bem nosso trabalho como docentes e pesquisadores e para que possamos devolver à sociedade, em forma de conhecimento e diálogo, aquilo que ela nos dá.
Foi também, como tenho repetido, uma tocante demonstração de solidariedade que recebi de centenas de colegas, muitos dos quais sequer me conheciam, que se levantaram para dividir comigo o ônus das pressões e das perseguições. O movimento dos cursos sobre o golpe foi, a meu ver, amplamente positivo e contribuiu para sacudir a letargia da universidade brasileira.
IHU On-Line – Fale de seu sentimento sobre o momento atual.
Luis Felipe Miguel – É um sentimento de muita inquietação – vou evitar usar a palavra “pânico”. Tenho a sensação de que minha geração falhou. Entrei na universidade em 1985, o ano em que os civis voltaram ao poder. Aos trancos e barrancos, julgávamos que estávamos construindo um regime democrático. Que algumas coisas estavam garantidas, que a política passaria mesmo a ser feita usando a gramática dos direitos, que os valores da tolerância e do pluralismo estavam se consolidando, que a justiça social era aceita por todos, ao menos nominalmente, como uma meta a ser atingida, que a violência política aberta era inaceitável. Tudo isso desabou em pouco tempo – basicamente de 2014 para cá.
No ano que vem, meu filho deve entrar na universidade, o que me leva a fazer o paralelo com o momento em que eu mesmo dei esse passo. No lugar da esperança, impera o medo. A democracia foi golpeada, os consensos que pareciam ter surgido se esfarelaram, o fantasma da intervenção militar volta a assombrar o Brasil, talvez um fascista tenha sido eleito presidente. Mas eu me esforço sempre para lembrar que esse desânimo que nos acomete é uma armadilha, para nos paralisar. É necessário resistir a ele, tentar aprender com os fracassos do passado, ter em mente que um projeto tão devastador gerará uma enorme resistência, assim que se esgotarem os mecanismos compensatórios perversos que ele oferece, como a possibilidade de descontar as frustrações nos bodes expiatórios. E, assim, manter vivo o projeto de um Brasil mais justo e menos violento.
Leia mais
- Temer cai, Cármen Lúcia assume e o Judiciário confirma seu papel no golpe
- Depois do “teatro de sombras”, Brasil precisará se reinventar e sair do caminho da prancheta. Entrevista especial com Luiz Werneck Vianna
- É urgente radicalizar o experimento democrático, pois "mesmo que você se apoie em baionetas, você não pode se assentar nelas". Entrevista especial com José Geraldo de Sousa Junior
- O ódio saiu do armário. Entrevista especial com Adriano Pilatti
- Metade dos brasileiros vê chance de nova ditadura, diz Datafolha
- A difícil reinvenção da democracia frente ao fascismo social. Entrevista especial com Boaventura de Sousa Santos
- Num Brasil de duas Constituições concomitantes, a democracia é incompleta. Entrevista especial com Fábio Konder Comparato
- A crise da democracia representativa contemporânea e os caminhos para a renovação: o olhar de Dominique Rousseau
- “A desigualdade do Brasil é disfuncional para a democracia”
- ‘A democracia que nossas oligarquias defendem é, de fato, o confisco da democracia’. Entrevista com Jacques Rancière
- “Temos democracia eleitoral, mas não de exercício”. Entrevista com Pierre Rosanvallon
- Achille Mbembe: “A era do humanismo está terminando”
- A crise política e os limites da democracia liberal como vetor de desenvolvimento soberano no Brasil e na América Latina
- Golpe de 2016 é o maior retrocesso da democracia no Brasil desde 1964
- Do “impeachment” de Dilma à prisão de Lula: o golpe continua. Artigo de Ivo Lesbaupin
- “Pedidos por intervenção militar são grito de socorro de uma população descrente”, afirma cientista social
- WhatsApp pode ameaçar estabilidade no Brasil, diz pesquisadora de Harvard
- "A democracia está ameaçada no Brasil. Conseguiremos salvá-la?". Entrevista especial com Daniel Aarão Reis
- “Há um desejo de ver a ditadura como uma utopia”. Entrevista com Lilia Schwarcz
- A máquina de ‘fake news’ nos grupos a favor de Bolsonaro no WhatsApp
- Reforma tributária progressiva e expansão do gasto público são essenciais para reduzir as desigualdades. Entrevista especial com Rafael Georges
- A ameaça fascista e o que divide as esquerdas
- Onda conservadora cria bancada bolsonarista no Congresso
- A criação do bode expiatório: o antipetismo
- O império dos monopólios. Artigo de Joseph Stiglitz