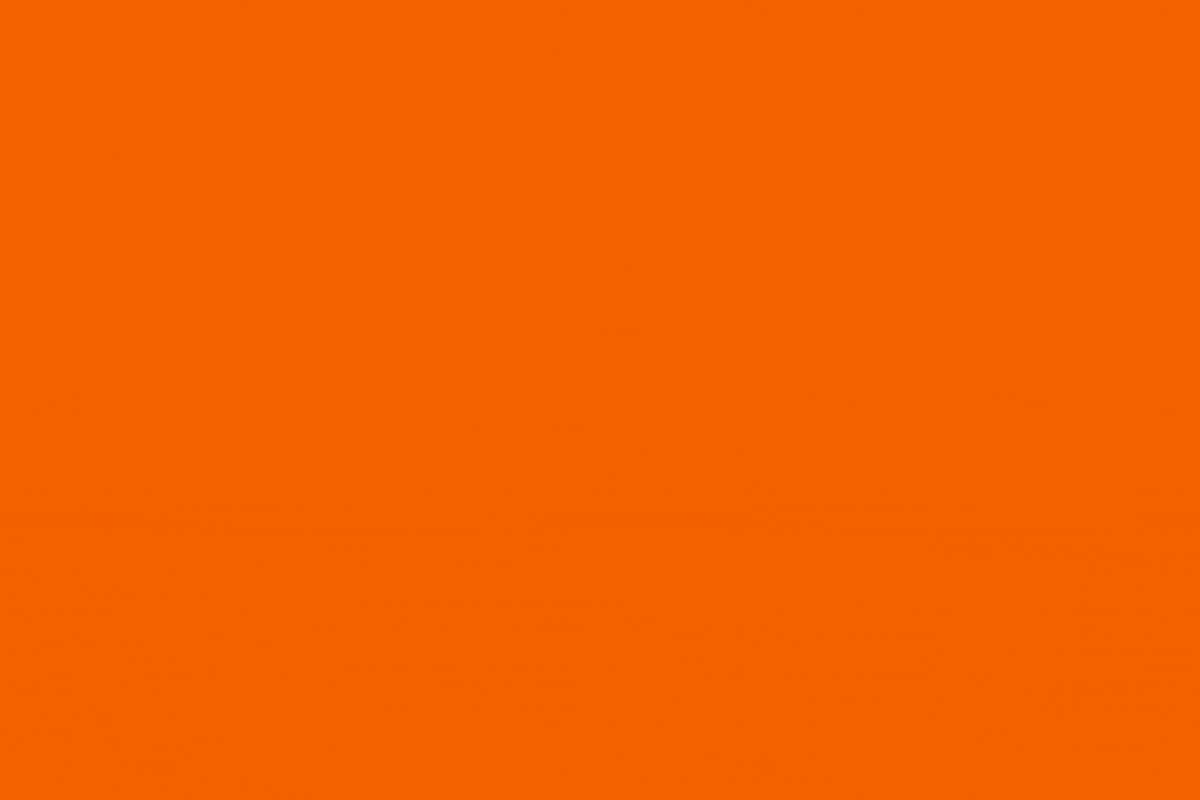28 Outubro 2020
Como o projeto neoliberal e a ultradireita voltaram a ser batidos na América do Sul. Que o resultado diz à esquerda brasileira. Quais os obstáculos à frente e as chances uma mudança real, a partir da Constituinte, indaga Antonio Martins, editor do sítio OutrasPalavras, em artigo publicado por OutrasPalavras, 27-10-2020.
Eis o artigo.
Quem crê que há, na cena internacional, uma tendência irresistível à direita; e que, portanto, a paralisia da oposição brasileira diante de Bolsonaro é compreensível, precisa examinar com atenção as urnas e a ruas em festa, em Santiago. Uma semana depois dos bolivianos e um ano depois dos argentinos, foi a vez dos chilenos rechaçarem nas urnas as duas facções da direita – a ultracapitalista e a protofascista. A convocação de uma Constituinte exclusiva, a ser eleita em seis meses, não expressa apenas o repúdio à Constituição imposta, em 1980, pela ditadura militar liderada pelo general Pinochet. Marca também o rechaço ao neoliberalismo, esta espécie de ditadura sem disfarces do capital que Pinochet adotou sob assistência direta de Milton Friedman, Friedrick Hayek e da “escola de Chicago”, antes mesmo de Margareth Thatcher e Ronald Reagan.
Porque de toda a longa série de revoltas populares que marcaram 2019, a chilena – origem do plebiscito de ontem – foi ao mesmo tempo a mais persistente, a mais multitudinária e a de sentido político mais claro. Nascido de um motim secundarista contra o aumento das passagens de metrô, o levante mirou aos poucos o conjunto de políticas privatistas e de mercantilização da vida que infernizam a população. Voltou-se contra a Previdência privada, cara e que oferece aposentadorias miseráveis aos idosos. Questionou o custo exorbitante do ensino, o endividamento dos estudantes, a tentativa de entregar às corporações o abastecimento de água. Apontou a desigualdade – que empobrece as maiorias e achata as classes médias – como principal problema do país.
Se todos estes problemas afligem também os brasileiros, por que ainda mantém popularidade, aqui, um presidente que age incessantemente para agravar os dramas? Sem a menor pretensão de apontar respostas definitivas, este texto formula quatro hipóteses. Estão relacionadas, em essência, a um fenômeno central. A ultra-institucionalização da esquerda brasileira tornou-a insensível aos dramas das maiorias, incapaz de atuar em conjunto com elas e mesmo de analisar o país em seu conjunto e de formular estratégicas e táticas que coloquem em primeiro plano a transformação da sociedade. Quase toda ação política reduziu-se ao eleitoralismo – a manter espaços nos governos e parlamentos. E esta castração de horizontes utópicos produz, inevitavelmente, o desencanto da população e um salve-se quem puder das supostas lideranças. À ausência de um projeto, cada uma busca defender, acima de tudo, seu patrimônio político pessoal, o que só pode gerar descoordenação, caos e incapacidade de incidir na conjuntura.
O caso chileno é, em vasta medida, uma antítese. Os protagonistas foram as ruas, não os gabinetes. Ao contrário do que ocorreu no Brasil em 2013, estas mesmas ruas encontraram aliados na institucionalidade. Também puderam contar – ainda mais importante – com organizações de movimento social que não estavam politicamente subordinadas ao governo.
Isso permitiu um feito essencial: assumir a condição de polo anti-establishment, que em outros países é frequentemente oferecido à ultradireita e suas máscaras. Dadas estas condições, inverteram-se a correlação de forças e o sentido dos acontecimentos. Além de terem conquistado a Constituinte, os chilenos viverão, em 2021, eleições presidenciais antes inimagináveis. Os dois candidatos favoritos são, hoje, um prefeito do Partido Comunista e um membro do partido de direita que assusta seus correligionários ao dizer que se converteu à social-democracia…
Nada está decidido e o futuro é, como se verá, cheio de obstáculos. Mas o experimento chileno aponta claramente caminhos para uma esquerda interessada em olhar para o futuro – não em se lamentar pelo passado perdido. Por isso, vale a pena estudá-lo em profundidade.
I. As ruas podem voltar a ser vermelhas
Mais de sete anos depois, as “jornadas de junho” de 2013 são ainda um espinho cravado na garganta das esquerdas brasileiras. Os movimentos que as lideraram veem-nas como o instante em foi possível construir um novo país, e em que esta chance foi frustrada pelo apego ao poder do PT e de seus aliados. A esquerda institucional, em sua maioria, enxerga as manifestações como a largada para uma conspiração de direita que terminaria levando ao golpe de 2016 e aos retrocessos que se estendem até hoje. Poucos veem, em 2013, o que talvez de fato seja: parte de um furacão global, desencadeado pela crise financeira de 2008, incompreendido pela maior parte das forças políticas e, por isso, de resultados ainda imprevisíveis.
Na crise de 2008, os poderes globais salvaram a oligarquia financeira, transferiram as perdas para as sociedades e, ao fazê-lo, lançaram um desafio global. As primeiras revoltas populares que eclodiram em resposta foram as da Primavera Árabe de 2011, e terminaram quase sempre em tragédia. Egito, onde surgiu uma ditadura mais sanguinária que a anterior, em parte devido à precipitação de setores populares artificialmente radicalizados. Líbia e Síria, onde a revolta foi instrumentalizada pelos governos ocidentais, interessados na destruição dos Estados nacionais – o que alcançaram, no primeiro caso. Tunísia, cuja democratização de fachada produziu a manutenção das velhas políticas, o empobrecimento da população e uma frustração dos pobres que forneceu, ao Exército Islâmico, o maior número de combatentes vindos de um único país.
Em outro grupo de nações – onde se destacam a Ucrânia e o Brasil – deu-se algo ainda mais grave. Estavam no governo forças políticas que, por motivos diversos, incomodavam o establishment ocidental. Veio a revolta. Interessados em manter o controle do aparato estatal, os partidos no governo acomodaram-se e tentaram proteger-se apelando para a inércia do sistema político. Esta resposta sem coragem abriu, à ultradireita, a possibilidade de assumir a máscara de anti-establishment e de produzir movimentos reacionários vitoriosos.
Finalmente, houve países em que, a médio prazo, o descontentamento produziu resultados positivos. Na Espanha, os Indignados foram a base tanto para o surgimento do Podemos como para a relativa guinada à esquerda do Partido Socialista, que hoje compõem o governo. Nos EUA, o Occupy Wall Street lanço a consigna global do “somos 99%”. Também iniciou um movimento político-cultural de transformações que turbinou a recuperação do conceito de “socialismo”, as candidaturas de Bernie Sanders, o Black Lives Matter e a emergência de lideranças políticas nacionais anticapitalistas, como Alexandria Ocasio-Cortez.
Mas é provável que em nenhum país a virada à esquerda tenha sido tão profunda quanto no Chile. Lá ampliava-se, desde o golpe militar de 1973, o fosso de desigualdade. Lá, os governos de que a esquerda participou foram, desde o início, coalizões social-liberais (como se, no Brasil, PT e PSDB houvessem se coligado) – sem capacidade, portanto, de cativar os movimentos sociais. Lá, este mesmo amálgama (chamado de Concertación) foi afastado do poder em 2017, com a vitória de Sebastián Piñera, um bilionário claramente identificado com a direita.
Sob este governo, os passos da revolta iniciada em setembro de 2019 foram semelhantes ao 2013 brasileiro até nos detalhes. O estopim foi o aumento das passagens de transporte público – vinte centavos aqui, trinta pesos lá. A repressão policial (que, herança da brutalidade da ditadura, provocou 30 mortes e centenas de agressões e de estupros, nas delegacias de polícia) só foi capaz de multiplicar o alcance dos protestos e a solidariedade da população. Em poucos dias, a reivindicação por serviços públicos de qualidade alargou-se para outros temas. Em outubro, nas cordas, diante do fracasso da brutalidade, o governo viu-se obrigado a propor o plebiscito sobre a Constituinte, que jogou a luta política em novo patamar e que agora expõe o neoliberalismo a um xeque inédito.
As revoltas pós-2008, portanto, não têm dono. Num mundo de devastação social crescente, é provável que se tornem parte da paisagem política. Que cabe à esquerda: exorcizá-las ou compreendê-las?
II. Procura-se uma esquerda antissistema
Por muitos anos, a correlação de forças – um conceito de enorme importância para a ação política – foi utilizado no Brasil de maneira estática e mecânica. Lula assumiu a presidência, em 2002, com um Congresso conservador, uma mídia hostil e uma oligarquia financeira capaz de projetar seus tentáculos por todos os poderes. Seu governo não podia, é claro, lançar-se de início contra todas estas potências.
Mas a habilidade usada para neutralizá-las foi se convertendo, aos poucos, na crença de que esta acomodação seria eterna. O que era uma necessidade momentânea – fazer acordos pontuais com as elites de dominação centenária – passou, pouco a pouco, a ser visto como virtude. As jornadas de 2013 foram o sinal. Se estivesse de fato disposto a transformar o país, o governo poderia ter-se apoiado nelas, revisto os velhos pactos e aproveitado a nova correlação de forças para avançar. Em vez disso, vieram dois acordos fatais. Ainda em junho de 2013, Dilma Rousseff desistiu da Constituinte – depois de ter acenado com ela – para acertar-se com a velha política do Congresso. Em dezembro de 2014, poucos dias depois de reeleita, ela praticou estelionato eleitoral e traiu os eleitores para tentar um pacto com a oligarquia financeira. As concessões feitas a esta classe devastaram os mais pobres. Sentindo-se traídos, eles permaneceriam indiferentes diante de todo o processo que levou ao golpe de 2016.
Três fatores criaram, no Chile, condições para uma saída oposta. Num país marcado pelo conservadorismo (com poucas emendas, a Constituição de Pinochet permanece ainda hoje; o direito ao divórcio só foi estabelecido em 2014, e com muitas restrições), duas rebeliões jovens (“dos pinguins”) sacudiram a sociedade, entre 2006 e 2008.
No plano político-institucional, a percepção de que os partidos da Concertación eram incapazes de impulsionar uma mudança real levou ao surgimento, já em 2016, da Frente Ampla. Este conjunto de organizações comunistas, autonomistas e feministas – pequenas, mas em permanente diálogo com a sociedade – foi capaz, já em 2017, de lançar uma candidata presidencial. Beatriz Sánchez obteve, então, 20,3% dos votos. Por pouco, não chegou ao segundo turno.
Em 2019, a Frente Ampla permitiu que os protestos populares tivessem uma voz e, ao fim, um interlocutor, no meio político-institucional. Além disso, surgiram então, num movimento social não atrelado ao governo, articulações como a Plataforma de Unidade Social, que permitiram sustentar a revolta; evoluir a uma greve geral; enfrentar uma conjuntura em que as forças de repressão produziram 30 mortes, centenas de pessoas (na maioria jovens) agredidas e ou estupradas pela polícia; dezenas de outras cegadas por disparos de balas de borracha na altura dos olhos.
A articulação surtiu efeito. No início de novembro, depois de dois meses de protestos e resistência popular, o sistema político foi obrigado a ceder. Convocou-se o plebiscito, ainda que com limitações que se verá adiante. Boa parte delas pode virar letra morta, se a mobilização seguir intensa.
III. Um acontecimento novo sacode o cenário
Depois de uma série de derrotas, qualquer um sente-se impotente. No Brasil de hoje, muitos temem até ouvir falar em Constituinte, ou em qualquer processo de consulta à sociedade, devido à incapacidade da esquerda em reconquistar maioria.
Mas a experiência chilena mostra, a este respeito, que a dominação das direitas é frágil e vulnerável; e que, uma vez rompida, pode levar a mudanças rápidas na correlação de forças e no rumo dos acontecimentos. Considere o que ocorreu naquele país em menos de dois anos – de novembro de 2017 a setembro de 2019.
Na primeira data, o bilionário Sebastián Piñera, dono de um império imobiliário e de empresas como a aérea Latam, elegeu-se, pela segunda vez, presidente do Chile. Derrotou a Concertación, expresssão de uma centro-esquerda que, exatamente como no Brasil, jamais ousou reformas estruturais. Parecia a expressão completa do triunfo neoliberal. Ainda mais porque vinha escudado pela emergência de uma direita ainda mais radical. José Antonio Kast, um outsider que se declarava em plena sintonia com Jair Bolsonaro, obteve, do nada, 7,93% dos votos.
Bastaram vinte meses para uma mudança de cenário radical. Um acontecimento que se estendeu por dois meses – a revolta do pula-catraca secundarista no metrô, desencadeando o envolvimento de uma vasta rede de atores sociais – sacudiu o tabuleiro político. A pauta dos direitos sociais, que era mantida soterrada, reemergiu. Tudo mudou subitamente, desde então.
O aprofundamento das privatizações, tema central para Piñera, está abandonado. A redistribuição de riquezas, necessária para transformar o Chile, ainda precisará ser construída por meio de mobilizações e de invenções políticas. Poucos meses depois da eleição da Constituinte, ocorrerá o pleito presidencial. Completa mudança: segundo pesquisas recentes,
o candidato do Partido Comunista, Daniel Jadue, disputa a liderança. Seu oponente principal, Joaquim Lavin, pertence à União Democrática Independente (UDI), de direita, mesmo partido do presidente Sebastián Piñera. Mas o candidato, para manter chances, passou a se declarar social-democrata – o que causou lhe garante algum protagonismo, mas causa indignação crescente nas fileiras de seu partido…
Como pode mudar a correlação de forças quando há vontade política para remexê-la…
IV. Nada está ganho – mas agora, há ótimos problemas…
A narrativa feita até este ponto pode sugerir, em leitura apressada, que o Chile caminha incontinente rumo à superação do neoliberalismo. Seria uma observação ingênua. Há dois grandes obstáculos no caminho. O primeiro é institucional.
No acordo firmado em novembro do ano passado, os partidos de direita, majoritários no Congresso, concederam (em exemplo significativo, na composição paritária por gêneros da futura Constituinte), mas impuseram condições. Na letra da lei, as decisões terão de ser tomadas por dois terços de votos. A cláusula é esdrúxula. Se, em um ponto qualquer (digamos: a nacionalização da Previdência), houver 60% de apoio a uma proposta, a que se opõe a esta terá, pela matemática, no máximo 40%. Nesse caso, nenhuma das duas prevalecerá? O que dirá, então, a Constituição a respeito? Mesmo derrotado, Piñera propôs, ainda ontem, uma interpretação capciosa. “Nenhuma Constituição é escrita a partir do nada”, disse ele, sugerindo que os 2/3 serão, sempre, o quórum necessário para alterar qualquer dispositivo da Constituição de Pinochet… É algo que, de um ponto de vista democrático, só a pressão das ruas poderá resolver.
Mas o segundo obstáculo é ainda mais desafiador. Como construir, em meio a um Ocidente capturado pelo neoliberalismo, um país rebelde? Que condições permitirão, por exemplo, tornar Comuns a Previdência, a Saúde, a Educação? Como os bens e serviços produzidos pelos chilenos poderão ser consumidos por sua própria população – se hoje servem apenas a uma oligarquia internacional e interna? De onde surgirão os recursos necessários para contratar professorxs, operárixs, médicxs, cientistas, construtorxs? De uma América Latina que supere a onda reacionária iniciada na virada da década? Por que meios? A China e a Rússia, desejosas de expandir sua influência geopolítica, poderão contribuir? Que papel jogarão os EUA, após uma possível vitória de Joe Biden? E a União Europeia?
Tantas respostas, para tantas perguntas.
Mas ao menos o Chile parece, depois de tanta luta, livre dos dilemas imbecis. A cloroquina poderia ajudar? As máscaras não serão inúteis? Por que precisamos de vacinas? Um abraço afetuoso aos hermanos, que se livraram, por meio da ação consciente, de tanto retrocesso.
Leia mais
- Chile: vitória histórica para uma mudança profunda
- Chile. O fim da constituição plutocrática?
- Indigenizar a política no Chile e na América do Sul
- “Só a história dirá se o Chile vive um processo revolucionário; agora, aprovar a Constituinte é um grande avanço”
- Chile. Nove em cada dez chilenos não têm confiança nos partidos políticos. As brutais tensões do colapso dos políticos. Artigo de Eduardo Gudynas
- Chile. A insurreição popular vem do subterrâneo e perfura a máquina violenta e neoliberal. Entrevista especial com Rodrigo Karmy Bolton
- Visões críticas aos novos constitucionalismos sul-americanos
- Chile. Justiça aceita denúncia contra o presidente
- Mobilizações no Brasil ontem (2013) e no Chile hoje (2019)
- Protestos no Chile: as rachaduras no modelo econômico do país expostas pelas manifestações
- Chile: lições que vêm da rebelião popular contra a herança maldita de Pinochet
- Chile. A casta trata de salvar o modelo diante de um povo que despertou
- “Um duro golpe”: as consequências econômicas e de imagem para o Chile pelo cancelamento de duas grandes cúpulas internacionais
- Insurreições de outubro. O mundo nas ruas
- Chile. Relatório registra mais de 20 mortos e 9 mil pessoas presas no país
- Presidente do Chile cancela COP um mês antes do evento
- “Não se trata de 30 pesos, mas de 30 anos de abuso de poder”
- A ‘maldição’ das matérias-primas que condena a América Latina
- ‘O Chile acordou’: autora da foto viral que marcou protestos conta o que sentiu ao capturar imagem
- Chile. “Jesus teria vindo aqui”. A luta dos cristãos em Santiago
- Chile. Piñera renovou seu gabinete em meio a novas manifestações