18 Março 2025
O que aconteceu com Israel? A esperança dos sobreviventes do horror do nazi-fascismo Ă© agora um paĂs-regime racista, impregnado por um nacionalismo religioso-messiĂąnico que estĂĄ prestes a expulsar em massa os palestinos de Gaza e da CisjordĂąnia? Essa pergunta Ă© levantada pelo novo livro de Daniel Bar-Tal, 77 anos, La trappola dei conflitti intrattabili (A armadilha dos conflitos intratĂĄveis), que acaba de ser publicado pela Franco Angeli.
Professor emĂ©rito de Psicologia PolĂtica da Universidade de Tel Aviv, Bar-Tal descreve o rĂĄpido declĂnio da frĂĄgil alma secular e pacifista da sociedade israelense nas Ășltimas duas dĂ©cadas. A alma de uma esquerda que ele abraçou quando jovem e que, com muita dificuldade, havia crescido na dĂ©cada de 1980, levou aos Acordos de Oslo em 1993 com Yasser Arafat, mas jĂĄ em 1995 havia sido severamente abalada pelo assassinato do primeiro-ministro trabalhista Ytzhak Rabin pelas mĂŁos de um extremista judeu. Uma alma para a qual ele agora olha com saudade misturada com preocupação ansiosa por um futuro condicionado pela virada da raivosa intolerĂąncia radical desencadeada pelos horrores cometidos pelo Hamas em 7 de outubro de 2023.
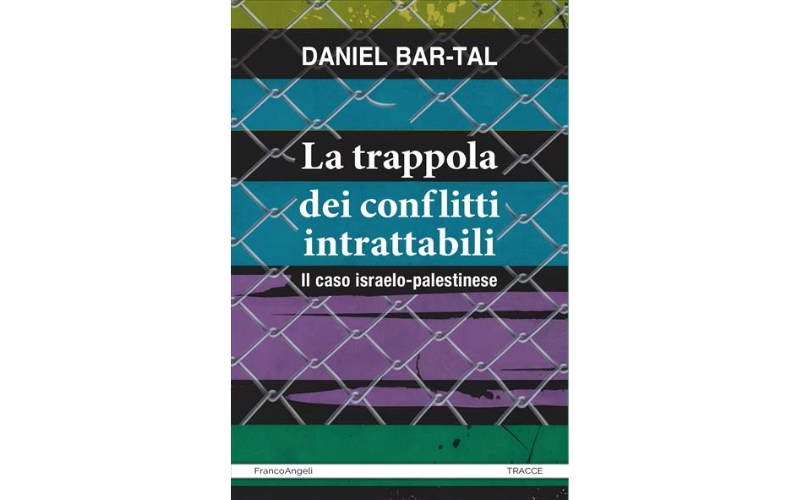
La trappola dei conflitti intrattabili. Il caso israelo-palestinese, de Daniel Bar-Tal (Foto: Divulgação)
A entrevista é de Lorenzo Cremonesi, publicada por La Lettura, 16-03-2025. A tradução é de Luisa Rabolini.
Eis a entrevista.
Professor, Israel estĂĄ traindo suas origens democrĂĄticas para se transformar em uma teocracia Ă©tnica intolerante?
O paĂs nascido em 1948, que se descrevia como pluralista e livre, era, na verdade, bem diferente. David Ben Gurion, o pai da pĂĄtria, era um autocrata. Os primeiros a pagar por isso foram os mais de 150.000 ĂĄrabes que permaneceram no paĂs apĂłs a guerra de independĂȘncia e a expulsĂŁo de outros 750.000 para o exterior. Eles foram submetidos a um durĂssimo regime militar. Sem a permissĂŁo da polĂcia, nĂŁo podiam trabalhar nem sair de casa, e isso atĂ© 1966. Ben Gurion era atĂ© mesmo contra a transformação dos acordos de cessar-fogo com o mundo ĂĄrabe para nĂŁo oficializar as linhas de fronteira: ele queria manter aberta a possibilidade de novas anexaçÔes territoriais depois que Israel jĂĄ havia tomado muitas ĂĄreas que, de acordo com o projeto de partição estabelecido em 1947 pela ONU, seriam destinadas ao Estado Palestino.
A guerra também tinha sido deflagrada porque a frente årabe havia rejeitado o projeto de partição. Em todo caso, quando as coisas começaram a mudar?
ApĂłs a renĂșncia do primeiro governo de Ben Gurion, em 1954-1955, o novo premiĂȘ Moshe Sharett mostrou sinais de abertura e maior tolerĂąncia. Embora a censura continuasse rĂgida: os arquivos do Estado eram fechados para pesquisa; falar em pĂșblico sobre a expulsĂŁo dos ĂĄrabes durante a guerra de independĂȘncia era impossĂvel. Em 1959, um professor da Universidade Hebraica de JerusalĂ©m que abordou o assunto foi demitido e obrigado a ir lecionar na AustrĂĄlia.
A Ășnica salvação para Nethanyahu Ă© o retorno dos ataques em Gaza. As acusaçÔes de corrupção flertam com traição. Pra sair do Foco Nethanyahu matarĂĄ mais palestinos em Gaza e arriscara vida dos refĂ©ns israelenses. Enquanto isso seu filho permanece em Miami.
â Michel Gherman (@michel_gherman) March 18, 2025
Quando as coisas mudaram?
A partir do inĂcio da dĂ©cada de 1980, os chamados 'Novos Historiadores' finalmente tiveram acesso aos arquivos. Pesquisadores como Benny Morris, Tom Segev, Avi Shlaim, Baruch Kimmerling e Idith Zertal documentaram e discutiram a realidade da expulsĂŁo dos palestinos e suas consequĂȘncias.
No livro, o senhor destaca a sequĂȘncias de altos e baixos da sociedade israelense ao longo das dĂ©cadas com relação Ă possibilidade de paz...
Sim, passamos por vĂĄrias fases. Primeiro, a mobilização nacional alinhada com as versĂ”es oficiais e a propaganda do governo e do exĂ©rcito, de 1948 atĂ© meados da dĂ©cada de 1970. Depois, o crescimento das esperanças da esquerda pacifista, desde os acordos com o Egito em 1979 atĂ© o fracasso das negociaçÔes de Camp David para o nascimento de um Estado palestino entre o ex-primeiro-ministro trabalhista Ehud Barak e Yasser Arafat com a mediação de Bill Clinton em 2000. Finalmente, hoje: a afirmação do fanatismo messiĂąnico dos colonos e dos Ășltimos governos de Benjamin Netanyahu, que, com a bĂȘnção de Trump, prega abertamente a âjudaizaçãoâ dos territĂłrios ocupados em 1967.
O Hamas não é também fruto da virada radical no mundo islùmico catalisada pelos atentados de 11 de setembro de 2001?
Ă Ăłbvio que o Hamas foi influenciado pelo Al-Qaeda e depois pelo Isis. Mas Barak cometeu um grave erro ao culpar Arafat pelo fracasso das negociaçÔes em 2000. Naquele momento, atĂ© mesmo uma grande parte da esquerda considerava o acordo impossĂvel. Se tivesse sido Jimmy Carter no lugar de Bill Clinton, as coisas teriam sido diferentes. O ditado israelense de que os ĂĄrabes nunca perdem uma chance de fazer a paz Ă© pura propaganda.
Serå esse o fim das esperanças de paz: Israel sempre serå um gueto cercado?
Acho que sim, serĂŁo necessĂĄrias dĂ©cadas para voltar a uma sociedade aberta ao compromisso. AtĂ© os judeus mais liberais, mesmo na comunidade judaica estadunidense, tendem a apoiar Israel. Netanyahu continua a receber apoio irrestrito. Isso me surpreende, porque nas Ășltimas semanas nosso exĂ©rcito tem atacado os palestinos na CisjordĂąnia: mais de 40.000 refugiados foram expulsos dos campos de Jenin e Tulkarem. Os colonos mais extremistas desfrutam do apoio de amplos setores do exĂ©rcito pelos ataques a vilarejos ĂĄrabes.
Por que tudo isso estĂĄ acontecendo?
Simples: um regime de ocupação nĂŁo pode andar de mĂŁos dadas com a democracia. Vimos isso na Turquia, na RĂșssia, na Ăndia, na Ăfrica e em muitos outros lugares: a ocupação corrompe e distorce nĂŁo apenas as sociedades ocupadas, mas tambĂ©m as ocupantes. Em Israel, a Ășltima tentativa de um compromisso concreto e talvez tambĂ©m mais favorĂĄvel aos ĂĄrabes foi feita pelo ex-primeiro-ministro Ehud Olmert em 2007-2008 com Mahmud Abbas, ainda hoje chefe da Autoridade Palestina em Ramallah. Mas havia uma acusação de corrupção pendente contra Olmert e ele acabou sendo preso. Depois de sua renĂșncia, veio o governo de Netanyahu e, desde entĂŁo, estamos escorregando para um governo autoritĂĄrio. Hoje a ditadura estĂĄ ainda mais prĂłxima: 35 leis liberticidas estĂŁo sendo discutidas no parlamento. A coalizĂŁo do governo Ă© sĂłlida: conta com 68 deputados dos 120 da Knesset e inclui partidos e movimentos fundamentalistas que teorizam a discriminação e a expulsĂŁo dos ĂĄrabes. Netanyahu estĂĄ desafiando os responsĂĄveis do judiciĂĄrio e a liderança do Shin Beth, o serviço de inteligĂȘncia nacional. Acredito que ele terĂĄ sucesso.
Mas essas suas palavras não dão razão aos intelectuais e pensadores judeus - como Hannah Arendt, Karl Popper, Yehuda Magnes - que, até mesmo antes do nascimento de Israel e depois em seus anos de formação, questionaram a legitimidade da empreitada sionista?
Em Israel, o quadro Ă© claro: o paĂs estĂĄ em processo de mudança radical para a direita. Mais de 70% dos israelenses sĂŁo contra o nascimento de um Estado palestino, sĂŁo a favor da expulsĂŁo da população ĂĄrabe e gostariam da anexação total dos territĂłrios ocupados. Apenas 15% se dizem liberais.
Mother of hostage held in Gaza calls to create a human chain to stop IDF assaulthttps://t.co/rGcIr2wwW4
â Haaretz.com (@haaretzcom) March 18, 2025
E quanto ao massacre de palestinos em Gaza?
Quase ninguém se lembra disso, continua sendo uma questão marginal até mesmo na esquerda israelense.
O senhor fala da instrumentalização do Holocausto, da atitude muito comum do lado israelense e judeu de que qualquer um que critique Israel é automaticamente acusado de antissemitismo. Isso não é uma estratégia perdedora no longo prazo?
Absolutamente sim. Em termos psicolĂłgicos, eu chamo isso de trauma escolhido. Ou seja, um trauma que nĂŁo queremos curar, porque Ă© Ăștil para nos dar a aurĂ©ola dos justos, das vĂtimas perenes que estĂŁo sempre certas. O judeu crĂtico deve ficar calado, e o nĂŁo judeu, por sua vez, deve ficar calado, porque Ă© facilmente culpabilizado por crimes que, na realidade, nĂŁo lhe dizem respeito de forma alguma. Em Israel, o espectro do Holocausto desde sempre Ă© explorado para exaltar a necessidade de segurança para os judeus, enquanto ninguĂ©m se preocupa com a segurança dos palestinos. Os nĂșmeros do massacre de Gaza sĂŁo assustadores: fala-se de mais de 65.000 mortos, incluindo vĂtimas de fome e falta de cuidados mĂ©dicos, alĂ©m de dois milhĂ”es de pessoas sem casa. Mas, tambĂ©m nesse caso, os dirigentes israelenses e a opiniĂŁo pĂșblica permanecem em grande parte indiferentes, se nĂŁo convencidos de que foi justo. Nessa leitura que exime das culpas, as vĂtimas por excelĂȘncia nĂŁo podem ser os perseguidores.
A principal causa?
Na dĂ©cada de 1960, os habitantes dos kibutzim socialistas eram menos de 3% dos israelenses, mas 60% dos pilotos e das tropas de elite vinham de suas fileiras. Hoje, 80% desses mesmos corpos e dos oficiais vem de ambientes religiosos ou que concordam com as polĂticas de Netanyahu, o mais extremista na histĂłria do Estado.
Sobre o autor
Daniel Bar-Tal (Stalinabad, URSS, hoje Dushanbe, TajiquistĂŁo, 1946), professor emĂ©rito de Psicologia PolĂtica na Universidade de Tel Aviv, estĂĄ entre os mais respeitados estudiosos das barreiras sociopsicolĂłgicas subjacentes aos conflitos intratĂĄveis. Sua contribuição teĂłrica mais relevante Ă© uma teoria sistĂȘmica abrangente sobre as dinĂąmicas dos conflitos interĂ©tnicos violentos duradouros: como eles eclodem, como se intensificam e como podem ser neutralizados, atĂ© a pacificação.
Leia mais
- Israel quebra o cessar-fogo em Gaza, matando mais de 300 pessoas em uma onda de bombardeios
- Gaza vive crise total enquanto Israel e Hamas debatem trégua
- RelatĂłrio da ONU acusa Israel de âatos genocidasâ contra palestinos e violĂȘncia sexual em Gaza
- Gaza: Veja como iremos reconstruĂ-la. Entrevista com o prefeito Yahya Sarraj
- MĂ©dicos Sem Fronteiras: autoridades israelenses precisam pĂŽr fim ao uso da ajuda humanitĂĄria como ferramenta de guerra na Faixa de Gaza
- MSF: âGaza nĂŁo tem nada, a situação Ă© dramĂĄticaâ. Entrevista com Myriam Laaroussi
- Israel vai interromper eletricidade em Gaza; medida compromete fornecimento de ĂĄgua para 600 mil
- Faixa de Gaza: Israel bloqueia ajuda humanitåria, segundo organizaçÔes internacionais
- Em Gaza, a ajuda humanitĂĄria vital estĂĄ paralisada
- A ONU alertou que a violĂȘncia contra trabalhadores humanitĂĄrios Ă© âinadmissĂvelâ
- âNa Faixa estĂŁo morrendo de fome e Netanyahu Ă© o responsĂĄvelâ. Entrevista com Philippe Lazzarini
- Gaza: ONU lamenta morte de funcionĂĄrios e situação âsem precedentesâ apĂłs novo ataque a ĂĄrea humanitĂĄria
- MĂ©dicos Sem Fronteiras denuncia "assassinatos silenciosos" em Gaza
- HĂĄ uma semana que nĂŁo entra ajuda humanitĂĄria em Gaza
- Venham ver a Faixa de Gaza
- Gaza tem cada vez mais fome: âSe consigo comida, Ă© uma vez por diaâ
- Israel deixa reservas de ĂĄgua em Rafah e no norte de Gaza em menos de 7% do seu nĂvel
- âO cessar-fogo foi imposto a Israel porque nĂŁo alcançou os seus objetivosâ. Entrevista com SaĂŻd Bouamama
- âAgora Ă© preciso enfrentar a questĂŁo israelense-palestina em sua raizâ. Entrevista com Pierbattista Pizzaballa
- Guerra Ă ĂĄgua: HRW denuncia que Israel privou os palestinos em Gaza do mĂnimo para sobreviver
- Médicos Sem Fronteiras: forças de Israel forçam pessoas a se deslocarem do norte para o sul de Gaza e agravam a catåstrofe humanitåria
- Mais de 200 corpos recuperados da vala de um hospital em Khan Yunis
- Coordenador de Médicos Sem Fronteiras na Palestina fala da situação catastrófica de civis em Gaza
- Os fantasmas do hospital dos horrores. Artigo de Angelo Stefanini
- MĂ©dico relata horror vivido em hospital de Gaza: âdesastre humanoâ
- Sob bombardeio, médicos de Gaza lutam para salvar pacientes sem energia, ågua ou comida





