Por: João Vitor Santos | 09 Janeiro 2024
Giuseppe Cocco reflete sobre o nosso mundo atual de uma forma sóbria e encharcada do pensamento de Antonio Negri. O que não significa que os dois concordassem em tudo. “Em 2014, rompemos politicamente e até pessoalmente por causa de meu apoio à candidatura de Marina Silva e da minha convicção de que a reeleição da Dilma Rousseff era, como foi, uma catástrofe”, recorda Cocco. No entanto, os dois se moviam por uma mesma órbita, que faz Cocco revelar um Toni Negri pouco conhecido da maioria. “Ele veio assistir à minha banca e fomos comemorar como se fosse um jogo de futebol, com a cumplicidade da nossa língua materna, o vêneto”, exemplifica.
Na entrevista a seguir, concedida por e-mail ao Instituto Humanitas Unisinos – IHU, Giuseppe Cocco falou sobre o pensador que morreu no último dia 16 de dezembro. Muito mais do que uma memória laudatória, Cocco destaca a potência de Negri em seu pensamento mutante, que nunca se resignou ao cânone para compreender a esquerda. “Já no tumulto dos anos 1970, no meio da emergência caótica dos movimentos da autonomia operária na Itália, Negri se recusava, e nós com ele, de aprender a crise do fordismo (e do keynesianismo) como se fosse um ‘complô’ contra as conquistas operárias e o papel do Estado”, pontua. O que, em certa medida, contribui para a atualidade de obras como Império. “A proposta de Negri e Hardt em Império é ao mesmo tempo muito atual e totalmente ultrapassada por um novo, distópico e despótico fora: uma armadilha gigantesca da qual as redes e organizações da esquerda radical estão totalmente incapazes de se desvencilhar”, analisa.
Agora, uma coisa é a atualidade de sua obra, outra é como a esquerda lê Toni Negri. Cocco nem sequer se arrisca a dizer se ou o quanto a esquerda recebe a obra do italiano. Mas não hesita em dizer que toda esquerda, nacional e global, sofre de certa paralisia. “Em um primeiro nível, poderíamos dizer que quem paralisa a esquerda é a própria esquerda, quer dizer, uma certa deriva da esquerda. Em um segundo nível, é a emergência especular de um novo fascismo que bloqueia a esquerda”, antecipa.
É por isso que na entrevista Cocco também entra na conjuntura atual, em uma forma de revelar as contradições e os desafios de nosso tempo. “O pensamento do Negri nos ilumina ao mesmo tempo que nos mergulha na obscuridade. Quanto à ‘crise civilizatória’, um bom ponto de partida são as reflexões de Negri sobre Maquiavel, Spinoza e Marx, especialmente no livro O poder constituinte em que ele reconstitui uma história aberta, a partir de baixo da modernidade e de um ‘ocidente constituinte’, revolucionário”, analisa. Cocco também reflete sobre as guerras de nosso tempo e crise climática/ambiental, entre outras da atualidade, sempre relacionando com a obra de Antonio Negri.

Giuseppe Cocco | Foto: Acervo IHU
Giuseppe Cocco é graduado em Ciência Política pela Université de Paris VIII e doutor em História Social pela Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne). Leciona na Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ e é editor das revistas Lugar Comum e Multitudes. Entre outros livros, publicou: New Neoliberalism and the Other: Biopower, Antropophagy and Living Money (Lexington Books, 2018), em parceria com Bruno Cava, Entre cinismo e fascismo (Autografia, 2019), Dopo la marea (Derive e Approdi, 2021) e, em parceria com Bárbara Szaniecki, O Making da Metrópole: rios, ritmos e algoritmos (Rio BOOKS, 2021).
A entrevista foi originalmente publicada pelo Instituto Humanitas Unisinos - IHU, 09-01-2024.
Confira a entrevista.
IHU – Como o senhor conheceu Toni Negri e como o pensamento dele ecoou em suas reflexões?
Giuseppe Cocco – Conheci Antonio Negri de maneiras diferentes. Cada um delas foi um contato singular. O primeiro momento foi, digamos, abstrato, algo como o quarto “gol” que Negri conta ter assistido na épica partida entre seu time (o Padova) e o grande Torino: “O Padova atacava, o Torino estava de joelhos. Foi uma ação coletiva que permitiu a Capello marcar aos 90 minutos, de voleio. Mas eu, esmagado pelo entusiasmo dos outros, era muito pequeno para ver. O gol mais belo, tive que imaginá-lo” [Antonio Negri, “Gol de letra” tradução de Maurício Santana Filho, Folha de S.Paulo].
Eu era estudante secundarista do primeiro mês do primeiro ano de liceu numa cidade da província de Veneza quando conheci o movimento operaísta: por um lado, os estudantes universitários (oriundos de minha cidade) traziam de Pádua os debates que já tinham em seu cerne os trabalhos do jovem e brilhante professor titular da cadeira de “doutrina do Estado” na faculdade de Ciências Políticas que era Negri; por outro, logo ao lado da minha escola, havia um espaço – a sede de Potere Operaio – onde se reuniam os operários das “assembleias autônomas” das fábricas de Porto Marghera (zona industrial de Veneza) e dos coletivos operários de Pordenone (da fábrica de eletrodomésticos, Zanussi): nessas reuniões de operários, era de “recusa do trabalho” e do “Negri militante em Porto Marghera” que se falava. Digamos que esse primeiro contato foi de “formação” ao mesmo tempo teórica e militante, no tumulto dos anos 1970 italianos.
O segundo encontro
O segundo momento foi em Paris onde ele chegou em 1983, depois que a eleição a deputado lhe permitiu de sair de prisão e, em seguida, refugiar-se na França de Mitterand. Esse momento durou até 1995 (quando fui para o Brasil). Por um lado, o encontrei para discutir como poderíamos lidar com a deriva do exílio, da prisão e da derrota: tudo isso circulava de maneira bastante tóxica no ambiente dos “italianos de Paris”, particularmente com ele (por causa inclusive de tudo que envolveu sua candidatura, eleição e exílio).
Por outro lado, em seguida, nos encontramos na fabricação do debate sobre a crise do fordismo e as transformações do trabalho: a ideia era de não deixar se levar pelas interpretações que apontavam como determinante a reorganização neoliberal do capitalismo. Nesse período conheci o Michael Hardt (que ficou por alguns meses morando na minha casa) e rearticulei os laços, que estavam perdidos, entre os coletivos remanescentes da autonomia veneta e Negri: foram dois ou três seminários num dos escritórios da editora L’Harmattan (rue des écoles, em Paris) [na cerimônia de cremação de Negri, encontrei um dos presentes, Luca Casarini, que trabalha com o navio Mediterrâneo para o resgate de migrantes no Mediterrâneo, e me disse, brincando: “nos anos 1990, fazíamos reuniões na sede de l’Harmattan, agora as fazemos no. ... Vaticano” [cf. “Casarini e la sua ONG accolti dal Papa”, Il Giornale di Roma, 20 de dezembro de 2023, Il Papa loda e incoraggia Luca Casarini: “tornate in mare”, ANSA, 20 de dezembro de 2023].
Terceiro encontro
O terceiro momento foi no Brasil, entre 2003 e 2014, na ocasião de várias visitas ao Brasil e de viagens conjuntas a Argentina, Bolívia, Venezuela e Berlim: nesse terceiro momento tivemos uma cooperação bastante intensa, no cerne da qual há o livro que escrevemos juntos e publicamos em 2005 (GLobAL: biopoder e luta em uma América latina globalizada, Record) assim como vários artigos que publicamos juntos na Folha de S.Paulo, na revista Valor ou na Pagina|12 (Argentina).
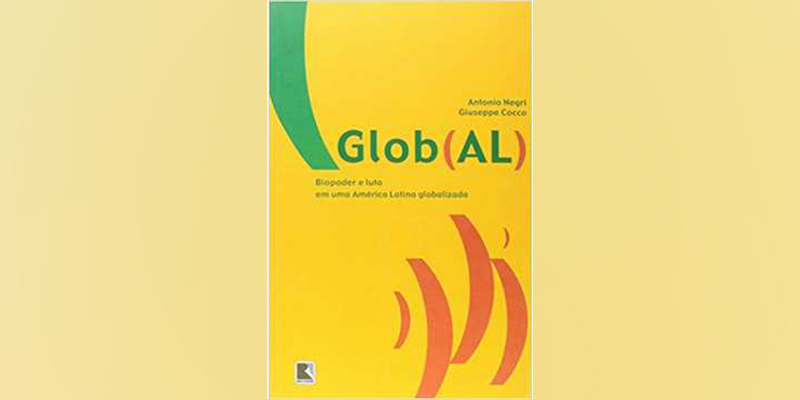
Obra que Cocco escreveu em parceria com Negri | Foto: divulgação
Por exemplo, em 2006 ele assinou comigo um artigo intitulado “Lula é muitos”, com base em um manifesto que promovi ainda em 2005, quando a grande maioria dos atuais “lulistas” estava prestes a abandonar o barco (por causa do escândalo do mensalão). Nesse terceiro momento, trabalhamos no âmbito político teórico definido pelo livro Império. Entre os diferentes momentos, trocamos muitas cartas (e e-mails) e eu fui visitá-lo pelo menos duas vezes em seu apartamento em Roma, via dela Gensola, em Trastevere (depois em Veneza).
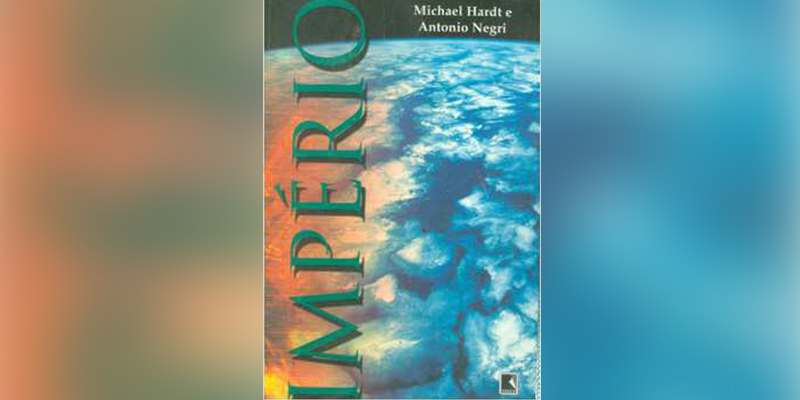
Obra de Michael Hardt e Antonio Negri (Record, 2001) | Foto: divulgação
Rompimento
Em 2014, rompemos politicamente e até pessoalmente por causa de meu apoio à candidatura de Marina Silva e da minha convicção de que a reeleição da Dilma Rousseff era, como foi, uma catástrofe (uma parte de meu ponto de vista sobre esse afastamento definitivo está no texto que escrevi com Bruno Cava: “A diferença brasiliana”). Nessa dimensão “definitiva” não há nenhuma negação nem da formação que lhe devo, nem da chance incrível que tive de estar perto de uma figura humana tão potente e generosa como ele. Uma chance que não deixa de ser também uma coragem, pois Negri exilado na França não era com certeza a figura mundialmente reconhecida depois da publicação de Império.
Contudo, depois do início da invasão russa à Ucrânia (em 24 de fevereiro de 2022), tenho a sensação de que, ao passo que ele queria voltar ao marco ideológico da esquerda (inclusive dedicando os vários tomos de sua autobiografia à “vida de um comunista”), eu derivei – a meu ver em continuidade com minha maneira de entender nossa “tradição” operaísta – definitivamente para longe desse nefasto nominalismo, para além das ambivalências do operaísmo, dialogando com a filosofia de autores como Maurice Merleau-Ponty, Claude Lefort, Cornelius Castoriadis e os trabalhos mais recentes de Roberto Esposito.
Assistir, nesses últimos dois anos, à passividade (quando não é pior) da esquerda diante da devastação russa da Ucrânia e à transformação do programado 7 de outubro em um “ato de resistência palestino”, me confirma nessa escolha e na sua urgência. [Sobre uma crítica à posição de Negri diante da guerra na Ucrânia, sempre com Bruno Cava, ver: “Is it Easier to Imagine the End of the Wolrd than the End of Putin?”, Common, 23 de novembro de 2022.]
IHU – Em um de seus escritos acerca das memórias com Negri, o senhor diz que “Negri não aceitava a doxa da esquerda que remetia tudo ao ‘neoliberalismo’”. Pode detalhar esta sua afirmação e explicar como ele compreendia o neoliberalismo para além dos cânones da esquerda?
Giuseppe Cocco – Já no tumulto dos anos 1970, no meio da emergência caótica dos movimentos da autonomia operária na Itália, Negri se recusava, e nós com ele, de aprender a crise do fordismo (e do keynesianismo) como se fosse um “complô” contra as conquistas operárias e o papel do Estado. O esforço era, por um lado, o de atribuir a crise à força da autonomia operária (particularmente às lutas contra o trabalho fabril) e, por outro, de apreender (pela con-ricerca: copesquisa) a nova composição técnica e política da classe: a formação do “operário social”, quer dizer, de lutas que aconteciam diretamente na esfera da reprodução (o feminismo, os jovens precários) e no terreno metropolitano (na produção dos serviços).
Os coletivos da autonomia operária não lutavam pela permanência das fábricas (que já começavam a ser reestruturadas e deslocalizadas), não queriam o “lavorare meno per lavorare tutti” (trabalhar menos para que todos tenham emprego), mas “lavorare tutti per lavorare meno”: era preciso reconhecer, como diziam as feministas que lutavam pela remuneração do trabalho doméstico, que já estávamos trabalhando na sociedade, na esfera da reprodução e que o Welfare state, organizado em torno da relação salarial, não podia mais ser estruturado na proteção do trabalhador de fábrica, mas do trabalho social.
Essa tentativa teve um sucesso estrondoso entre 1974 e 1977, mas foi esmagada por um alicate composto pelo pensamento ortodoxo da esquerda: uma parte do alicate era a esquerda majoritária reformista (do Partido Comunista Italiano) que defendia a inevitável reestruturação se preocupando ao mesmo tempo com proteger corporativamente o operariado sindicalizado das grandes fábricas do norte (por causa disso nunca houve a implementação de um seguro desemprego universal na Itália); a outra parte era a esquerda operária ultraminoritária da luta armada (particularmente as Brigadas Vermelhas) que pretendiam conduzir uma “guerra” de resistência do operário fabril.
Sofisticando este esforço
No fim da década de 1980, dessa vez em Paris, esse mesmo esforço continuou de maneira bem mais sofisticada: em vez de interpretar o pós-fordismo como resultado de uma vontade política neoliberal, tratava-se de ver como, por um lado, esse se organizava sobre uma composição cada vez mais imaterial do trabalho e, por outro, era atravessado por novas lutas e movimentos que se constituíam diretamente na sociedade e não mais na relação salarial: vejam o que rolou no Brasil pós-fordista (e “pós-novo sindicalismo”). A maior política social (o Bolsa Família) remunera os pobres enquanto tais (como não lembrar o artigo no qual declaramos que o Bolsa Família era “embrião de renda universal”? [Antonio Negri e Giuseppe Cocco, “Bolsa Família é embrião de renda universal”, Folha de São Paulo, 5 de janeiro de 2006]; o maior movimento social veio da luta sobre a mobilidade (em junho de 2013).
As implicações políticas e mesmo antropológicas disso são enormes: o Bolsa Família, mesmo quando se chama Auxílio Emergencial, decide as eleições nacionais; a ausência de resposta ao movimento de junho de 2013 levou à crise múltipla que permitiu a eleição de Bolsonaro em 2018.
Voltando no tempo e à Itália para ilustrar essa clivagem, cito dois episódios totalmente diferentes mas que a expressam bem: em 1980, durante um encontro de solidariedade com os 20 mil operários demitidos pela Fiat, em um cinema da periferia de Turim houve um conflito violento entre os coletivos da autonomia e os setores operários mais ou menos ligados à lógica brigadista que “denunciavam” Negri como um “pós-moderno”, que terminou com a expulsão do local desses fragmentos de corporativismo operário. Em 2007, havia sido organizado um seminário na Universidade Complutense de Madri sobre globalização com a participação de muitos intelectuais da New Left Review, além de Giovanni Arrighi, David Harvey, evento para o qual eu fui convidado juntamente com Negri e Yann Moulier Boutang.
Ao passo que Yann e eu fomos, Negri se recusou a participar por não querer compartilhar aquela que ele definiu como “confusão política e mental” do organizador e ainda menos o debate sobre “neoliberalismo” com esses “autores”.
IHU – Neste mesmo escrito que referimos acima, o senhor recorda o almoço que teve com Negri após a defesa de sua tese de doutorado. Pode detalhar este episódio e explicar a centralidade que o autor teve na sua tese?
Giuseppe Cocco – Trata-se mais de uma lembrança afetiva, da generosidade e simplicidade do Negri e de compartilhar a cultura vêneta (como ele escreve sobre o futebol). Ele veio assistir à minha banca e fomos comemorar como se fosse um jogo de futebol, com a cumplicidade da nossa língua materna, o vêneto (mesmo que o dele fosse da Pádua e o meu do interior de Veneza).
O que foi central na minha tese foi o operaísmo (de Negri e sobretudo de Tronti) e o diálogo com a escola francesa da regulação, por um lado, e com o trabalho sobre migrações de Yann Moulier Boutang, por outro lado. Yann foi o intelectual que introduziu o operaísmo na França.
IHU – Quais conceitos e ideias de Negri ainda são centrais para compreendermos o momento atual, especialmente centrando na crise civilizacional que passa por guerras, desintegração dos modos de trabalho, desajuste ambiental, político, econômico e social?
Giuseppe Cocco – Responder a essa questão não é simples. Digamos que será o trabalho, já em andamento, dos intérpretes, das apropriações, adaptações do pensamento de Negri e de suas múltiplas facetas. Pessoalmente, ainda não parei para fazer um “balanço”.
Esquematicamente, diria que há pelo menos duas centralidades, digamos, de método. A primeira é o método da tendência: trabalhar sobre o que vai acontecer como se fosse já dado, antecipar nas contradições atuais essa que é a tendência da transformação; a segunda é o método operaísta de apreender as transformações do capital do ponto de vista das lutas: é a única maneira de resolver a aporia que reduz a crítica esquerdista do capitalismo a uma denúncia, por lado, reacionária e, por outro, incapaz de explicar por que as massas rurais e do sul global migram ou sonham em migrar para a Europa e os Estados Unidos.
Nesse sentido os trabalhos de Yann Moulier Boutang sobre a história da passagem do trabalho escravo ao trabalho assalariado são fundamentais, pois as multidões continuam sendo compostas por migrantes. Hoje, como ontem, é a partir das migrações, construindo esse difícil perspectivismo, que precisamos enxergar as novas contradições.
Aceleração algorítmica
No que diz respeito aos aportes em termos de trabalho imaterial e general intellect, esses já tinham passado pela atualização das pesquisas sobre o capitalismo cognitivo, mas me parece que ficaram aquém da aceleração algorítmica (que compreende os avanços em termos de Inteligência Artificial). O desafio aqui é de entender se o método operaísta, da luta que antecipa e determina a inovação capitalista, continua funcionando ou se estamos numa situação na qual o capital, subsumindo realmente a sociedade, adquiriu essa capacidade de inovação dentro de si.
Muitas vezes, Negri fez afirmações interessantes nesse sentido, dizendo, por exemplo, que a transformação já tinha acontecido e suscitando a ira do “gauchisme” (um dos que mais criticava essas “provocações” era o Slavoj Zizek e junto com ele Alain Badiou). Talvez, a volta tardia de Negri à doxa “comunista” e à narrativa antineoliberal tenha sido uma tentativa de remediar essas ambivalências que faziam a sua originalidade (como quando ele chamou a votar sim pela Constituição Europeia).
Voltando ao Império
O outro desafio é de voltar à noção de império ou, melhor, a como ela foi colocada em crise e praticamente cancelada por pelo menos três dinâmicas: a difusão geral das narrativas pós- e sobretudo decoloniais; a emergência global do fundamentalismo (desde a constituição da república islâmica do Irã até o Hamas, passando pelo 11 de Setembro, o Afeganistão dos talibãs, o Estado Islâmico etc.); o escorregamento, enfim, do Sul Global na defesa de um multipolarismo que implica a multiplicação reacionária de guerras de alta intensidade.
Nesse sentido, a proposta de Negri e Hardt em Império é ao mesmo tempo muito atual (por ter constituído uma janela totalmente alternativa) e totalmente ultrapassada por um novo, distópico e despótico fora: uma armadilha gigantesca da qual as redes e organizações da esquerda radical estão totalmente incapazes de se desvencilhar.
Da mesma maneira, o próprio conceito de poder constituinte, desenvolvido no livro que é talvez o mais importante e belo de Negri, apresenta hoje muitas limitações teóricas (por exemplo, sobre a questão do “absoluto”) e políticas (por exemplo, sobre o uso feito das assembleias constituintes pelo chavismo na Venezuela para abrir o caminho a uma deriva autoritária).
IHU – Vivemos, pelo menos, duas guerras ao mesmo tempo: uma em Gaza e outra na Ucrânia. Como o senhor conecta os contextos destas guerras com a crise civilizatória que temos vivido? Como o pensamento de Negri pode nos iluminar especificamente neste complexo contexto?
Giuseppe Cocco – Aqui o pensamento de Negri nos ilumina ao mesmo tempo que nos mergulha na obscuridade. Quanto à crise civilizatória, um bom ponto de partida são as reflexões de Negri sobre Maquiavel, Spinoza e Marx (essa que ele define como uma metafísica maldita), especialmente no livro O poder constituinte, em que ele reconstitui uma história aberta, a partir de baixo da modernidade e de um “ocidente constituinte”, revolucionário.
Nesse sentido, o pensamento de Negri pode contribuir para se resistir às derivas que atravessam a esquerda, particularmente o identitarismo, que, por sua vez, é uma deriva do movimento Woke norte-americano. [Importante é o livro de Elisabeth Roudinesco, O eu soberano: ensaio sobre as derivas identitárias, tradução de Eliana Aguiar, Zahar, Rio de Janeiro]. Isso deveria funcionar também diante da guerra: não são duas as guerras, mas uma só e não ver isso é uma cegueira muito grave. Estamos diante de uma guerra que junta e atravessa muitos conflitos velhos e novos.
Se no Brasil se pensa que a guerra é uma coisa da Europa ou do Oriente Médio, Maduro pensou bem ao mostrar que não é bem assim e uma linha de frente pode se abrir a qualquer momento bem na fronteira norte do Brasil. Ao mesmo tempo, o antiamericanismo ideológico ignora que não existe “uma” América do Norte, que o governo Biden foi fundamental para que os golpistas no Brasil baixassem a bola (em janeiro de 2023) e ignora também que hoje as maiores ameaças à soberania da América do Sul dependem de maneira brutal da China e essa desempenha nessa guerra um papel bem problemático, que não anuncia nada de bom para a soberania dos países da região.
Não contra o imperialismo, mas contra a democracia
A ofensiva contra o “Ocidente” que o eixo entre Rússia, Irã, Coreia do Norte e China promove, não é, como pensam vários líderes do Sul Global (como Lula ou o presidente sul-africano), contra o imperialismo, mas contra a democracia: não por aquilo que a democracia tem de formal, mas por sua dimensão real. Putin não está preocupado em não repetir os ritos “liberais” (as eleições ou plebiscitos). Seu inimigo são as dimensões instituintes da democracia. O “ocidente” onde os migrantes do mundo todo querem ir é o produto do “outro” iluminismo, da “outra” modernidade, da “ciência” que só se desenvolve por meio da liberdade.
Ao mesmo tempo, o último Negri (mas também aquele da guerra da Jugoslávia ou da primeira guerra do Iraque) tem se alinhado, surpreendentemente, a um discurso antiamericanista, às vezes defendendo a paz (passando por cima da determinação ucraniana de resistir) e não sei o que ele diria diante dessas tragédias do 7 de outubro e de Gaza (Michael Hardt tem falado da ação do 7 de outubro pelo Hamas como de uma revolta de presos).
Em linha geral, me parece que, sobretudo na última fase de sua produção ele tenha se preocupado em manter algo como uma identidade de “esquerda” e que seus colaboradores mais recentes estejam totalmente presos das narrativas decoloniais e pós-coloniais e essas são incapazes, a meu ver, de responder diante dessa nova condição de guerra.
IHU – Em que medida podemos afirmar que a esquerda compreendeu o pensamento de Negri?
Giuseppe Cocco – Não saberia dizer se a esquerda compreendeu o pensamento de Negri. Parece até que essa é uma das preocupações que o levou a querer enfatizar o fato de ser “um comunista”, algo bem em contradição, por exemplo, com o livro-entrevista Good Bye Mr. Socialism.

Obra de Negri, na tradução em francês (Seuil 22 março 2007) | Foto: divulgação
Isso me faz pensar no paradoxo da recepção dos governos progressistas, particularmente do governo Lula. Quando Negri veio ao Brasil pela primeira vez em 2003, eu e ele tínhamos tomados posições bastante favoráveis ao (primeiro) governo Lula e isso tinha criado uma série de constrangimentos nos seminários, especialmente na Biblioteca Municipal em São Paulo, onde o debatedor, Laymert Garcia dos Santos, tinha ficado muito incomodado. A intelectualidade de esquerda estava bem na mesma onda que os setores de esquerda do PT que depois saíram para criar o Psol (ou mesmo ficaram, mas sem concordar). O “gauchisme” queria a ruptura com o neoliberalismo e pensava que, por exemplo, o Bolsa Família fosse uma biopolítica no sentido agambeniano do termo, uma necropolítica, ou um assistencialismo (no sentido de Francisco de Oliveira).
Ao contrário, nós dizíamos que o problema não era a hegemonia neoliberal, mas um novo tipo de capitalismo e de trabalho e, por isso, que o Bolsa Família era o embrião de uma renda universal. Dez anos depois, em 2013 e 2014, as posições eram totalmente invertidas: depois do incrível movimento de junho que abria um horizonte novo de lutas pelas democratização das metrópoles e a possibilidade de uma inflexão institucional (com a eleição de Marina), a intelectualidade “gauchiste” estava toda de volta ao consenso com o governo neodesenvolvimentista do PT e Negri (em 2016) acabou querendo ir com esse “retorno” que nos levou para a falsificação das narrativas (o impeachment seria um golpe, a luta contra a corrupção um complô) que, em seguida, foi aproveitada pelo bolsonarismo. Negri não nos salvou da inflação dos sentidos que isso provocou e que abriu caminho à monstruosidade que foi o governo Bolsonaro.
IHU – Hoje, o que paralisa a esquerda global? E a nacional?
Giuseppe Cocco – É uma boa pergunta. Para responder, é preciso organizá-la em vários níveis. Inicialmente temos dois níveis de tipo político: em um primeiro nível, poderíamos dizer que quem paralisa a esquerda é a própria esquerda, quer dizer, uma certa deriva da esquerda. Em um segundo nível (quase como consequência do primeiro, mas não inteiramente), é a emergência especular de um novo fascismo (ou de um populismo de extrema-direita) que bloqueia a esquerda. Essas duas tendências convergem na ameaça à democracia e desestabilizam todas as tentativas de reconstruir um projeto social democrático. Essa crise não para de se aprofundar.
Deslocamentos estruturais
Em seguida, creio que temos três níveis ou deslocamentos mais estruturais: a relação paradoxal que liga a conquista de determinados níveis de bem-estar às dinâmicas demográficas; a urgência e os impasses da transição ecológica (o aquecimento global); o retorno da guerra de alta intensidade. Não há como desenvolver aqui cada um desses pontos, mas é possível indicar algumas pistas.
Como disse, num primeiro nível, a paralisia da esquerda é fruto – mais uma vez na história, como nos anos 20 e 30 do século passado – de uma radicalização da esquerda que, como diz Philippe Corcuff, produz uma grande confusão ideológica. Essa doxa não se resume mais às cartilhas do marxismo-leninismo (ou do estalinismo), mas produz efeitos parecidos. Ela se organiza em torno de duas linhas: por um lado, a mistura de uma versão redutiva da pauta woke com a reformulação das narrativas “decoloniais” (e em menor medida pós-coloniais) produz identitarismos essencialistas que multiplicam a fragmentação das lutas (por exemplo, a cultura do cancelamento); por outro, a explicação ideológica do capitalismo contemporâneo – globalizado, algorítmico, financeirizado – como resultado de um projeto das elites neoliberais faz do capitalismo não mais nossa condição ambivalente (uma relação aberta de liberdade e exploração), mas um complô (do capital, dos bancos e dos financistas ... dos ricos).
As duas narrativas levam a esquerda para longe do trabalho crítico dentro da produção de subjetividade e das lutas, para dentro da geleia de uma mística do oprimido, das vítimas. O paradoxo dessa inflexão é bem claro no Brasil: os efeitos de dominação gerados pelo acoplamento dessa mística do oprimido são diretamente proporcionais ao horror que essa esquerda (hegemônica) tem pelo movimento de Junho de 2013. Ao mesmo tempo que não entendiam nada do ciclo dos movimentos instituintes das multidões (desde as primaveras árabes à revolução da dignidade da Praça Maidan em Kiev, continuando com Hong Kong, Belarus, Líbano, Israel etc.) do trabalho metropolitano, as esquerdas promoveram uma batalha hegemônica, ou seja, uma polarização sem precedentes desde a queda do muro de Berlim ou mesmo antes.
Quanto mais esse processo foi “bem-sucedido”, mais o resultado foi uma marginalização que abriu o caminho, nas melhores das situações, ao reforço de governos de direita e, em outras, à chegada ao poder de forças antissistema de extrema-direita. Podemos citar quatro casos de escola: o britânico, o francês, o argentino e, obviamente, o brasileiro. No Reino Unido, a gestão radical e ambígua do Partido Trabalhista por Jeremy Corbin lhe impediu de aproveitar os impasses dos conservadores (Tories) na fase pós-Brexit e isso na medida que esse seu partido polarizava sua oposição ao “neoliberalismo” e à globalização, fomentando a oposição à União Europeia.
O mesmo aconteceu e acontece na França onde a radicalização da esquerda, sob a batuta do ex-trotskista Jean-Luc Mélenchon, destruiu o Partido Socialista e abre, hoje, o caminho à chegada ao poder da extrema-direita de Marine Le Pen: a loucura desse tipo de postura chegou, em outubro de 2023, ao Mélenchon não aderir a uma manifestação institucional contra o antissemitismo, deixando esse espaço aos fascistas xenófobos. Na Argentina, assistimos ao mesmo movimento em diferentes momentos dos últimos 20 anos e, particularmente, na última fase do governo de Alberto Fernández, esvaziado pela vice-presidente Cristina Kirchner que impôs um seu aliado (Sergio Massa) ao mesmo tempo como ministro da economia e candidato presidencial.
Mas é no Brasil pós-Junho de 2013 que a polarização promovida pela esquerda nos aparece como mais familiar e nefasta. Os mecanismos dessa deriva são tão numerosos que fica difícil resumi-los, mas podemos lembrar alguns episódios emblemáticos: o massacre infame da candidatura de Marina Silva em 2014, com abuso generalizado de fake news e outras formas de comunicação em rede dos blogues lulistas; a transformação do embate sobre impeachment de Dilma Rousseff em uma luta contra um “golpe”; a explicação da Lava Jato como um grande complô norte-americano contra o desenvolvimento industrial do Brasil e, enfim, a imposição por Lula de uma chapa presidencial sectária em 2018.
Desafios à compreensão
Olhando para trás, com os olhos do atual governo Lula nem dá para acreditar: seria difícil explicar ao alienígena recém-chegado na terra como foi tratada a atual ministra do meio ambiente pelos comunicadores “sujos” do lulismo. Ainda mais complicado seria de explicar como intelectuais sofisticados, que em 2014 entraram em guerra “contra o risco neoliberal” que Marina representava, hoje sentem em partidos sem alma e governos locais totalmente... neoliberais. Como não ver a cacofonia (que às vezes o próprio Lula reproduz) do discurso do impeachment como golpe diante do verdadeiro golpe que quase aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023? Como explicar ao mesmo alienígena que, com Lula na prisão e no meio de uma sequência incrível de escândalos de corrupção, o PT tenha recusado todo tipo de aliança em 2018 para impor a chapa de Fernando Haddad com uma exponente do insignificante Partido Comunista do Brasil?!
O desfecho das eleições de 2022 confirma, pelo avesso, a irresponsabilidade política daquela polarização: talvez seja suficiente lembrar as imagens de Geraldo Alckmin (então governador de São Paulo) e Alexandre de Moraes (seu secretário de segurança) participando da grande manifestação contra a corrupção e pelo impeachment de Dilma em 2016 e pensar a quanto foi fundamental a presença de Alckmin como vice para a vitória de Lula e o engajamento de Moraes (alçado ao STF pelo “golpista”, na terminologia petista, Michel Temer) como presidente do TSE para proteger a lisura do processo eleitoral.
Polarização que resulta no fascismo
Para além dos casos específicos, o novo fascismo ou o populismo de extrema-direita é o resultado espelhado dessa polarização promovida pela esquerda. A extrema-direita aprendeu a usar os instrumentos para amplificar e desviar os mesmos temas promovidos pela esquerda ideológica: as fake news se tornaram seu terreno privilegiado, ao passo que a crítica da globalização virou crítica do globalismo e dos globalistas; as teorias do complô estruturaram novas narrativas sobre, por um lado, a “ameaça” comunista e, por outro, a pandemia como sendo ou uma “pequena gripe” ou um “vírus chinês”.
Assim, o negacionismo da mudança climática se torna uma narrativa geral, o tal do “terraplanismo”. Por sua vez, a tecnofobia difusa na esquerda (com os temas da alienação e do Big Farma) virou movimento e, no caso monstruoso do governo Bolsonaro, política no vax.
Reconstrução do projeto social democrático
A reconstrução de um projeto social-democrático passa pela dissipação dessa confusão toda e esse trabalho não é fácil. A dificuldade está no fato que a polarização se alimenta de algumas transformações estruturais: os países desenvolvidos ou que começam a conhecer um certo patamar de bem-estar conhecem um crescente envelhecimento demográfico (aumento vertiginoso da esperança de vida e queda da natalidade abaixo da taxa de reprodução). As reformas do sistema de Welfare que isso implica geram tensões e conflitos que a importância crescente dos fluxos migratórios amplifica.
A polarização da qual falamos acima não para de se alimentar dessa dinâmica: os governos de centro são impactados pelas resistências “de esquerda” diante, por exemplo, das reformas das aposentadorias ao passo que o populismo de extrema-direita organiza os tumultos xenófobos contra fluxos migratórios que são duplamente inevitáveis: porque nenhum país consegue funcionar sem os migrantes (particularmente nas atividades do cuidado); mas também porque as migrações constituem o principal terreno de luta das multidões oriundas dos países às voltas com os enigmas do subdesenvolvimento (do disforme, escrevemos Bruno Cava e eu) [cf. Giuseppe Cocco e Bruno Cava, O enigma do disforme, Mauad, Rio de Janeiro, 2018].
Essas dificuldades aumentam de maneira exponencial diante da transição ecológica cuja urgência é a cada dia sublinhada pela multiplicação de eventos climáticos extremos. Aqui também temos que lidar com algumas incongruências discursivas que vêm pela polarização de esquerda que recicla no terreno ecológico aquilo que não conseguiu fazer no terreno político: assim, o “ecologismo” oscila entre a afirmação de que não há transição ecológica sem “fim do capitalismo” e a injunção quase religiosa do “fim do mundo” (lembremos a “genialidade” da palavra de ordem “um outr fim do mundo é possível”).
Luta por transformação
Sem desconsiderar o necessário papel de “alerta” que essas narrativas tiveram, é preciso ver que elas são paralisantes. Em primeiro lugar, porque não se sabe o que seria uma saída ecológica do capitalismo: já vimos que o “comunismo”, que devia ser produzido pelas lutas dos operários que já produziam a riqueza, escambou em regimes totalitários, antioperários e “capitalistas sem democracia” (Rússia, China), no caso da virada ecológica, nem a subjetividade operária temos, apenas um novo tipo de tecnocracia (cuja dimensões autoritárias é melhor nem pensar). A luta ecológica precisa ser por transformação e não pelo “fim”, nem o fim do capitalismo, nem o do mundo.
Quando a humanidade saiu do feudalismo, não tinha como projeto o capitalismo: apenas aconteceu como um sistema produzido pela ambivalência do processo, entre libertação (da servidão e da escravidão) e novas formas de exploração que conseguiram lidar com essa liberdade sem negá-la. Nosso desafio hoje é de conseguir juntar as lutas pela emancipação com a pauta ecológica e isso implica acelerar a transição biopolítica, como vimos durante a pandemia. Enquanto isso, a retórica do “fim do mundo” amplifica nossa paralisia (não se mobiliza em cima de visões maníaco-depressivas, mas se vendem muitos livros) e alimenta o negacionismo do aquecimento global.
Renovada lógica de guerra total
Por fim, temos hoje uma tentativa terrível de sintetizar tudo isso em uma renovada lógica de guerra total, de alta intensidade. A guerra imperialista lançada pela Federação Russa com a invasão da Ucrânia com base em uma aliança com a China, o Irã e a Coreia do Norte tem pelo menos três dimensões: antes de tudo, ela é o desfecho de uma guerra híbrida que a Rússia (e mais recentemente a China) tem implementado desde a emergência das narrativas contra as “revoluções coloridas” (desde a primeira metade da década de 2000); em seguida, ela abre o caminho para uma multiplicação de conflitos de alta intensidade que já estão acontecendo na África, e a China anuncia para ocupar Taiwan (sendo que Maduro nos lembra que isso não vai necessariamente ficar longe da América Latina).
O retorno da guerra de alta intensidade no coração da Europa, com a possibilidade de um enfrentamento direto das grandes potências, não precisa de muitos esforços para ser definido em toda sua inquietante periculosidade. Ora, o que as luzes sinistras das explosões mostram e tornam explícitas são as convergências que a polarização produziu e produz. Como não lembrar da visita de Bolsonaro a Putin logo antes da invasão da Ucrânia e das múltiplas declarações de simpatia ao presidente russo por parte de Lula e de seu ministro das Relações Exteriores (faz poucos dias ele declarou que Putin seria bem-vindo ao Brasil)? Curiosamente, as dificuldades da esquerda em apoiar a resistência ucraniana não se confirmam diante do apoio entusiasta ao Hamas.
Aos ucranianos se deveria impor a paz, diante de uma invasão russa que no fundo é vista como resultado previsível das “provocações do Ocidente, da OTAN” (apesar da evidência que a tragédia ucraniana é de não estar na OTAN, ao ponto que países há décadas neutros como Suécia e Finlândia decidiram de entrar na aliança atlântica). Aos palestinos, pelo contrário, deve-se total solidariedade contra a “ocupação” apesar da provocação atroz que foi não tanto a operação de guerra do Hamas, mas o massacre, estupro e sequestro premeditado de centenas de crianças, mulheres e idosos no dia 7 de outubro. A “esquerda” está assim cheia de dúvidas sobre a jovem e precária democracia ucraniana, ao passo que as certezas mais absolutas norteiam um apoio incondicional à deriva fundamentalista na Faixa de Gaza, colocando em dúvida a legitimidade do estado de Israel.
Mais uma vez, estamos na maior confusão: a extrema-direita, começando por Trump, tem as mesmas posições putinistas da esquerda sobre Ucrânia, mas apoia cegamente a extrema-direita israelense (o primeiro-ministro Netanyahu). Mas isso não esconde o fato que, por baixo disso, a extrema-direita veicula e banaliza o antissemitismo dos vários grupos paramilitares (Proud Boys, Oath Keepers) que assaltaram o Capitólio em 6 de janeiro de 2020. Ora, é muito inquietante constatar como, logo depois do pogrom do 7 de outubro, o antissemitismo apareceu tão massificado e banalizado também do lado da esquerda, na confusão das críticas radicais do sionismo, como se esse movimento nacional e plural não tivesse direito de existir [cf. artigo de Bruno Bimbi, “É antissemitismo sim, Gleisi”, O Globo, 7 de janeiro de 2024]. A esquerda antiamericana se junta assim ao fascismo russo (e chinês), onde o ocidente é o neoliberalismo que empodera as minorias “degeneradas”. Sem contar como anos de denúncia das “finanças” alimentaram também o fantasma do complô dos banqueiros, dos ricos... com a repetição dos velhos clichês que vêm juntos.
Convergência vermelho-marrom
O que a guerra explicita é uma convergência vermelho-marrom, nacional-socialista, muito parecida, embora diferente, da que aconteceu na década de 1930 (lembremos o acordo entre Hitler e Stalin, sancionado no tratado Molotov-Ribbentrop). Essa convergência vermelho-marrom é ainda mais preocupante porque o “lado marrom”, o novo fascismo, como nos anos 1930 e 1940, é aquele que tem mais coerência e mais dinâmica eleitoral. Pensemos no dispositivo híbrido que o Putin manobra: logo antes do início da invasão à Ucrânia, o regime russo e seu vassalo bielorusso promoveram a chegada de centenas de migrantes médio-orientais nas fronteiras com a Polônia.
Mais recentemente isso foi repetido na fronteira com a Finlândia e, depois do terremoto na Líbia, na ilha de Lampedusa na Itália. É evidente o processo de armamentização das migrações: a tensão na fronteira polonesa servia a tornar ainda mais doloroso e conflitivo a chegada de milhões de refugiados ucranianos. Quanto mais essas tensões crescem, mais cresce eleitoralmente na Europa ocidental o populismo xenófobo de extrema-direita, ou seja, de partidos putinistas.
IHU – Para quem não conhece Toni Negri, qual a obra fundamental para começar a se apropriar do pensamento dele? E por onde este sujeito deveria seguir?
Giuseppe Cocco – Sugeriria três textos, em função das preocupações:
1) O poder constituinte (para uma percepção geral do método)
2) Spinoza e nós (para a filosofia)
3) GlobAL, biopoder e lutas em uma América Latina globalizada (para uma discussão alternativa ao decolonial, que coloque as migrações no cerne da análise).
Leia mais
- É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim de Putin? Artigo de Bruno Cava e Giuseppe Cocco
- Eleições 2022. Caminhos, limites e possibilidades políticas para os próximos anos. Entrevista especial com Bernardo Ricupero e Giuseppe Cocco
- Debate dogmático sobre gasto social precisa ultrapassar a Faria Lima e a Vila Madalena. Entrevista especial com Giuseppe Cocco
- Homenagem da Universidade Nômade a Antonio Negri
- Toni Negri, operaista. Artigo Jean Tible
- Toni Negri: professor da revolução. Artigo de Marcello Tarì
- Ele foi meu mestre. Comentário de Bruno Cava
- Toni Negri (1933-2023). Artigo de Michael Löwy
- Toni Negri, um militante comunista acima de tudo. Artigo de Hugo Albuquerque
- Toni Negri: o pensador da autonomia e da multidão
- Uma trilogia para repensar os consensos que paralisam a esquerda. Entrevista especial com Jean Tible
- A sociologia do trabalho de Negri: ousada e polêmica. Artigo de Cesar Sanson
- Toni Negri, um militante comunista acima de tudo. Artigo de Hugo Albuquerque
- Toni Negri, o filósofo da insurreição, morre aos 90 anos
- Utopia, segurança e democracia: Toni Negri e Milei – O fascismo na sua vez. Artigo de Tarso Genro
- “O comunismo é uma paixão coletiva alegre, ética e política que luta contra a trindade de propriedade, fronteiras e capital”. Entrevista com Antonio Negri
- Toni Negri: testemunho de uma vida filosófica e militante
- Toni Negri
- Hardt e Negri: “Assembly” ou como articular as lutas da multidão (II)
- Hardt e Negri: ‘Assembly’ ou como mapear os últimos ciclos de lutas (I)
- “O poder capitalista nunca foi tão frágil como agora. É uma panela fervendo”. Entrevista com Antonio Negri
- "O novo Palácio de Inverno são os bancos centrais”. Entrevista com Toni Negri
- O devir constante do Poder Constituinte, uma leitura da obra de Negri
- ‘Como é possível governar pagando uma quadrilha?’, questiona Antonio Negri
- Populismo pós-estrutural de Laclau e Multidão de Negri-Hardt: caminhos para compreender o nosso tempo. Entrevista especial com Bruno Cava
- Toni Negri: impressões de uma visita ao Brasil
- Negri além de Negri
- O desejo que excede a necessidade. Entrevista com Toni Negri
- A multidão de Negri, o Bem Viver de Acosta e um árabe no centro
- “A direita encontra-se em posição de ataque em todos os cenários continentais”. Entrevista com Antonio Negri
- Sujeito e Poder em Spinoza e Negri, a Metrópole contra a tirania
- Negri: hora de repensar a Revolução?
- Toni Negri e Podemos: entre o poder constituinte e a hegemonia
- Negri e nós
- O Podemos entre hegemonia e multidão: Laclau ou Negri
- Agamben: quando a inoperosidade é soberana. Artigo de Toni Negri
- Toni Negri no Vaticano, mas ninguém escuta os aposentados
- Negri: um caminho para reanimar as lutas europeias
- Antônio Negri: "É a multidão que comanda a história"
- "Os novos direitos que nascem da multidão são assassinados", diz Negri
- Do fim das esquerdas nacionais aos movimentos subversivos na Europa. Reflexões de Toni Negri
- “Coloca-se hoje o problema da reapropriação da riqueza comum”. Entrevista com Toni Negri
- “A pobreza não é déficit de ser; o verdadeiro déficit de ser é a solidão”, afirma Antonio Negri





