“Não existe projeto de país a partir das políticas da violência e desse imaginário regressivo. Tudo que entendemos como pacto social, estado de direito, democracia e direitos humanos explode diante dessa regressão coletiva e vingativa”, aponta a pesquisadora
Vivemos realmente tempos sombrios no Brasil, em que meninas são violentadas sexualmente e lhes é tolhido o direito ao aborto. Mães são sedadas e abusadas enquanto parem. Indígenas morrem à míngua pela ganância de um extrativismo que exaure a mata e estrangula rios. Para a jornalista, professora e pesquisadora Ivana Bentes, são trágicos ícones de “práticas de poder patriarcais, assujeitamento e humilhação que são justificadas a partir de pressupostos ideológicos e na crença da ‘inferioridade’ do outro a quem se assujeita e desumaniza”. Para ela, é como se a sociedade estivesse contaminada pela violência.
Na entrevista a seguir, concedida por e-mail ao Instituto Humana Unisinos – IHU, Ivana explica como essa contaminação de ódio, que leva à trágica fatura social, se dá através de uma linguagem da violência. “Não se trata mais de figuras de linguagem ou ‘linguagem figurada’, mas de ‘atos de fala’ que incentivam a sua concretização. Foi o que vimos nesse episódio em que um pai de família que estava comemorando seu aniversário de 50 anos torna-se um alvo a ser abatido por manifestar e celebrar sua posição e paixão política”, detalha.
Ivana não usa meias palavras e sentencia: a linguagem da violência irradia desde o presidente Jair Bolsonaro e se converte em ações concretas no tecido social. “Os atos de fala descem da linguagem figurada e se tornam literais, vendidos como a expressão de uma guerra maior: contra o comunismo, o socialismo, o globalismo, o esquerdismo, tudo isso apresentado como signos de um estado global de corrupção e degradação moral com tons apocalípticos”, completa. Por isso, defende que é preciso compreender que “os embates políticos locais e específicos do Brasil se associam e podem ser melhor entendidos a partir de outros ecossistemas: da extrema-direita global, do populismo digital e de movimentos como o tradicionalismo”.
E é em movimentos como o Cinema Novo de Glauber Rocha que Ivana encontrou objetos bem concretos que nos ajudam a entender esses tempos de crescimento do tradicionalismo. “Glauber sempre se interessou por esse fascismo popular. Ele queria expressar e entender essa violência para reverter a fraqueza em força. Passar da fome ao sonho. Transformar a repressão política em exercício de liberdade. Politizar a fé e celebrar o transe latino-americano como uma força singular e vital”, analisa. Mas, se quisermos, não precisamos ir tão longe na história do cinema nacional, pois ela vê essa potência em filmes mais recentes como Marighella e Bacurau. “Bacurau traz de volta o imaginário das guerrilhas dos anos de 1970 sem fazer qualquer menção a elas, sem qualquer discurso político ou panfletário”, exemplifica.
Por fim, ainda de olho no cenário político-eleitoral, Ivana sintetiza: “estamos em uma encruzilhada entre pelo menos dois cenários. O primeiro é o da democracia em agonia, no qual a democracia e o Estado são sequestrados e apropriados por ações predatórias de governo, empresas, milícias, em sintonia em uma necropolítica. E um segundo cenário, da democracia em transformação e mobilização, com uma articulação inédita e uma aliança ampla em defesa do fortalecimento do estado de direito e da inovação institucional e social”.
Na última quinta-feira, 14-07, a professora e pesquisadora proferiu uma conferência no espaço do IHU ideias acerca da linguagem da violência e a materialização na sociedade de nosso tempo.

Ivana Bentes | Foto: Arquivo Pessoal
Ivana Bentes é professora titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, doutora em Comunicação pela mesma instituição e ainda Pró-Reitora de Extensão da UFRJ. Atua como professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFRJ. Também é coordenadora do Pontão de Cultura Digital da ECO/UFRJ e do Laboratório de Inovação Cidadã da UFRJ. Suas pesquisas versam sobre questões das tecnologias da comunicação, cultura, estética, cultura de redes, capitalismo cognitivo e inovação cidadã.
IHU – A senhora tem pesquisado e refletido sobre a linguagens da violência. No que essas linguagens consistem e como se revelam em nosso tempo?
Ivana Bentes – Minhas pesquisas sobre as linguagens da violência emergem em um contexto muito distinto do qual estamos vivendo agora, a partir das análises no cinema de Glauber Rocha, o seu manifesto Uma Estética da Fome, de 1965; o pensamento de Gilles Deleuze, que fala que o ato de pensar é gerado, provocado quando este é violentado por um fora, uma exterioridade, posto em crise; os estudos de Franz Fanon sobre a violência na luta política e nos processos de colonização de descolonização etc. Ou seja, a dimensão da violência como linguagem, pensamento, estética, mas também as violências do Estado, a violência nas sociedades patriarcais, as violências reais e simbólicas nas lutas contemporâneas.
Não se trata de nenhum tipo de apologia à violência de qualquer espécie, ou justificativa da violência como fenômeno e instrumento de assujeitamento e poder. Estamos falando de processos complexos, materiais e simbólicos e seus efeitos.
Comecei minha pesquisa com autores que vão trazer um sentido coletivo, político, transformador e transgressor para os fenômenos da violência. Mas o que temos hoje é bem diferente, minhas pesquisas se direcionam para as linguagens da violência no próprio capitalismo.
Se, nos anos de 1960 e 1970, temos essas análises extraordinárias das revoluções, revoltas, indignações como princípios transformadores e transgressores, hoje, até pelo efeito do cenário em que estamos, com a ascensão de uma extrema-direita global, me interessa pensar a violência como necropolítica. E como essa extrema-direita se apropriou do sentido transgressor e revolucionário das lutas anticoloniais e anticapitalistas para propor sua própria “revolução” necropolítica, uma revolução conservadora, uma guerra contra o iluminismo, o modernismo, os valores republicanos.
IHU – A linguagem da violência é memetizada pela sociedade? Podemos identificar essa memética em nosso cotidiano?
Ivana Bentes – O ecossistema memético bolsonarista faz parte de uma constelação “glocal” (local e global). Assim, a nostalgia de um passado idealizado, o elogio da ditatura militar como um período de ordem, o horror às diferenças, a denúncia de inimigos prioritários e urgentes a serem derrotados (o antipetismo histérico), esses argumentos circulam pela fábrica de fake news e memes da extrema-direita à exaustão.
O elemento violento dessa disputa é exacerbado e alimentado; memes, imagens, declarações que falam cotidianamente de “eliminar, matar, derrotar”, nem que para isso seja preciso usar procedimentos ilegais, criminosos, intervenção militar, invasão do Supremo Tribunal Federal – STF. Justamente como foi ensaiado no 7 de setembro de 2021, uma tentativa golpista e messiânica frustrada de invasão da Suprema Corte e paralisação da Esplanada.
Não se trata mais de figuras de linguagem ou “linguagem figurada”, mas de “atos de fala” que incentivam a sua concretização. Foi o que vimos nesse episódio em que um pai de família que estava comemorando seu aniversário de 50 anos torna-se em um alvo a ser abatido por manifestar e celebrar sua posição e paixão política. O guarda municipal Marcelo Arruda foi assassinado na sua festa de aniversário em Foz do Iguaçu, no Paraná, por crime de ódio político praticado por um bolsonarista, o policial Jorge José Guaranho, que se define como “conservador e cristão” e coloca em prática o discurso bolsonarista, violento e bárbaro de uma guerra “santa” contra seus inimigos.
Os atos de fala descem da linguagem figurada e se tornam literais, vendidos como a expressão de uma guerra maior: contra o comunismo, o socialismo, o globalismo, o esquerdismo, tudo isso apresentado como signos de um estado global de corrupção e degradação moral com tons apocalípticos. Ou seja, os embates políticos locais e específicos do Brasil se associam e podem ser melhor entendidos a partir de outros ecossistemas: da extrema-direita global, do populismo digital e de movimentos como o tradicionalismo.
No livro “Guerra pela Eternidade”, Benjamin Teitelbaum analisa o pensamento tradicionalista como a base ideológica que funda a nova direita mundial.
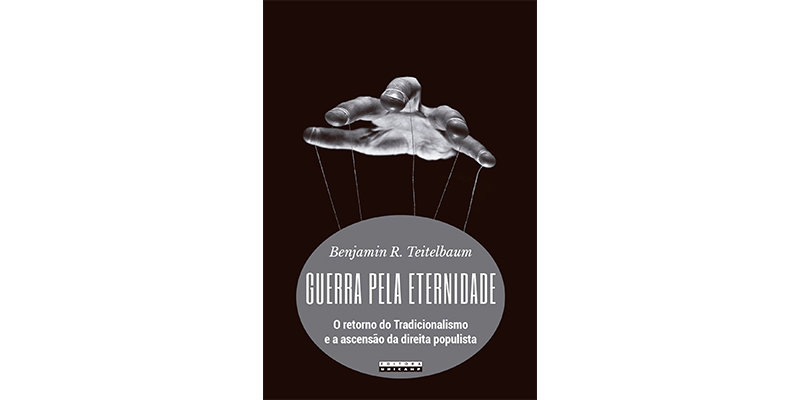
Obra de Teitelbaum citada por Ivana Bentes (Editora Unicamp, 2020)
Imagem: divulgação
Menos do que estar filiado a um movimento, o que vamos encontrar na retórica de Bolsonaro e na de seus ideólogos, como Olavo de Carvalho, são fragmentos do discurso tradicionalista. É uma das “colas” possíveis para uma colcha de retalhos ideológica que ganha força e sentido com a inundação midiática e massiva de conteúdos pouco ortodoxos através das redes. Uma memética da violência, das tripas e sangue, de um apocalipse e caos construído para facilitar ações extremistas.
IHU – Uma menina de 12 anos tem o direito ao aborto negado depois da sofrer violência sexual. Uma atriz é condenada nas redes sociais por entregar um bebê, também fruto de estupro, para adoção. O dirigente de um dos maiores bancos do país, estatal, por sinal, cai por denúncias de assédios moral e sexual. Como a senhora lê esses episódios desde essa perspectiva da linguagem da violência?
Ivana Bentes – Mais uma vez é a passagem do figurado ao ato, do discurso às práticas. É a construção de um imaginário em que a sensação de impunidade e proteção faz com tenhamos episódios como esses de abuso de poder, do alto executivo que assedia funcionárias, de uma juíza que impede que uma criança que sofreu estupro possa abortar legalmente, de um anestesista que estupra na hora do parto uma mulher anestesiada na sala de cirurgia. Práticas de poder patriarcais, assujeitamento e humilhação que são justificadas a partir de pressupostos ideológicos e na crença da “inferioridade” do outro a quem se assujeita e desumaniza.
A violência não tem limites, como no caso da atriz condenada por grupos conservadores por ter entregado um bebê fruto de estupro para adoção. São atos ancorados em um imaginário e história patriarcais, arcaicos, brutais.
IHU – Em 2001, a senhora escreveu um artigo no Jornal do Brasil sobre a fome, a partir do que compreende como “estética da fome”. Hoje, em 2022, o Brasil vive o flagelo da fome em cada esquina das grandes cidades. Como essa estética da fome se atualiza na realidade de hoje?
Ivana Bentes – As metáforas da fome e da devoração já tinham alimentado o modernismo de 1922, a teoria antropofágica de Oswald de Andrade, e chegou atualizada pelo movimento pop-tropicalista brasileiro, nos anos de 1970, uma devoração típica da cultura de massas e sua "geleia geral”. O princípio antropofágico fala dessa nossa capacidade de devoração, apropriação, esse empanturramento contemporâneo de imagens, discursos que precisam ser reprocessados, trabalhados para que não nos matem de indigestão.
Também no cinema latino-americano a fome foi tematizada, e no Brasil é um tema recorrente do Cinema Novo, que explodiu nos anos de 1960. A fome, diz Glauber, foi tratada nesses filmes de modo fenomenológico, social, político, estético, poético, demagógico, experimental, documental, cômico. Mas sua proposta iria além: transformar a fome em “princípio”, uma espécie de “impensado” latino-americano, capaz de funcionar como motor de um pensamento novo.
Ao invés de tentar explicar a miséria e a escravidão de uma forma puramente política e racional, Glauber lança mão da experiência mítica e religiosa e mergulha no inconsciente explodido e no transe latino-americano. Fé, transe e celebração são a base da sua nova política. Glauber analisa os diferentes efeitos da fome sobre a consciência e o inconsciente popular:
“[A pobreza] repercute psiquicamente de tal forma que este pobre se converte num animal de duas cabeças: uma é fatalista e submissa à razão que o explora como escravo. A outra, na medida em que o pobre não pode explicar o absurdo de sua própria pobreza, é naturalmente mística.”
São princípios e questões que vamos reencontrar no cenário e na política contemporânea quando olhamos a enorme influência de ideologias extremistas e fundamentalistas no cotidiano dos brasileiros, no assujeitamento e submissão às palavras de ordem teocráticas. São lugares em que a extrema-direita e grupos religiosos incitam a uma guerra santa em nome de valores e crenças que ferem de morte a democracia, que abalam a coesão social, que produzem uma cisão irremediável entre “nós” e “eles”.
IHU – O cinema novo de Glauber Rocha, em alguma medida, bebia dessa estética da violência ao tratar da realidade brasileira como forma de denúncia e para desmascarar uma sociedade distópica. Hoje, a miséria e as violências têm sido representadas pela mídia como estética ou está mais para cosmética? Quais são as diferenças entre uma e outra?
Ivana Bentes – O que Glauber falava nos anos de 1960 sobre seu filme Deus e o Diabo na Terra do Sol nos ajuda a entender o que queria expressar, como a violência da colonização, do sertão, da seca, da fome, dos fazendeiros e jagunços se expressam em um inconsciente explodido: “é uma espécie de liberação da violência, através dos seus fantasmas, uma liberação do inconsciente coletivo, do camponês brasileiro, do Terceiro Mundo, através dos seus fantasmas mais expressivos que carregam em si, inclusive, os seus traços, os seus caracteres mais agressivos do arcaísmo barbárico”.
Glauber sempre se interessou por esse fascismo popular. Ele queria expressar e entender essa violência para reverter a fraqueza em força. Passar da fome ao sonho. Transformar a repressão política em exercício de liberdade. Politizar a fé e celebrar o transe latino-americano como uma força singular e vital.
Poucos artistas contemporâneos sintetizaram todas essas questões de forma tão complexa e original quanto Glauber Rocha, um artista que deu um sentido afirmativo e transformador para os fenômenos ligados a pobreza, buscando reverter “forças autodestrutivas máximas” num impulso criador, mítico e onírico. O que vemos hoje na retórica e nas estéticas da violência é ao contrário, a pura afirmação do poder de destruição da violência: contra os corpos, contra os inimigos, contra os minorizados. A violência como um fim em si mesmo. Como forma de governo, como aposta na destruição e no caos.
IHU – Como essa estética da violência emerge no filme Bacurau (2019)?
Ivana Bentes – Bacurau é um extraordinário remix do imaginário hollywoodiano de filmes violentos com a tradição do Cinema Novo brasileiro: a estética da fome, a estética do sonho e a pedagogia da violência de Glauber Rocha com banhos de sangue prêt-à-porter vindos dos filmes de ação e reality shows.
O filme faz uma releitura das linguagens da violência e trata de questões urgentes: crise da água e do meio ambiente, empresas e políticos com ethos milicianos, forças paramilitares ou mercenários globais. Atravessada por essas forças, a cidadezinha de Bacurau é uma nova Canudos na beira da estrada ou uma cidade Mad Max sertaneja, pronta para explodir. Tudo filmado como uma espécie de reality show perverso e alucinatório, com jogos violentos e extremos e com personagens estranhamente familiares.
Diante de fantasias de poder ultraconservadoras, diante de figuras ultraviolentas como Witzels e Bolsonaros, que surgem produzindo a gestão da morte, vemos emergir no imaginário, no cinema, propostas que se apropriam da violência como ferramenta de empoderamento e de resistência. Uma saída possível do lugar de vítimas.
Bacurau traz de volta o imaginário das guerrilhas dos anos de 1970 sem fazer qualquer menção a elas, sem qualquer discurso político ou panfletário; simplesmente a narrativa empurra os personagens às armas. Os personagens de Bacurau trazem nos corpos, nos cabelos, na cor da pele um Brasil que emergiu e ganhou visibilidade. Homens e mulheres, negros e negras, trans, putas, os caboclos e povos originários. Magníficas as cenas de um devir índio dos personagens que andam e vivem nus nas suas casas de barro, falando com as plantas, vivendo em uma temporalidade estendida, donos de poderes mágicos e de uma cosmovisão.
Impossível não ver neste faroeste caboclo sideral os banhos de sangue, as Marielles assassinadas, a potência das mulheres, todo um novo cangaço das lutas de maiorias, minorias e transgêneros.
IHU – Mesmo desde um outro lugar, o filme Marighella (2019) bebe desta estética da violência? Que Brasil se revela através da violência apresentada nessa produção?
Ivana Bentes – Acho importante o cinema brasileiro retomar e ajudar a pensar momentos históricos como a guerrilha urbana que se organiza contra a ditadura militar e outras formas de lutas. É corajoso um ator do mainstream, de sucesso, como Wagner Moura, fazer desse filme um manifesto político contra o autoritarismo e a violência de Estado em qualquer época.
Em termos de imaginário, é impactante ver o “Capitão Nascimento”, de Tropa de Elite, personagem interpretado por Wagner Moura, de um filme que de certa forma tomava para si a narrativa do ponto de vista da polícia que prende e arrebenta, no Brasil de hoje, e dar uma virada de 180 graus como diretor e escolher como personagem da resistência às violências do Estado uma figura como Marighella.
Seu Jorge, no papel de Marighella, um herói negro, baiano, transforma um guerrilheiro em um personagem crível, amoroso, humano, cuja violência dos atos políticos da sua organização, a ALN, são uma resposta política, ativista, entre o desespero, o vital e o suicidário, diante da necessidade de fazer algo, em plena ditadura militar.
O filme de Wagner Moura captou tanto o sentimento de impotência no Brasil bolsonarista como o desejo de ação diante de uma situação intolerável. É uma peça corajosa dessa operação de reversão e neutralização da violência do Estado e dos regimes autoritários e isso por meio de uma linguagem massiva que chega nos streamings, na Netflix, nas redes.
IHU – O bolsonarismo é a materialização da linguagem da violência?
Ivana Bentes – Mais do que isso, é uma política da violência como programa que se vale das linguagens da violência associadas ao poder de morte que vai do Estado até a milícia, passando e chegando ao “cidadão de bem”. O que Bolsonaro oferece é a partilha da violência, o exercício da violência de todos contra todos, o exercício da violência salvaguardado pelo Estado brasileiro. É algo inimaginável, mesmo na ditadura militar, que buscava ocultar crimes de tortura, perseguições etc. Bolsonaro legitima essas práticas em praça pública.
O que Bolsonaro prometeu aos seus eleitores foi isso: a desrepressão brutal do ódio e a partilha da violência contra os “inimigos”. Armar o cidadão e dar um salve para que “faça o que tem que ser feito”, como diz em uma das suas lives no Facebook para seus seguidores.
IHU – Os ataques à Amazônia e todas as guerras e mortes geradas a partir disso são outra face da linguagem da violência do Brasil de hoje?
Ivana Bentes – Como enfatizei, se trata de uma política da violência que remonta a uma sociedade escravocrata e mesmo a um regime de soberania, no sentido foucaultiano, em que o soberano detém o direito sobre a vida e a morte dos seus “súditos”. E isso seja para assegurar a defesa incondicional de sua pessoa, do território etc. O que vemos nas favelas, nas periferias, na forma de tratar a população pobre ou os povos indígenas, ou grupos minorizados como as mulheres, os negros, a população LGBTQI+ é uma sobreposição de regimes de soberania, com violência do Estado, regimes disciplinares e de controle, forças milicianas, elementos do “capitalismo gore”, de uma violência espetacularizada (corpos assassinados, baleados, esquartejados, estuprados) conduzindo ao aniquilamento.
A pesquisadora mexicana Sayak Valencia define o “capitalismo gore” como a expressão de uma violência extrema globalizada e predatória. É uma violência rentável que assujeita os corpos como forma de enriquecimento de organizações criminais, sejam corporações, milícias ou o narcotráfico. A autora aponta o aspecto gore [violento, sangrento] desse capitalismo se referindo a fenômenos ultraviolentos e a origem do termo nos filmes de terror em que corpos são dilacerados, explodidos, produzindo um imaginário gore que não difere da forma como o sistema político e econômico trata sujeitos e corpos a partir de práticas necropolíticas.

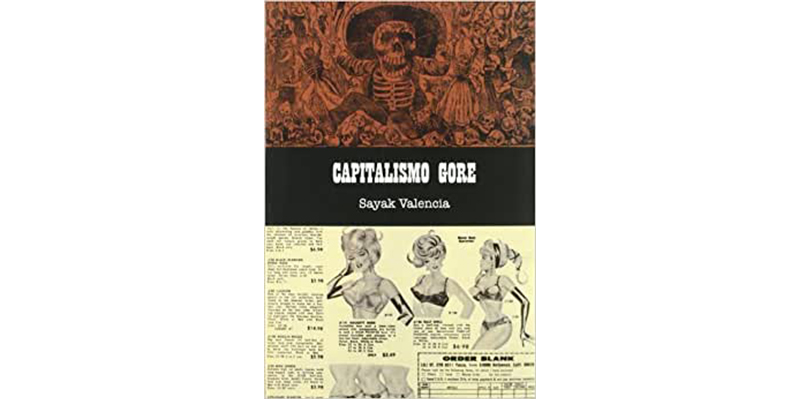
Edição original em espanhol de Capitalismo Gore, de Sayak Valencia (Melusina, 2020)
Imagem: divulgação
Os corpos vulneráveis são as mercadorias que podem ser destruídas, as tripas e sangue de uma grotesca violência social. A violência como necroemponderamento no "capitalismo gore" legitima o assujeitamento do outro e ações predatórias e naturaliza a ideia de se infligir dor e violência para produzir capital, real ou simbólico.
O conceito do gore nos interessa para pensar a violência no Brasil de hoje como tecnologia de controle e por seu aspecto de grotesco risível utilizado na retórica e na memética bolsonarista como um instrumento político. O "capitalismo gore" podendo ser entendido como uma luta intercontinental de um pós-colonialismo extremo e recolonizado através dos desejos de consumo, autoafirmação individual e empoderamento.
No contexto político brasileiro, as práticas gore podem ser inventariadas nos atos de fala constituintes da retórica conservadora e de extrema-direita, na gestualidade e memética bolsonarista. E, ainda, como parte constituinte de um regime de imagens violentas.
IHU – Que projeto de nação deriva das políticas da violência?
Ivana Bentes – Não existe projeto de país a partir das políticas da violência e desse imaginário regressivo. Tudo que entendemos como pacto social, estado de direito, democracia e direitos humanos explode diante dessa regressão coletiva e vingativa.
A questão é que os conservadores e a extrema-direita sequestraram e hackearam as linguagens e procedimentos dos movimentos sociais, da cultura, da contracultura, a linguagem pop, a cultura digital, a memética etc. A brutalidade, o intolerável, o impensável, o ideário ultraconservador se tornou um horizonte político transgressivo e desejável. Eis a operação, a “revolução” estética e política do bolsonarismo.
Os discursos hiperpolarizados, simplistas, extremistas, mais do que reproduzirem ideias prontas da velha direita, criam uma narrativa possível para milhares de jovens que cresceram ouvindo que ou o Brasil acabava com o PT e a esquerda, ou a esquerda acabava com o Brasil. E onde todas as conquistas e avanços sociais e comportamentais foram taxados e criminalizados como forma de degeneração e afronta aos valores da família e dos cristãos.
A “direita ostentação” no Brasil ganhou cara e visibilidade em muitas frentes, com a chegada dos pastores-deputados evangélicos e sua cruzada divina e racista contra os direitos das minorias e contra outras religiões, demonizando literalmente os gays, negros e as religiões de matriz africana. Essa direita pastoral se associou rapidamente com a direita militar, policialesca e bélica, que defende a volta da ditadura, a tortura, a população armada e nega direitos para grupos indígenas, negros e migrantes. E ainda defende desprezo a grupos sociais inteiros, o que é vocalizado diariamente pelo presidente da República, em um ciclo de violações em cascata.
Essa “direita comportamental” tem travado uma guerra incessante contra todos os avanços e direitos das minorias, direitos de gêneros, de grupos, sejam os direitos das mulheres, dos gays, dos negros, da população carcerária, dos jovens negros nas periferias. E isso contra a liberdade de expressão religiosa, induzindo a discursos de ódio, ataque e destruição de terreiros de candomblés ou destruição da iconografia católica. É uma direita que quer reformar o mundo violentando desejos, sexualidades, crenças e liberdades.
IHU – Que análise a senhora faz do cenário político-eleitoral do país hoje?
Ivana Bentes – O cenário em que nos encontramos é de uma extrema tensão social e política. A direita tem utilizado as redes sociais de forma memética, com ondas de comoção na disputa de um mundo com menos Estado e mais mercado, que pode se aliar a regimes teocráticos, milícias, justiceiros em uma “guerra santa” e ideológica. Qual o antídoto a esse delírio de poder e onipotência?
Ao mesmo tempo, a situação material, de saúde, de bem viver, de saúde mental dos brasileiros, com aumento da fome, do desemprego, da pobreza, são um contraponto radical e material a esse delírio conservador. Bolsonaro é um fracasso no campo econômico, foi um fracasso na pandemia, não combateu a corrupção dentro da máquina do Estado etc. A realidade cobra seu preço!
Por outro lado, nós tivemos um projeto de democracia possível, de avanços no campo social e econômico no período dos governos progressistas dos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Um processo e projeto interrompidos e abortados de forma violenta também, com o impeachment de Dilma e a prisão de Lula.
O país passou, nas últimas décadas, por transformações enormes e que “desinventaram o Brasil”, desinventaram aquilo que achávamos que o Brasil era: um país multicultural que tinha “resolvido” pela mestiçagem as questões do racismo, um país pacífico e sem “guerras”, embalado por uma cordialidade desproblematizada e cuja construção patriarcal e escravocrata tinha se diluído em um imaginário apaziguador. Estamos em um desses momentos cruciais de confronto entre imaginários em torno do Brasil, disputa entre grupos sociais pela representação e expressão do país, o que achamos que somos ou deveríamos ser, não em um futuro longínquo, mas nos futuros imediatos, no presente urgente.
IHU – Quais as principais mudanças no cenário político contemporâneo que podemos mensurar?
Ivana Bentes – O horizonte do que era o tolerável em termos de valores mudou. Seja o racismo, o machismo, os ataques aos povos indígenas, mas também vimos o campo conservador se articular de forma violenta para neutralizar as questões de gênero, os movimentos trans e as novas formas de tratar a sexualidade em praça pública. A extrema-direita é uma reação aos avanços sociais e políticos, é uma histeria diante desse horizonte que emergiu.
Nesta eleição temos a oportunidade de retomar o projeto abortado de uma modernidade brasileira, retomar o ciclo das esquerdas na América Latina, as inovações sociais e políticas, os movimentos sociais e culturais de novo tipo.
Estamos em uma encruzilhada entre pelo menos dois cenários. O primeiro é o da democracia em agonia, no qual a democracia e o Estado são sequestrados e apropriados por ações predatórias de governo, empresas, milícias, em sintonia em uma necropolítica que prospera à sombra do Estado e produz enorme frustração social. E um segundo cenário, da democracia em transformação e mobilização, com uma articulação inédita e uma aliança ampla em defesa do fortalecimento do estado de direito e da inovação institucional e social.
É um cenário que se assemelha a um pós-guerra, pós-bolsonarista, de reconstrução de tudo que foi demolido, extinto, descontinuado, abortado. Um cenário em que se volta a propor políticas públicas para grupos e territórios vulneráveis, que pensa inovações como a renda básica universal, o fortalecimento das polícias de saúde, de educação, de cultura, reduzidas e asfixiadas.
Essa mobilização vem com força inédita em defesa da democracia em agonia e diante de catástrofes civilizacionais, como as mudanças climáticas.
IHU – Como a esquerda nacional tem respondido a essas questões?
Ivana Bentes – O mais importante nesse momento é criar um movimento mainstream e massivo de neutralização das políticas da violência, falar para todos, a partir do que chamo de ativismo mainstream. É um ativismo que vai de Anitta ao padre Júlio Lancellotti, de Pabllo Vittar até os evangélicos progressistas, passando pelas favelas e periferias, movimentos antirracistas, feministas, minorizados, parlamentares, militares que respeitam o estado de direito, liberais, empresários, representantes de todos os poderes que possam assegurar que esse ponto de inflexão a que chegamos não exploda produzindo uma catástrofe social e política. Não tem fórmula mágica, tem um processo tenso e brutal que temos que enfrentar até as eleições de 2022 e no pós-eleição.
IHU – Como manter a coesão social neste cenário?
Ivana Bentes – A crise é a coisa mais bem repartida entre as esquerdas e os conservadores. Mas se dermos um passo na direção da afirmação e aprofundamento da democracia nessas eleições não estaremos mais nesse lodaçal. O Brasil se confrontou com sua cara mais cruel e terrível nesses quatro anos, há uma exaustão diante das políticas de violência.
Bolsonaro explodiu a cabeça e o inconsciente fascista de uma parte do povo brasileiro. Está aí a céu aberto o horror, o microfascismo e o fascismo de Estado que se expressam e estrebucham em praça pública. O pós-eleição será um pós-guerra, uma reconstrução e uma terapia coletiva. Falta pouco e falta muito!