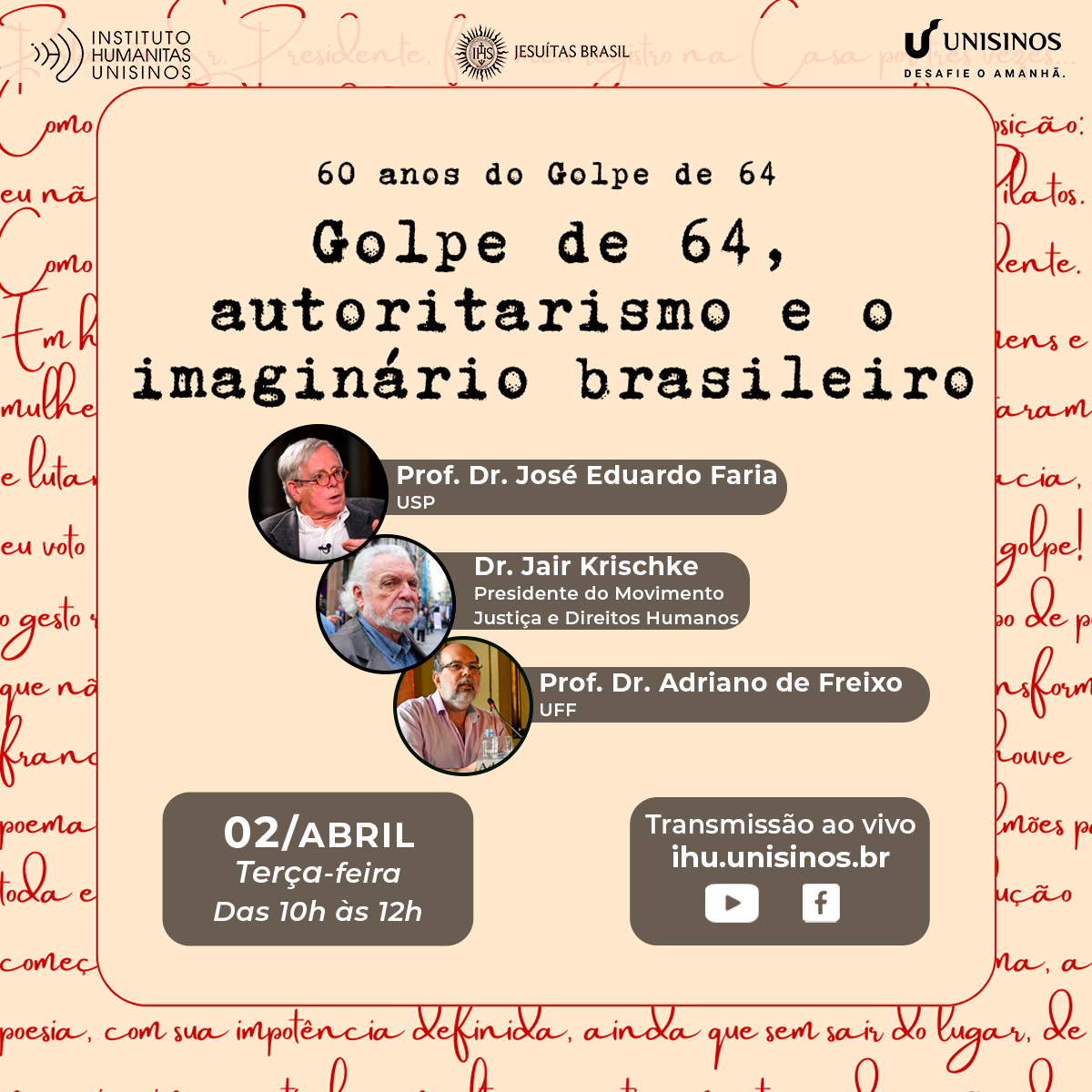"Penso que uma das formas de inibir recrudescências autoritárias, de atentados à democracia e de afronta ao estado de direito é o antídoto da memória e da verdade, da responsabilização, da reparação e da justiça. Por isso, confesso, ainda não divisei o acerto no erro do Presidente em conter manifestações oficiais por meio de atos ou declarações contra o Golpe de 1964, por “não querer ficar remoendo”, realidades mesmo cruentas, das quais ele também foi vítima, no passado e até muito recentemente", escreve José Geraldo de Sousa Junior, em artigo publicado por Jornal Brasil Popular/DF, 28-03-2024.
José Geraldo de Sousa Junior é professor titular na Faculdade de Direito e ex-reitor da Universidade de Brasília (UnB), graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal – AEUDF, mestre e doutor em Direito pela Universidade de Brasília – UnB. É também jurista, pesquisador de temas relacionados aos direitos humanos e à cidadania, sendo reconhecido como um dos autores do projeto Direito Achado na Rua, grupo de pesquisa com mais de 45 pesquisadores envolvidos.
Há poucos dias, numa entrevista em programa num prestigiado Blog, uma declaração minha ganhou grande repercussão: “Lula acerta até quando erra, diz José Geraldo de Sousa Junior”.
Essa é uma convicção que fui fortalecendo acompanhando a trajetória do mais notável político da história brasileira, em toda a sua duração. Basta ver a conquista de uma terceira presidência mesmo depois de obstáculos de toda ordem, incluindo uma prisão hoje claramente reconhecida como uma manobra para retirá-lo da posição de enfrentamento à conjuração necropolítica e antipovo que tomou de assalto o País e orçamento público. Até o Papa Francisco se manifestou para constatar essa trama, que ele tributa a ação crescente, centrípeta e voraz da direita e da extrema-direita, no mundo e, nominalmente no Brasil.
Penso que uma das formas de inibir recrudescências autoritárias, de atentados à democracia e de afronta ao estado de direito é o antídoto da memória e da verdade, da responsabilização, da reparação e da justiça. Por isso, confesso, ainda não divisei o acerto no erro do Presidente em conter manifestações oficiais por meio de atos ou declarações contra o Golpe de 1964, por “não querer ficar remoendo”, realidades mesmo cruentas, das quais ele também foi vítima, no passado e até muito recentemente.
Suponho que seja uma atitude que lhe é própria de conduzir diálogos, ao limite, para promover o curso da história e ativar a mediação política para o salto que transforma a realidade. Uma mediação política de um agente político altamente investido, requer certos protocolos. O Presidente é instituição, não é movimento. Não creio que ele se ponha contra a memória, a verdade e a justiça, mas que tenha a compreensão de que o impulso vital para operar avanços legítimos na justiça de transição, deve vir do social, mobilizado e organizado que é a expressão do avanço do aprendizado pedagógico para que o nunca mais aconteça. Por isso a reação de seu próprio partido: “PT diz que vai apoiar atos contra o golpe de 1964 mesmo após Lula dizer que ‘não quer ficar remoendo’”.
Nem quero atribuir a acerto algum tipo de mediação gatopardista que aceite o expurgo da excrecência armada que se projetou para um novo golpe (8 de janeiro), que não começou em 2023 nem terminou ainda em 2024, às vésperas dos 60 anos da intentona que o antecedeu, mas que salvaguarde uma pretensa instituição – “as forças armadas” -, nunca devidamente enquadrada nas moldura constitucional da história política brasileira.
O fato é que não recuperamos a nossa subjetividade política de autores de nossa própria história, sem que as lições da justiça de transição promovam o nosso aprendizado democrático.
Os quatro pilares da Justiça de Transição são direito à memória e à verdade; reparação; responsabilização penal; e reforma das instituições democráticas e de segurança. À luz desses elementos, o que não se pode perder de vista é que a Justiça Transicional admite, sim, reconciliação, mas implica necessariamente não só processar os perpetradores dos crimes, revelar a verdade sobre os delitos, conceder reparações, materiais e simbólicas às vítimas, mas também reformar e ressignificar as instituições responsáveis pelos abusos e educar para a democracia, a cidadania, os direitos humanos e para a não repetição desses atentados.
Cuidei desses fundamentos ao co-organizar o livro O direito achado na rua: introdução crítica à Justiça de Transição na América Latina, que pode ser conferido aqui. E não posso deixar de considerá-los em face da grande mobilização, tanto de ativistas quanto de personalidades, no transcurso dos dramáticos acontecimentos que atentaram contra a Constituição, as instituições e a democracia brasileiras.
Numa virulência — que me permite resgatar o que anotei em artigo para o livro Democracia: da crise à ruptura. Jogos de armar: reflexões para a ação —, sugerindo o passo em que o Estado de Direito Democrático se converte em Estado Democrático de Direita. Um passo descrito no golpe de Luiz Bonaparte (ironicamente chamado por Marx de o 18 Brumário de Luiz Bonaparte), escancarando situações em que a própria legalidade se torna um estorvo e põe em prática políticas reacionárias e antidemocráticas.
Estou seguro de que tudo que se vivencia no país desde o 8 de janeiro de 2023 deve ser avaliado sob o enfoque da Justiça Transicional. E isso significa estar atento às reiteradas manifestações da Comissão e da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre estabelecer que as disposições de anistia ampla, absoluta e incondicional consagram a impunidade em casos de graves violações dos direitos humanos, pois impossibilitam uma investigação efetiva das violações, a persecução penal e sanção dos responsáveis. A Comissão afirmou que esses crimes têm uma série de características diferenciadas do resto dos crimes, em virtude dos fins e objetivos que perseguem, dentre eles, o conceito da humanidade como vítima, e sua função de garantia de não repetição de atentados contra a democracia e de atrocidades inesquecíveis.
Especificamente sobre o monitoramento que exercita em relação ao Brasil, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), em seu último relatório (2021), ofereceu recomendações sobre ações que tendem a fragilizar e até extinguir esse sistema, como o enfraquecimento dos espaços de participação democrática, indicando, entre as recomendações, a necessidade de “investigar, processar e, se determinada a responsabilidade penal, sancionar os autores de graves violações aos direitos humanos, abstendo-se de recorrer a figuras como a anistia, o indulto, a prescrição ou outras excludentes inaplicáveis a crimes contra a humanidade”.
Por isso lembramos eu e Nair Heloisa Bicalho de Sousa, em nosso texto de apresentação ao volume 7, da Série O Direito Achado na Rua (Justiça de transição: direito à memória e à verdade), que é necessário “um esforço para vencer a tendência a deixar no esquecimento os fatos reveladores das práticas políticas do regime autoritário. Vê-se, assim, com Pollack (1989), que memória e esquecimento são eixos fundamentais da esfera do poder, disputando o modo como a memória coletiva constrói-se em cada sociedade”. Em outro texto (Direito à memória e à verdade, Observatório da Constituição e da Democracia. Brasília: Faculdade de Direito da UnB, n. 17, outubro e novembro de 2007), avançamos esse ponto para reafirmar que há “uma memória coletiva em processo de construção necessitando que as diferentes gerações tenham conhecimento da verdade.
Teria sido possível apelar para a verdade, conforme a diretriz do pensamento da grande filósofa Hannah Arendt, e assim recuperar um “hiato de credibilidade” para resgatar a verdade como dimensão da política, em condições de estabelecer base para a confiança desejada entre governo e cidadãos. Atende-se à questão posta por Walter Benjamin, para designar o processo da memória histórica que segundo ele, implica articular historicamente o passado sem que isso signifique conhecê-lo “como ele de fato foi”, mas antes, apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela relampeja no momento de um perigo?
Benjamin não explica como a história humana pode dar o que o homem não tem. O objeto da memória não é um passado morto, mas uma linha tênue cujo desenrolar pode provocar novos emaranhados. O que não se tem hoje ao seu alcance de nosso discernimento ativo a história animada por esse passado pode ter”.
A imagem elaborada por Benjamin, serviu a sua interpretação da realidade de um tempo de paroxismo totalitário, ao qual ele próprio sucumbiu, e que marcou o mundo por uma referência de brutal irracionalidade, e assim, “reconstruir memórias que permitam ressignificar as experiências de outros sujeitos do passado e, com eles, estabelecer um diálogo no tempo presente”.
O acerto contido no erro do Presidente pode ser o de acicatar a nossa consciência de sociedade civil para ativar a ação política que nos convoque a pensar e agir ao aprendizado de que se tivesse sido feita a justiça para os fautores de 1964, 2023/2024 não teriam acontecido. Reivindicar a verdade e resgatar a memória, como referências éticas contribui para estancar a mentira na política. Referi-me à grande pensadora Hanna Arendt exatamente para reter, sobre esse tema (cf. meu Memória e Verdade como Direitos Humanos in SOUSA JUNIOR, José Geraldo de. Ideias para a Cidadania e para a Justiça. Porto Alegre: Sergio Fabris Editor, 2008, p. 99-100) a sua advertência de que “uma das lições que podem ser apreendidas das experiências totalitárias é a assustadora confiança de seus dirigentes no poder da mentira e na capacidade de reescreverem a história para a adaptar a uma linha política”
Dito poeticamente, eu quero terminar com Milan Kundera, para o homenagear, há poucos meses de seu falecimento (11/07/23): “Para liquidar os povos, começa-se por lhes tirar a memória. Destroem-se seus livros, sua cultura, sua história. E uma outra pessoa lhes escreve outros livros, lhes dá outra cultura e lhes inventa uma outra história” (O Livro do Riso e do Esquecimento, 1978).