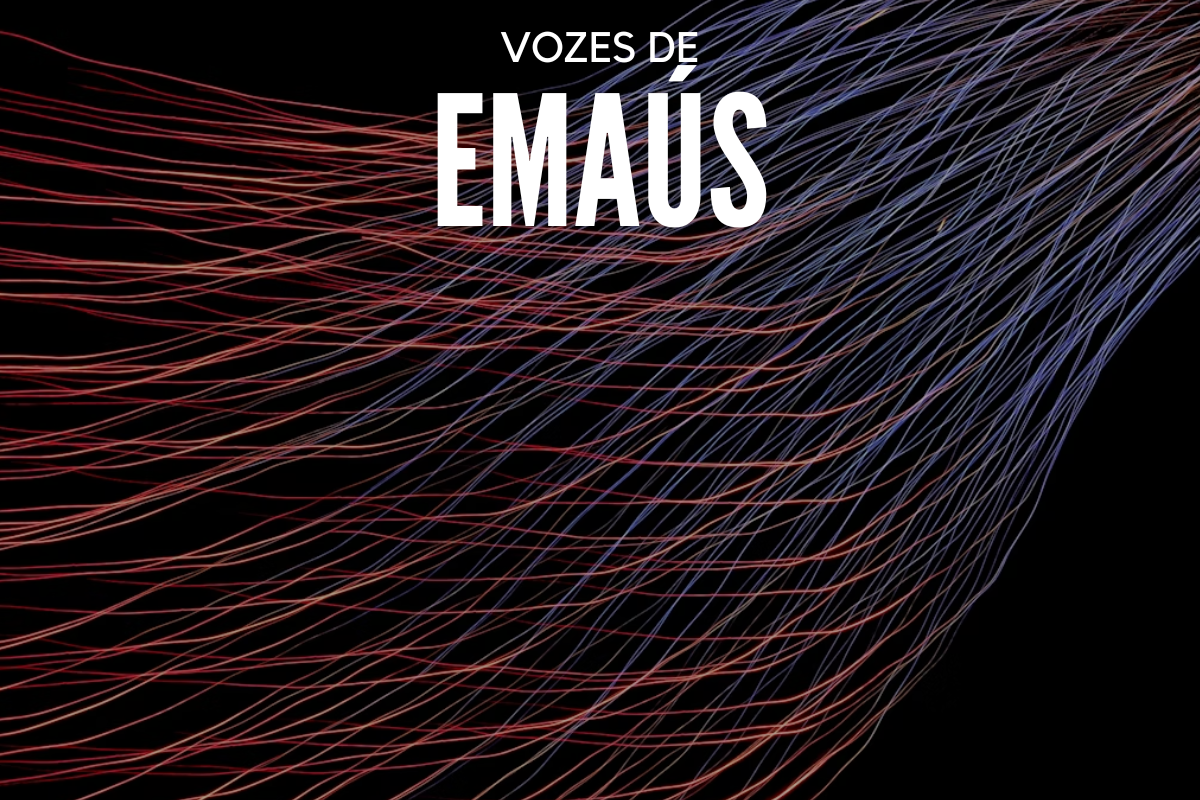12 Janeiro 2026
O três de janeiro de 2026 será considerado um dia histórico, porque essa foi a dimensão do discurso do presidente dos Estados Unidos. Um discurso que se projetará para o futuro com consequências que, por ora, são imprevisíveis.
O artigo é de E. Raúl Zaffaroni, jurista latino-americano, publicado por La Tecl@ Eñe, 08-01-2025.
Eis o artigo.
O três de janeiro do recém-iniciado 2026 será considerado um dia histórico, porque essa foi a dimensão do discurso do presidente dos Estados Unidos. Um discurso não é histórico por ser louvável ou repugnante, por ser bom ou mau. A história não é uma sucessão de fatos passados; não nos interessa se Colombo havia comido talharim em 11 de outubro de 1492. O que é histórico é aquilo que, a partir do passado, projeta-se nos acontecimentos do presente e, certamente, esse discurso se projetará em futuros presentes com consequências que, por ora, são imprevisíveis.
No século passado houve múltiplas interferências norte-americanas — por assim chamá-las — sobre a nossa América; seria inútil recordá-las, mas nenhum presidente dos Estados Unidos confessou abertamente seu objetivo nem afirmou que não toleraria nenhum governo nosso que obstaculizasse ou incomodasse seus propósitos.
A operação de sequestro de Nicolás Maduro era explicada ao público pelo narcotráfico e por sua suposta ditadura, isto é, ao velho estilo de inventar pretextos, quando, de repente, sem aviso prévio e sem nenhuma necessidade, Donald Trump confessa que seu objetivo real é o petróleo e, ao que parece, decide sancionar todo Estado da região que o incomode, algo semelhante ao que fizeram, há setenta anos, os soviéticos na Hungria e, por conseguinte, cabe perguntar se acaso não está anunciando uma nova Cortina de Ferro. Com a mais absoluta sinceridade, Trump exige publicamente a subordinação de toda a região e se ergue como seu tutor e nomeador de interventores.
A interferência norte-americana em si mesma não é uma novidade, nem de longe, porque a verificamos com a promoção do lawfare criminalizador de nossos líderes (Castillo, Lula, Cristina Kirchner, Evo, Glas, Correa, Milagro, Amado Boudou etc.), com o pretexto da corrupção ou de qualquer outro, mediante as fezes (chamadas fake news) dos meios de comunicação concentrados e os vômitos (chamados sentenças) de alguns carrascos travestidos de juízes. Tampouco é novidade sua intervenção mais recente nas eleições de nossos países, com apoios abertos aos candidatos de sua preferência e a desqualificação e estigmatização de outros. Nem sequer o são as intervenções bélicas de todos os tempos (desembarques em Veracruz, invasão da Guatemala, do Panamá etc.), mas sempre houve pretextos, e é isso que confere ao seu discurso uma dimensão histórica, pois se trata da grande confissão: tenho o poder e faço o que quero, não me importam os organismos internacionais, vou me livrar de todo aquele que pretenda me incomodar, de bom ou de mau modo, e que cuide do próprio traseiro quem me perturbar.
Não se trata agora de alimentar surtos antiamericanos, nem muito menos, mas de destacar que o que começou em 3 de janeiro é algo novo, um antes e um depois que não pode passar despercebido, porque é histórico em razão de seus imprevisíveis efeitos futuros. Se o que se pretende é erguer uma nova Cortina de Ferro e converter todos os países latino-americanos em satélites, isso é novo. Se não o fosse, não se explica o brutal sinceramento de Trump, a não ser que obedecesse a um gravíssimo erro político ou a alguma falha pessoal, mas essas são hipóteses que, ao menos por enquanto, carecem de fundamento.
Além do que foi apontado, cabe observar que uma potência que pretende satelizar uma região sempre foi totalitária (os nazistas com seus territórios ocupados, o estalinismo com a Europa Oriental) e, certamente, ao que parece, algo grave está acontecendo com a própria institucionalidade dos Estados Unidos, pois seu presidente ignorou o Congresso. Não se trata de Roosevelt solicitando autorização ao Congresso, no dia seguinte a Pearl Harbor, para declarar guerra ao Eixo, mas precisamente de sua imagem contrastante. Por outro lado, no livrinho anarco-austríaco de Walter Block, que Milei distribuiu a seus ministros, vários ex-presidentes norte-americanos são estigmatizados como socialistas. Nada de bom está sendo anunciado pelo discurso histórico de Trump, nem para a nossa América nem para os Estados Unidos.
Quando alguém deixa de lado todos os pretextos e diz claramente “tenho o poder e farei o que quiser na medida do meu poder”, violando a norma mais elementar do direito internacional, abre a porta para qualquer outra violação, não apenas por sua parte, mas também por parte de terceiros: por que outra potência haveria de respeitar o limite jurídico, se a outra me mostra que não o respeita? Na experiência comum, quando se rompem acordos (e o direito internacional é feito de acordos), quando alguém ignora as regras do jogo, os outros se consideram autorizados a fazer também o que quiserem: se o outro descumpriu o acordo, por que eu deveria respeitá-lo? Isso, que se aplica à associação de moradores ou ao clube esportivo do bairro, vale igualmente para o direito internacional.
A conclusão que à primeira vista parece mais lógica — e também a mais deprimente — seria que o direito internacional morreu. Mas será verdade que o direito internacional está morto? Tudo depende do que se entende por direito, isto é, isso seria verdade se o concebêssemos como algo bucólico, como uma normativa sempre respeitada, quase intangível e estabelecida de uma vez por todas.
Mas há outra forma de conceber o direito que, de algum modo, foi expressa com clareza por Rudolf von Jhering, jurista alemão do século XIX, para quem o direito é luta, porque é sempre algo dinâmico, não algo concedido, mas conquistado pela luta. Também do século XIX foi outro jurista, menos conhecido por ser nosso, brasileiro e do Nordeste, Tobias Barreto, líder da chamada Escola do Recife, que percebeu claramente que a guerra — assim como o poder de punir — não são fenômenos jurídicos, mas políticos puros, pois o poder bélico e o punitivo são exercidos por quem tem poder para fazê-lo e na medida desse poder: quem quer punir, pune (como no lawfare), e quem tem armas faz a guerra (como Trump).
E o direito? Combinemos as duas perspectivas e veremos que o jurídico, o próprio do direito, não é o poder punitivo nem o bélico, mas sua contenção, seu limite, que se obtém por meio da luta, na qual, dada sua natureza, há momentos de avanço e outros de estagnação ou retrocesso. Enquanto houver luta, enquanto houver vozes que se levantem e povos que resistam, o direito estará vivo e, felizmente, a vontade de lutar nunca se esgota, embora nos mordam a impaciência ou os custos humanos dos tempos de não-direito.
Seremos muitos a erguer nossas vozes, como outrora fizeram aqueles que sofreram as pulsões do não-direito em tempos não tão distantes, e voltaremos a avançar pelo caminho do direito, que, em última instância, se não é o da razão, ao menos é o mais racional, porque a força, por mais potente que se mostre, é sempre passageira e, em alguma medida, frágil. Mais ainda: pode-se dizer que os momentos de mera força, de não-direito, têm algo de patológico, mórbido, doentio.
Ainda que seja mera coincidência, não deixa de chamar a atenção que, no domingo, 4 de janeiro, quando o Papa Leão XIV pediu que se garantisse a soberania da Venezuela, tenha invocado José Gregório Hernández, o santo popular venezuelano, canonizado por Francisco, que era médico e curava à noite. Alguma noite dessas ele pode nos ajudar com alguma intervenção psiquiátrica.
Leia mais
- Venezuela: "Somos despojos de guerra e um aviso para o mundo". Entrevista com Alejandra Díaz
- “Trump não é um lunático, ele tem uma estratégia neofascista”. Entrevista com Iván Cepeda, candidato à presidência da Colômbia
- No capitalismo mafioso Nicolás Maduro veste Nike. Artigo de Ivana Bentes
- A Venezuela é apenas o começo da nova ordem mundial de Trump. Artigo de Owen Jones
- As grandes petrolíferas dos EUA, diante de um negócio bilionário na Venezuela patrocinado por Trump
- Não se trata apenas de petróleo: desdolarização e China, após o golpe de Trump na Venezuela. Artigo de Yago Álvarez Barba
- O inimigo do meu inimigo? Artigo de Jorge Alemán
- Após o sequestro de Maduro, Trump toma medidas para confiscar o petróleo venezuelano
- E se a Venezuela for apenas o começo? Artigo de Francisco Peregil
- O "golpe" de Trump na Venezuela. Artigo de José Luis Ferrando
- A Celac não chega a um consenso sobre a Venezuela
- Forças Especiais dos EUA desempoeiram o drone "Besta de Kandahar" em incursão na Venezuela
- Uma transição estranha na Venezuela. Artigo de Sergio Ramírez
- As grandes petrolíferas dos EUA, diante de um negócio bilionário na Venezuela patrocinado por Trump