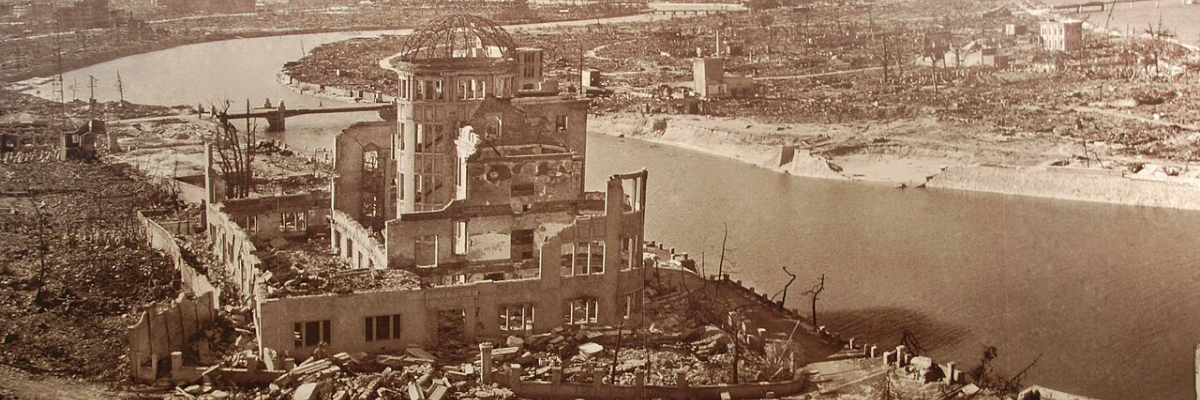25 Abril 2025
Nem todo mundo se alegrou com a ascensão do Papa Bergoglio ao trono papal: as sombras que pairavam sobre sua figura em relação às posições que ele assumiu durante a ditadura na Argentina justificavam a desconfiança de muitos expoentes da Teologia da Libertação, aquela reflexão especificamente latino-americana conduzida a partir de baixo, a partir dos últimos, do lado oposto da história. Tanto mais que o arcebispo de Buenos Aires certamente não era conhecido por sua proximidade com essa corrente teológica, cujos desvios ideológicos, como o recurso à luta de classes e a análise marxiana da história, ele destacava ao lado de alguns méritos.
A reportagem é de Claudia Fanti, publicada por Il Manifesto, 22-04-2025. A tradução é de Luisa Rabolini.
Francisco, no entanto, teria precisado de pouco para conquistar a confiança desses teólogos, que, em seu desejo de “uma Igreja pobre e para os pobres”, haviam encontrado imediatamente não tanto uma forma de adesão à Teologia da Libertação quanto uma tradução concreta muito mais importante de suas opções de base.
Sobre qual fosse, afinal, a sua visão, o novo papa logo dissipou qualquer dúvida: não aquela, proposta por João Paulo II e Bento XVI, de uma Igreja como uma fortaleza sitiada pelos inimigos, mas a de uma Igreja como uma casa aberta, hospital de campanha, empenhada em acolher a todos.
Um profundo valor simbólico teria assumido a canonização, fortemente desejada por ele, daquele que sempre foi considerado o símbolo mais imediato, mais elevado e mais pleno da Teologia da Libertação, o arcebispo mártir Dom Óscar Romero, cuja dimensão conflituosa, refratária a qualquer falsa reconciliação entre algozes e vítimas, Francisco evocava decisivamente, diante de uma acentuada tendência para domesticar sua figura. Mas, acima de tudo, com Francisco também chegaria ao fim o cerco mantido implacavelmente contra os teólogos da libertação sob os pontificados de João Paulo II e Bento XVI. Só para mencionar algumas medidas, a reintegração de Miguel d'Escoto, suspenso a divinis em 1984 por seu papel no governo sandinista, bem como a revogação de todas as sanções canônicas que pesavam contra Ernesto Cardenal pelo mesmo motivo. Também o convite do papa a Leonardo Boff, um dos padres fundadores da Teologia da Libertação e um dos mais severamente perseguidos pelo Vaticano, para colaborar na redação da histórica encíclica Laudato si', chegando a citar no texto, embora sem referências em notas de rodapé, o título de um de seus livros mais conhecidos, “Grito da terra, grito dos pobres”: uma espécie de reabilitação do teólogo dentro da Igreja Católica. Assim, aquela teologia vivida como um “segundo ato” em relação ao “primeiro ato” da práxis ao lado dos pobres - repetidamente dada como morta, ou pelo menos moribunda, após a longa perseguição sofrida nas décadas anteriores - pôde finalmente sair das catacumbas. E para aqueles que haviam sido colocados sob vigilância, advertidos, marginalizados em suas comunidades, destituídos de seu direito de exercer o ministério da palavra, removidos de suas cátedras ou submetidos a processos doutrinários, o advento do Papa Francisco foi vivenciado como uma espécie de volta para casa. Não é coincidência que, além das limitações que também emergiram durante seu pontificado, a começar pela contradição não resolvida entre o papel de pastor chamado para a denúncia profética e o de chefe de Estado aprisionado na camisa de força da diplomacia oficial, aqueles teólogos nunca deixaram que lhe faltasse seu apoio.
De fato, eles teriam reconhecido a ênfase posta por Francisco sobre os temas da pobreza, da injustiça social, da defesa da Mãe Terra - por meio da Laudato si' em particular, considerada a mais alta expressão do interesse da Igreja pelas condições da “casa comum” -, da iniquidade e da insustentabilidade do sistema atual, da idolatria do dinheiro, da necessidade de mudanças estruturais, da substituição da lógica do descarte pela lógica da inclusão, até os últimos apelos à paz. Mas também por suas críticas a uma Igreja autorreferencial e por sua opção pelos excluídos e suas organizações: aqueles movimentos populares com os quais ele dialogaria várias vezes em torno dos três grandes temas da Terra, da moradia e do trabalho.
Tampouco teriam passado despercebidos seus gestos, em evidente contratendência em relação a pontificados anteriores, como aquele com o qual o papa havia acolhido, durante sua visita à Bolívia em 2015, o singular presente do então presidente Evo Morales, uma réplica do crucifixo de madeira em forma de martelo e foice desenhado pelo jesuíta mártir Luís Espinal, reconduzindo-o ao “entusiasmo” pela análise marxiana da realidade e à luta de “boa fé” daquele “homem especial”: “Esse objeto”, disse ele, “vem comigo”.
Leia mais
- Papa Francisco e a Teologia da Libertação
- Perseguição à Teologia da Libertação baseou-se em duas fraudes, indicam pesquisas
- O novo gesto de Francisco a favor da Teologia da LibertaçãoA teologia da libertação e o papa Francisco
- Papa enaltece padre pioneiro da Teologia da Libertação argentina
- Cardeais preocupados com Teologia da Libertação no conclave de 2013, diz papa
- O futuro da Teologia da Libertação
- Fundador da Teologia da Libertação desfruta de uma reabilitação tardia sob o Papa Francisco
- Teologia da libertação: a Igreja resiste a Francisco
- 45 anos do martírio de Óscar Romero e uma Igreja em libertação. Artigo de Gabriel Vilardi
- O Papa: “Por uma Igreja pobre com e para os pobres”
- Papa Francisco reabilita Ernesto Cardenal, padre e poeta nicaragüense
- O papa decidiu: crucifixo de foice e martelo vai ficar em Roma
- Nicarágua. Reconciliação e morte de um padre-ministro. Miguel d'Escoto inaugurou a era dos sacerdotes no governo sandinista
- O caminho estreito de Francisco: uma teologia da libertação sem marxismo. Entrevista com Massimo Borghesi