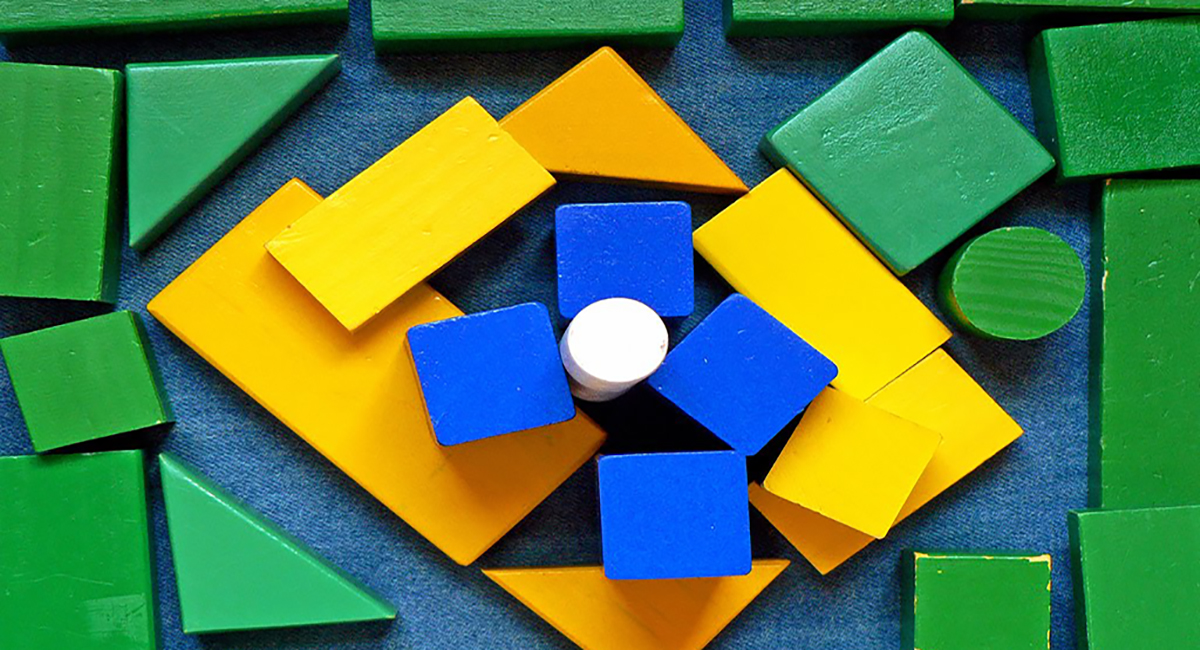16 Março 2019
Foram treze disparos efetuados a partir do Chevrolet Cobalt, em uma execução que reacenderia o debate sobre assassinatos por motivações políticas no Brasil. Era o dia 14 de março de 2018 e Marielle Franco, vereadora do PSOL, recebeu três tiros na cabeça e um no pescoço — Anderson, o motorista, levou três nas costas – em um crime que chocou o Brasil.
As investigações sobre o caso foram tumultuadas e, após pressão popular que cobrava resultados mais efetivos, a Polícia Federal entrou no jogo para apurar se organizações criminosas estavam obstruindo as apurações sobre o assassinato da vereadora.
A entrevista é de Rôney Rodrigues, publicada por Outras Palavras, 14-03-2019.
Após quase um ano da vital indagação “quem matou — e quem mandou matar — Marielle”, algumas tímidas respostas começam a aparecer. Na madrugada do dia 12, a Delegacia de Homicídios (DH) do Rio e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ) prenderam o sargento reformado da Polícia Militar Ronnie Lessa e o ex-PM Elcio Vieira de Queiroz, suspeitos de realizar a execução e com ligações com as milicias cariocas.
Não é apenas Marielle. Os assassinatos políticos estão crescendo no Brasil — e a vítima principal são ativistas pelos direitos humanos. Embora não haja estatísticas consolidadas a respeito, alguns números são alarmantes. No ano passado, por exemplo, a Comissão Pastoral da Terra (CPT) revelou que o número de assassinatos de lutadores pela reforma agrária chegou a 70 em 2017 — mais do dobro dos 34 casos ocorridos em 2014. Já a organização britânica Global Whitness calculou que o Brasil foi, tanto em 2016 quanto em 2017, o país com maior número de execuções de ativistas ambientais. A violência atinge quem busca reportá-la. Segundo a Anistia Internacional, pereceram, em 2016, 48 jornalistas que atuavam em áreas de conflito ou dominadas pelo crime organizado. Uma pesquisa recente da Unirio, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, revela que também há violência eleitoral: entre 1998 e 2016, foram mortos 79 candidatos em campanha — uma média de 16 por período eleitoral. A maioria das mortes ocorreu em eleições municipais e em cidades com menos de 50 mil habitantes.
O jornalista Bruno Paes Manso é pesquisador no Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo sobre homicídios, confiança institucional e legitimidade. Escreveu junto com Camila Nunes Dias, o livro-reportagem A Guerra: a ascensão do PCC e o mundo do crime no Brasil, uma obra essencial sobre uma das fisionomia do crime organizado no Brasil. Em entrevista ao Outras Palavras, ele alerta: a propagação de um discurso de “guerra política” por parte do presidente Jair Bolsonaro, aliada ao crescimento grupos milicianos nas últimas duas décadas pode nos levar a resultados nefastos: uma distopia miliciana.
Eis a entrevista.
Um PM e um ex-PM, acusados de executar Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, foram presos faltando apenas dois dias para completarmos um ano de investigações sobre o caso. Alguns comemoraram. Outros viram a ação como um certo oportunismo. As peças do assassinato da Marielle começam a se encaixar ou ainda estamos longe de descobrir os mandantes e as motivações do crime?
Falo de São Paulo como alguém que não acompanha o dia a dia da segurança pública do Rio de Janeiro, mas pelo o que tenho lido — e com as muitas pessoas que tenho falado — me parece que as duas novas promotoras [Simone Sibílio e Letícia Emile Petriz] que assumiram o caso são bastante sérias e mudaram os rumos das investigações. A história é complexa e já vai completar um ano, mas, como lembrou Mônica, viúva de Marielle, em uma recente entrevista ao Roda Viva [exibida no dia 11/03], a entrada das promotoras deu certa credibilidade e confiança aos familiares na investigação. A reportagem do Alan de Abreu publicada nesse mês na revista Piaui também aponta para isso: essas promotoras trabalham com mais foco para descobrir quem matou e quem mandou matar Marielle, o que fez as investigações avançarem. Além disso, a Polícia Federal começou a investigar a investigação para levantar quem, afinal, estava se esforçando para atrapalhar o caso. Essas são as duas chaves para entendermos essa nova etapa do trabalho e o porquê de termos resultados mais consistentes. O que acontece é que o Rio de Janeiro nos leva a sempre observar avanços como esse com muita desconfiança, devido à quantidade absurda de políticos e autoridades implicadas em esquemas de milícias. Houve uma grande infiltração de grupos milicianos em instituições do Estado e, ao entrarem duas promotoras comprometidas em investigar os fatos e a Polícia Federal empenhada em descobrir barreiras às investigações, conseguiu-se avançar. Vejo com certo otimismo esses resultados apresentados, mesmo quando feitos às vésperas de completar um ano da morte de Marielle e Anderson, o que poderia parecer oportunismo.
O que a entrada da Polícia Federal, instituição muitas vezes vista com certa desconfiança pela população, assim como a Polícia Militar e a Civil, traz de importante às investigações?
Foram escolhidos agentes que não têm relação com as instituições públicas do Rio de Janeiro — por bons motivos, sob suspeição de terem seus quadros envolvidos com grupos milicianos que há muitos anos mandam no Estado. A força politica das milícias é incontestável e assombrosa, infiltrou-se nas instituições e é determinante para a eleição de políticos. De alguma forma, todos acabam pressionados ou implicados devido à força política desses grupos. Colocar agentes externos a esse ambiente contaminado é um passo importante para descobrir quem são os autores do crime. A Polícia Federal está investigando como os rumos das investigações foram direcionados, o que a polícia local não estava investigando ou dando atenção excessiva. Enfim, todos os interesses implicados em omissões e incriminações forçadas e suspeitas.
O ex-ministro de Segurança Pública, Raul Jungmann afirmou, no final do ano passado, que havia um complô envolvendo grupos políticos e milicias para executar Marielle. Como começa essa relação de promiscuidade entre Estado e crime organizado?
O Rio de Janeiro tem uma história do crime muito própria. Desde a formação do Comando Vermelho, no final dos anos 1970, nas prisões cariocas, houve o crescimento do tráfico de drogas nos morros e uma tensão gerada na cidade por disputas de mercados, produzindo uma série de tiroteios e comunidades inteiras dominadas por traficantes. A rivalidade entre o Comando Vermelho, o ADA [Amigos dos Amigos] e o Terceiro Comando produziu uma série de problemas e, ao mesmo tempo, fortaleceu a aplicação de soluções truculentas pela policia como as incursões aos morros. Em 2007, um ingresso ao Complexo do Alemão deixa 19 mortos, por exemplo. Ao mesmo tempo, no final dos anos 1990, começa uma articulação de alguns grupos de policiais que, sob justificativa de expulsar os traficantes de algumas comunidades, começam a se fortalecer pelo medo das pessoas de ficarem sujeitas ao domínio de grupos de traficantes.
As milícias começam a crescer por esse serviço de proteção aos comerciantes, principalmente, mas também por outros serviços como transportes e “assinatura” de TV a cabo. O negócio foi bem sucedido por vender a ideia de que as comunidades seriam livres da tirania dos traficantes. As UPPs se fortalecem a partir de 2007 como uma politica pública para lidar com territórios dominados pelo tráfico e, paralelamente a isso, as milícias crescem e se fortalecem nas demais comunidades, conquistando o apoio, inclusive, de grupos políticos. Cesar Maia, em 2006, chegou a declarar que grupos de “autodefesa” das comunidades eram um mal menor. Muitos políticos também pedem e ganham votos desses grupos milicianos. Eles próprios começam, então, a eleger candidatos. Participam de uma série de esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro. Utilizam, por serem policiais e ex-policiais, suas relações com políticos e autoridades de segurança pública e justiça para se infiltrarem nas instituições públicas.
Foi algo muito maior do que o tráfico jamais sonhou em ter! Os milicianos, inclusive, passaram a determinar eleições porque, ao dominar territórios, criam “currais eleitorais”. O Rio, portanto, passa por esse problema de crime organizado maior que em outros estados brasileiros devido a essa infiltração nas instituições democráticas, que são usadas para os interesses econômicos e políticos das milícias. Essas tiranias armadas formadas conseguem eleger deputados e influir no Executivo, no Legislativo e no Judiciário, colocando as instituições democráticas em risco.
O PCC, que você estuda há alguns anos, também têm essa relação simbiótica com o Estado?
É uma relação diferente: o PCC também começa a crescer dentro das prisões, mas, ao contrário do Comando Vermelho, não tinha grande capacidade de controlar territórios e morros. Nos anos 1990, enquanto o Comando Vermelho e outras facções do Rio de Janeiro já dominavam amplos territórios e mercados, São Paulo ainda tinha pequenos traficantes em disputas fratricidas entre eles mesmos. Surge, então, o PCC com a proposta de unir o crime e bater de frente com o sistema.
Existia uma relação tensa com o Estado. Em 2006, mais de 50 policiais foram mortos depois de uma megatransferência de lideranças do PCC para outros presídios. Na sequência, 500 pessoas na periferia de São Paulo são assassinadas — e a população acusa a PM. Em 2012, a Rota mata integrantes do PCC a partir de escutas feitas no sistema penitenciário. Mas, à medida que eles começam a ganhar muito dinheiro com o tráfico de drogas e a dominar os presídios, passa a existir uma relação relativamente estável entre o Estado e o crime. Afinal, em São Paulo temos cerca de 230 mil presos para pouco mais de 100 mil vagas nos presídios e eles, ainda sim, são tranquilos, organizados de uma forma muito eficiente para não gerar problemas para o Estado.
Além disso, os homicídios em São Paulo estão caindo. É uma racionalidade nova na cena criminal que criou a facção mais rica, profissional e bem-sucedida da história do Brasil, administrada dentro dos presídios, chegando às fronteiras e a outros estados, ao mesmo tempo em que mantém a segurança pública sobre controle. Mas essa paz, a qualquer momento, pode ser rompida. Aqui em São Paulo, portanto, não há uma relação de promiscuidade com o poder público como ocorre no Rio de Janeiro com as milicias.
Ou seja: são dois modelos de negócios completamente diferentes.
Sim, apesar de existirem suspeitas de surgimento de milícias ainda não comprovadas aqui em São Paulo. Mas o ponto principal é: quando toleramos a violência policial acabamos dando espaço para o surgimento desses grupos. Dar carta branca, tolerar ou fingir que não vemos certos grupos matando significa que o Estado está abrindo mão do monopólio do uso da força, algo fundamental para qualquer Estado Democrático de Direito moderno, e permitindo que certos grupos se fortaleçam e matem em defesa de seus próprios interesses econômicos e políticos.
Isso acontece dentro das policias, como aconteceu no Rio de Janeiro, ao difundirem a ideia de que a polícia mata em defesa de toda a sociedade – e não segundo seus interesses. Fazer um discurso em defesa da violência policial, de que matar bandido beneficiaria toda a sociedade, é fechar os olhos para a formação de milícias. Por isso o controle da violência policial é importante e a discussão feita hoje sobre a flexibilização do controle sobre esse setor preocupa tanto.
E se não controlamos essa violência policial para onde nossa democracia pode descambar?
Permitir que certos grupos se organizem em defesa de seus próprios interesses, que não são universais, vai conduzir nossa democracia para uma distopia miliciana em que grupos, paralelos ao Estado, disputam seus interesses econômicos e políticos. É um retrocesso ao processo civilizatório.
Não temos dados precisos sobre assassinatos políticos no Brasil. Porém, a existência da “jagunçagem” — os matadores de aluguel — é um fenômeno conhecido em nosso país, embora nebuloso. Você acredita que possamos estar vivendo um recrudescimento da violência contra lideranças políticas?
Existe um problema, principalmente ligado à terra e à propriedade, de conflitos no interior do Brasil, o que, na maioria das vezes, mistura questões políticas e econômicas. Lideranças são mortas por proprietários de terras como aconteceu com Chico Mendes e uma série de outros casos. Além disso, há questões ligadas à regularização das terras indígenas, cujas lideranças são ameaçadas. As milícias no Rio de Janeiro se tornaram um problema e essa disputa tem produzido mortes de políticos em grande quantidade. O Brasil, historicamente, é um pais violento para lideranças sociais. Mas o que me preocupou nesse últimos tempos foi a ascensão do grupo político do presidente Jair Bolsonaro, que faz uma defesa da violência como forma de estabelecer uma ordem perdida.
Que “ordem perdida” seria essa que Bolsonaro tenta recuperar?
Bolsonaro sempre teve um discurso marginal ao sistema, mesmo quando estava no Exército, com uma militância salarial, chegando a propor atentados a bomba. Durante sua trajetória, ele acabou sendo eleito devido a essa militância, mas durante o período em que viveu no Congresso sempre teve uma postura à margem do próprio Parlamento. Era um político de terceiro escalão que constrangia até os parlamentares dos grandes partidos. Com o tempo, foi ganhando força, à medida que a Nova Republica se esgotava com a crise econômica e as pessoas buscavam os culpados, fortalecendo discursos antissistema.
Personalidades como Steve Bannon e Olavo de Carvalho criaram a ideia de que havia uma “conspiração marxista” para dominar a América Latina, o que serviu para definir inimigos na esfera política e apresentar Bolsonaro como alguém que representava uma alternativa. Ele chega com um discurso de guerra política em que o policial, o juiz, o promotor e o soldado passaram a serem vistos como “salvadores da pátria”. A politica foi criminalizada e surgiram grupos de ressentidos que apontavam os responsáveis para os problemas do Brasil para alguns inimigos, os “marxistas culturais”, uma categoria que vai desde a esquerda até a Globo, as escolas, a USP e a ONU. Com essa raiva crescente que apela para a violência como forma de restabelecer o poder e a ordem perdida, vêm também fundamentalistas religiosos, e começam a ganhar espaço político suficiente para ganhar as eleições.
Uma coisa que pode acabar muito mal, não é mesmo?
O meu medo é termos elegido um cara antissistema que acredita nessa distopia miliciana, que sempre teve um discurso anti-Estado e antidemocrático e que acha que o Estado brasileiro e a Nova República eram feitos por comunistas e organizados para acabar com os valores da família e da tradição. Sempre houve um discurso ressentido, de pessoas que sempre viveram à margem desse sistema. Só que agora eles assumem esse Estado. Essa distopia do Bolsonaro em defender milícias e um ethos guerreiro dos policiais no combate ao crime e a tudo que está de errado na sociedade brasileira, inclusive o próprio Estado, só fazia sentido quando ele estava fora do sistema. Como isso vai funcionar com eles dentro do Estado? Será que esse discurso de que os adversários são inimigos continuará a fazer sentido?
Outra coisa que começa a preocupar: a flexibilização do porte e uso de armas de fogo. Essa ideia de que temos que nos defender de uma conspiração que nos ameaça e é preciso armar as pessoas que compartilham nossas ideias para combater os adversários. O [Sérgio] Moro apresentar um pacote anticrime que, entre as medidas, flexibiliza o controle sobre o uso da violência policial também é outro risco enorme já que, justamente às policias, as milícias é que têm sido a principal afronta à democracia brasileira e, hoje, contam com o apoio do grupo político ao qual Bolsonaro faz parte.
As forças de segurança pública sempre operam numa logica de “inimigos internos”. Será que com a ascensão de Bolsonaro estamos transformando uma doutrina policialesca em política nacional?
Isso sempre existiu no Brasil. A partir do momento em que as cidades começam a crescer muito rapidamente, anos anos 1950 e 1960, as população começa a viver nas periferias. Há um adensamento desses bairros mais pobres e uma percepção de descontrole nas cidades, o que gera medo e a proposta de violência policial como solução para os conflitos. As polícias passam a ser formadas para atuar nos bairros pobres e terem a figura do bandido como um inimigo interno. Falar em bandido gerou um estigma e passou a justificar qualquer tipo de excesso, abuso e despreparo das instituições policiais e do sistema de justiça. Se na Europa e nos EUA os terroristas são os bodes expiatórios que justificam qualquer ação em defesa de uma suposta ameaça à soberania nacional e a vida dos cidadãos, aqui é o bandido que provoca medo, indignação e revolta. A polícia passa a acreditar que, de fato, essa guerra ao crime fará com que a sociedade se beneficie, que a violência funciona e que homicídio não é problema, mas solução.
Mas teria esse conceito de “inimigo interno” se alargado para grupos políticos divergentes da ordem bolsonarista?
Isso é o risco: usar a polícia, que já tem larga tradição no uso da violência — principalmente em crimes patrimoniais e no tráfico de drogas — para ampliar esse conceito de inimigo interno. Imagine o perigo que é isso em uma instituição que já mata mais de cinco mil pessoas por ano? Assume, então, um presidente que amplia a categoria de inimigos e promove a flexibilização do uso da violência. O que isso pode produzir? Nosso papel na discussão política é chamar a atenção para um grande risco: temos um presidente que não está comprometido com o fortalecimento das instituições democráticas nem com o controle da violência policial e nem com o resgate do monopólio legítimo do Estado para usar a violência em defesa de um contrato e de leis que valham para todos os cidadãos. Temos pessoas que defendem a validade do uso da violência por parte daqueles que compartilham e representam suas próprias ideologias para tornar inimigo quem discorda dessas ideias. Vivemos um momento de tensão. Para nosso grande consolo, há uma enorme incompetência e amadorismo desse grupo, que se autossabota frequentemente. Mas o fato é que vivemos em um limbo: esse grupo está tentando ver até onde pode ir e se esse discurso de transformar a política em guerra cola ou não e, mais que tudo, como as instituições democráticas vão reagir.
Os chamados “crimes de ódio” parecem estar “aflorados” na pele desse grupo político…
Temos vistos alguns crimes de ódio no período da eleição: o mestre capoeirista Moa do Katendê; João Maria Figueiredo da Silva, PM defensor dos direitos humanos e Pedro Henrique Santo Cruz Souza, uma liderança que organizava a Marcha da Maconha no interior da Bahia. São alguns exemplos. Crimes como esses começaram a acontecer, a violência contra os indígenas começou a pipocar e, também, contra gays e trans. Alguns desses crimes de ódio acontecem não necessariamente pelas milícias ou por instituições do Estado, mas pela população em geral que se sente autorizada a matar em decorrência de um discurso de guerra política e combate aos “inimigos do Brasil”. Já somos o pais com mais homicídios no mundo e esse clima de guerra política que existe hoje deveria deixar as instituições mais atentas.
Como se diferenciam o assassinato específico voltado contra pessoas de destaque na luta política, como Marielle, e a violência difusa, que talvez resulte em mais mortes, praticada pela PM nas quebradas?
O assassinato da Marielle foi especialmente chocante porque ocorreu um mês depois que a intervenção federal foi decretada no Rio de Janeiro, durante o governo de Michel Temer – que, inclusive, tentou capitalizar politicamente a intervenção, colocando grandes expectativas para ganhar popularidade. O Exército, então, foi chamado para assumir a segurança pública de um estado que estava em uma situação política muito complicada devido às prisões dos governadores e à fragilidade do governador Pezão. Naquele momento, todos estavam de olho no Rio de Janeiro: imprensa nacional e internacional, governo federal e instituições democráticas. Discutia-se se a permanência do Exercito era ou não acertada para combater o crime. Então Marielle é assassinada. Foi como dizer: “eu sou mais forte e posso matar uma vereadora, com todos me olhando, que vou sair impune”. Isso foi uma afronta à democracia, que foi colocada em xeque, e um grande desafio político a se resolver; não uma morte pura e simples. Matar uma liderança política, um juiz ou mesmo um policial, por exemplo, é assassinar um representante das instituições democráticas. São crimes que transcendem os interesses individuais: são agressões aos interesses, contratos e consensos coletivos. Um representante de um grupo social, uma liderança sindical, popular, indígena, que representa uma coletividade, que não está defendendo seus direitos individuais. Criminalmente é o mesmo problema, mas politicamente as dimensões são outras.
Como assassinatos políticos como o de Marielle afetam o Estado Democrático de Direito e como órgãos e agentes estatais deveriam agir — não só para dar agilidade aos processos de investigação e julgamento, mas especialmente para reconhecer a gravidade dos crimes?
Se o crime da Marielle permanece impune – e, ao que tudo indica, foi feito a mando da milícia, ou seja, a mando dos interesses de grupos criminosos do Rio de Janeiro -ape- significa que esses grupos têm força suficiente para desafiar o Estado Democrático de Direito e não serem punidos. Que podem usar a violência em defesa de seus próprios interesses e seguir agindo em detrimento da lei. Ou seja: que temos um grupo paralelo ao Estado e que as pessoas que obedecem às leis estão sujeitas à força e ameça desses grupos, já que as instituições democráticas não são capazes de defender a população da sanha econômica desses grupos. Uma democracia só é forte quando ela impede que interesses individuais ou os de alguns grupos se sobreponham aos interesses de todos – e se não o fizer, sai fragilizada enquanto esses grupos saem mais fortalecidos que nunca. Dependemos que as instituições democráticas tenham inteligência e capacidade para conseguir comprovar e punir grupos que ajam dessa forma. Isso depende do Ministério Público, da Justiça, da Polícia e do Executivo agindo em conjunto e compartilhando informações para punir esses grupos que agem em interesses próprios. Dependemos das instituições funcionando.
Mas pra funcionar temos que combater o probleminha de infiltração da democracia, não?
Isso é o primeiro passo.
Leia mais
- A postura do clã Bolsonaro no caso Marielle
- O projeto anticrime agiganta o poder persecutório e punitivo do Estado. Entrevista especial com Adriano Pilatti
- 'Capitalismo gore' e a carnavalização da política. Entrevista especial com Ivana Bentes
- Segunda fase de investigação sobre crime de Marielle terá novo delegado
- “Mais importante que prender mercenários é saber quem mandou matar Marielle”, diz viúva da vereadora
- PM e ex-PM suspeitos de matar Marielle Franco são presos no Rio de Janeiro
- Suspeito de matar Marielle tinha ódio da esquerda, diz delegado
- Caso Marielle Franco: enquanto não souber quem mandou matar, o medo não passa, diz ex-chefe de gabinete da vereadora
- Suspeito de matar Marielle tinha ódio da esquerda, diz delegado
- Violência contra mulheres quilombolas e assassinato de Marielle Franco são tratados em evento da ONU
- “A fé no amor!”: o testemunho de Mônica Benício sobre Marielle Franco
- Marielle assombra Flávio Bolsonaro mais morta do que viva
- Polícia cumpre mandados relacionados à morte de Marielle Franco
- Justiça proíbe TV Globo de divulgar inquérito sobre morte de Marielle
- “Quando dizem que Marielle virou semente, é muito real”
- Marielle, Bolsonaro e a importância do repúdio à violência na política
- As ligações dos Bolsonaro com as milícias
- Plano para assassinar Marcelo Freixo é descoberto por Polícia Civil no Rio
- "Quem matou Marielle?" Entrevista especial com Bruno Cava, Marcelo Castañeda e Giuseppe Cocco
- O assassinato de Marielle e o fracasso das políticas de segurança. Entrevista especial com Rachel Barros
- Marielle e os dois pilares do poder e do capitalismo: o patriarcado e o aparato do Estado penal racista. Entrevista especial com Alana Moraes e José Cláudio Alves
- Anistia critica "ineficácia" de autoridades no caso Marielle
- Anistia quer comissão independente para investigar execução de Marielle
- ‘Efeito Marielle’: mulheres negras entram na política por legado da vereadora
- Marielle e o futuro dos feminismos
- Escutas indicam proximidade entre milicianos e vereador investigado por morte de Marielle
- Marcello Siciliano, de filantropo a vereador acusado de mandar matar Marielle Franco
- O dia nasce por Marielle e Anderson em vários lugares do país!
- Um mês e a pergunta continua: quem matou Marielle e Anderson?
- Repercussão do caso Marielle conseguiu furar bolhas de opinião
- Como combate a mentiras sobre Marielle superou racha ideológico e pode antecipar guerra eleitoral nas redes
- A violência no Brasil e o risco da tirania dos homens armados. Entrevista especial com Bruno Paes Manso