A história do planejamento regional e urbano no Brasil fornece pistas para desigualdades persistentes
Carlos Vainer trabalhou em desenvolvimento regional e urbano, políticas urbanas, movimentos sociais, metodologias e modelos de planejamento, particularmente planejamento alternativo ou “conflitual”. É nesses temas que Vainer tem uma extensa carreira nas porosas fronteiras entre academia, ativismo e militância, no campo da consultoria técnica popular. A partir desse conhecimento prático, em que as epistemologias do sul têm um campo próspero e promissor, o entrevistado expõe ideias que revelam as contradições entre planejamento, sociedades e estados periféricos, com especial ênfase no Brasil e seus vórtices de exclusão infinita. Carlos Vainer é professor titular e membro do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional – PPUR/UFRJ, centro que dirigiu três vezes e onde coordena o Laboratório de Estado, Trabalho, Território e Natureza – ETTERN. Foi secretário executivo e presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional do Brasil.
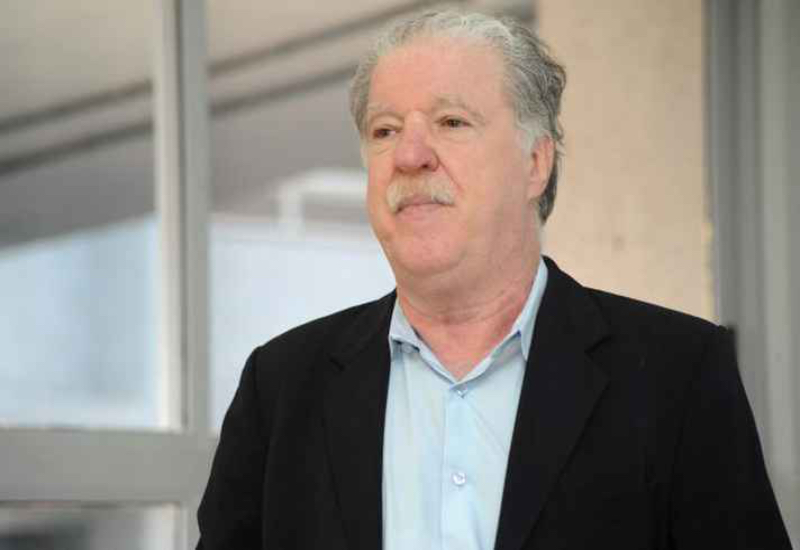
Carlos Vainer (Foto: Raíssa César | UFMG)
A entrevista é de Ariel García, publicada por Nueva Sociedad, setembro de 2023.
Minha primeira pergunta está relacionada à experiência brasileira em planejamento urbano e regional. Sabemos que é muito rico, muito vasto, muito complexo também em termos de regulamentos, normas e desenvolvimento de infraestruturas (estradas, habitação, barragens). Qual o equilíbrio geral que ela pode proporcionar a partir do momento em que o Brasil foi redemocratizado na década de 1980? Que experiência foi acumulada? Que crítica você poderia fazer?
Alguns aspectos dos modelos e práticas de planejamento territorial no Brasil estão relacionados com a história da sociedade e do Estado brasileiros. A sociedade brasileira é uma sociedade periférica dependente e com certas peculiaridades, entre as quais se destacam a duração histórica da escravidão e o fato de que, após alcançar sua independência, o Estado não assumiu a forma republicana, mas sim a de monarquia. Nesse sentido, se marcássemos a data do início do que podemos reconhecer como “planejamento urbano e regional” no Brasil, seria o momento de transição do Império para a República.
O Estado imperial e monárquico teve algumas intervenções territoriais organizadas, como também ocorreu na Argentina e em outros países do Cone Sul, que consistiram em atrair, recrutar, selecionar e localizar imigrantes como colonos nas "terras livres" (que, a rigor, foram ocupadas por povos originários). O objetivo desta política imigratória era a construção da sociedade branca nos trópicos, um desejo das elites brasileiras desde meados do século XIX. Não devemos esquecer que o Brasil foi o último país a acabar com a escravidão legal.
Quando foi anunciado o fim do tráfico negreiro, em meados do século XIX, também foi definida uma política de imigração que tinha entre seus objetivos a substituição do trabalho escravo pelo trabalho “livre”. A intenção dos teóricos e intelectuais que conceberam o Estado era a “regeneração do sangue brasileiro”, que consideravam marcado por dois sangues “inferiores”: o indígena e o negro. Essas concepções racistas e eugenistas, que orientaram a política de imigração na segunda metade do século XIX, foram movidas pelos interesses dos grandes proprietários de terras, particularmente dos exportadores de café do Estado de São Paulo. O que se buscava era atrair, selecionar e implantar trabalhadores europeus (isto é, brancos) no Brasil. Isto levou ao desenvolvimento de uma política territorial, ao mesmo tempo que se desenvolvia um processo de distribuição de imigrantes. Alguns foram localizados nos estados do Sul como agricultores familiares que produziriam alimentos, enquanto outra parte foi levada para as plantações de café de São Paulo. Este processo envolveu uma forte intervenção territorial. O Estado brasileiro precisou desenvolver instituições formais para organizar a divisão territorial dos imigrantes.
Embora existissem múltiplas dimensões que permitissem definir o Estado como “liberal”, o seu intervencionismo nesta matéria foi importante. Por um lado, houve uma intervenção na política de imigração – que promoveu uma distribuição territorial da força de trabalho – e, por outro, uma forte intervenção urbana que se expressou, centralmente, na reforma do porto do Rio de Janeiro entre 1905-1910. Essa seria a reforma do centro da cidade. Esta reforma foi modelada nas intervenções de [Georges-Eugène] Haussmann em Paris.
Também em Buenos Aires e outras cidades portuárias latino-americanas foram realizadas grandes reformas portuárias que impactaram as estruturas e dinâmicas urbanas. No Rio de Janeiro, a reforma conhecida como Reforma Pereira Passos – em homenagem ao nome do prefeito – transformou a face do centro da cidade, até então claramente negro e plebeu. Para além da transformação do porto, o objetivo era “limpar” o centro, acabar com os cortiços onde se concentravam os setores proletarizados.
A reforma higiênica se somou à reforma urbana, e nesse contexto ocorreu a primeira grande campanha de vacinação no Brasil contra a febre amarela. As casas das populações pobres foram invadidas por vacinadores, o que provocou a chamada “revolta da vacina”. A rejeição da vacinação obrigatória também esteve associada à resistência negra contra os despejos. É importante destacar que o planejamento urbano desenvolvido nesse contexto estava profundamente marcado por uma colonialidade, pois a reforma de Haussmann era importada de maneira quase caricatural – a ponto de o teatro municipal construído na Avenida Central ser uma cópia da Ópera de Paris. O nascimento do planejamento urbano carregava em seu DNA a colonialidade das concepções de cidade e arquitetura.
No que diz respeito à questão regional brasileira, ela emerge e é construída historicamente como fundamental para a região Nordeste. No início da colonização, o Nordeste constituía uma fonte fundamental de riqueza, pois ali se estabeleceram as primeiras grandes plantações de cana-de-açúcar, tornando o Brasil uma potência entre o período colonial e meados do século XVIII. O Nordeste tornou-se a “zona problemática”, sujeita às antigas oligarquias latifundiárias, num regime climático que muitas vezes provoca secas. O Nordeste foi fundamental na configuração do pacto oligárquico escravista e fundiário que proporcionou estabilidade ao império brasileiro e posteriormente à primeira república, que podemos classificar como uma república latifundiária oligárquica. Esse pacto oligárquico, escravista e fundiário explica o fato original de que, após a Independência, o Brasil foi a única ex-colônia sul-americana que alcançou a unidade territorial nacional. No Brasil, a questão regional, a questão do Nordeste, é a da relação entre as oligarquias locais e as classes dominantes emergentes do centro-sul, que nasceram com o café, depois com a industrialização progressiva do centro-sul, especialmente em São Paulo.
Sob a ditadura de Getúlio Vargas, o Estado nacional lançará a chamada Marcha para o Ocidente. Vargas teve uma visão posteriormente utilizada na ditadura militar, que deu continuidade à ocupação da Amazônia: a ideia de que o imperialismo brasileiro se faz dentro de suas próprias fronteiras, porque temos territórios sem povo, então é preciso criar povo para ocupar o território. As concepções territoriais do Estado brasileiro definirão os espaços "vazios" do Ocidente e da Amazônia como espaços que lhe permitiriam receber populações do Nordeste, e desta forma reduzir as pressões da população camponesa sobre o monopólio latifundiário oligárquico do terra.
O Nordeste e a Amazônia, em momentos distintos e com registros distintos, serão foco de atenção das experiências de intervenções estatais que rotulamos como planejamento regional.
Sim. Voltemos à questão urbana e ao planejamento urbano. Se formos um pouco mais longe, com o início da industrialização, a questão urbana começa a aparecer na forma de uma crise na habitação da classe trabalhadora, especialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em São Paulo a questão da moradia dos trabalhadores surge como em qualquer cidade industrial, e as primeiras soluções também são importadas: as vilas operárias, as cidades-empresa, onde o trabalhador está vinculado à fábrica e ao lar. Acho que isso também aconteceu em Buenos Aires e em outras cidades industriais argentinas, certo? É um modelo importado, que no Brasil chamamos de “vila operária”.
Esta ganhou dimensão mais ampla com o avanço da industrialização e, na década de 1930, no governo Vargas, ocorreram algumas intervenções de habitação social. Os exercícios de planejamento urbano começam em São Paulo e no Rio de Janeiro. No caso do Rio, é amplamente citado e conhecido o plano desenvolvido pelo urbanista grego Konstantinos Doxiadis, o primeiro plano abrangente para a cidade, mesmo considerando diversas estradas que a cruzariam numa projeção futurística. Foi uma transformação da cidade no sentido do “rodoviarismo” (expansão das rodovias). Isto foi reforçado a partir da década de 1960 com o surgimento de uma indústria automobilística local que promoveria essa perspectiva “rodoviarista” de planejamento urbano.
No que diz respeito ao nível regional, há um marco na Constituição de 1946, após o fim da ditadura Vargas, que dará origem a dois órgãos federais que deverão realizar o planejamento regional: a Superintendência do Plano de Valorização da Amazônia e a Comissão do Vale do Rio Francisco. Em ambos os casos, identifica-se a importação de modelos de países centrais, neste caso dos Estados Unidos, e não mais da Europa. O modelo foi o da Tennessee Valley Authority – TVA. Um dos elementos centrais do New Deal de Roosevelt foi a implementação da TVA como modelo de intervenção centralizada do governo federal que atua no território nacional, portanto, uma intervenção federal contra a autonomia dos estados, modelando, que vai implementar barragens hidrelétricas e controle de rios. Esse modelo da TVA vai chegar ao Brasil. A Constituição de 46 determinará que 1% do orçamento federal deverá ir para a Superintendência de São Francisco e 1% para a Superintendência do Vale do Rio Amazonas.
Um marco do planejamento regional brasileiro foi a constituição do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste, sob a direção de Celso Furtado. Este grupo produzirá um diagnóstico admirável do subdesenvolvimento do Nordeste. Em poucas palavras, posso dizer que Furtado transplantou o modelo da CEPAL para a realidade interna do país: o Nordeste seria a periferia subdesenvolvida do Sudeste central e industrial. O caminho para superar o subdesenvolvimento do Nordeste, consequentemente, seria a industrialização. A solução da CEPAL sempre foi a industrialização. Se o Brasil tivesse que se industrializar para superar seu subdesenvolvimento em relação aos países desenvolvidos, mutatis mutandis, o Nordeste teria que se industrializar para superar o subdesenvolvimento em relação ao Sudeste.
O Grupo de Trabalho esteve na origem da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, que era um órgão muito importante que buscava redefinir o pacto oligárquico entre os grupos dominantes do Sul/Sudeste e o grupo dominante nordestino.
Sob a inspiração do economista argentino Raúl Prébisch, que dirigiu a Comissão Econômica para a América Latina – CEPAL desde seu nascimento, em 1949, até 1963, a característica do pensamento da CEPAL, hoje reconhecida, foi um esforço para pensar a América Latina fora dos cânones do pensamento econômico dominante na época, que via o subdesenvolvimento como uma etapa natural e inevitável de todos os países. Contudo, este esforço de pensamento autônomo não foi suficiente para desenvolver uma política ou plano regional original. A SUDENE abandona o modelo TVA para adotar o modelo da italiana Cassa per il Mezzogiorno. Segundo esse modelo, a industrialização da região atrasada (o Mezzogiorno italiano, o Nordeste brasileiro) seria alcançada por meio de políticas que subsidiassem os investimentos de capital do Sudeste.
Se olharmos para as cidades, devemos mencionar a construção de Brasília como nova capital. Brasília pode ser considerada a experiência mais completa de aplicação dos conceitos do urbanismo modernista – que teve seu expoente mais completo e brilhante em Le Corbusier.
A trajetória de importação de modelos do centro e sua transposição para o Brasil continua, no que diz respeito ao planejamento regional na ditadura militar, com a adoção dos polos de desenvolvimento de François Perroux. Todo o processo de ocupação e implantação de grandes complexos energético-minerais na Amazônia será norteado e justificado pelas teorias perrouxianas. Quanto às cidades, o Banco Mundial desempenha um papel importante na divulgação no Brasil e em toda a América Latina de políticas de apoio às cidades médias, a partir de um diagnóstico que concebeu as metrópoles como consequência e causa dos problemas urbanos (favelas, pobreza urbana etc.).
A ditadura militar formulou e procurou concretizar um grande projeto territorial, que teve como locus e agente principal o Ministério do Interior. Em muitas repúblicas ibero-americanas e na Europa, o Ministério do Interior é quem gere a polícia. Para nós era, na ditadura, o ministério do território. A ele estavam subordinadas todas as superintendências regionais (Amazônia, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste), o Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano e os órgãos envolvidos com o desenvolvimento dos municípios. Na sua pretensão tecnocrática, sonhavam com um planejamento territorial – regional, urbano – controlado a partir do centro do poder, que deveria assegurar uma distribuição racional das populações daquele território, seguindo critérios de produtividade, de otimização demográfica e, claro, de controle político. Não se deve esquecer que os governadores dos estados e os prefeitos das capitais dos estados e de outras cidades importantes foram nomeados diretamente pelo poder central. Chamo isso de planejamento centralista, tecnocrático e autoritário.
É precisamente o planejamento centralista, tecnocrata e autoritário que está no centro das críticas aos movimentos e forças políticas que liderarão o processo de redemocratização. Qual é a principal reivindicação dos movimentos democráticos? A democratização significou descentralização, participação e preocupação social. Curiosa e paradoxalmente, estas foram também as bandeiras do neoliberalismo emergente. A tradução neoliberal dessa consigna pode ser entendida: descentralizar significa reduzir a intervenção do Estado central, desregulamentar. Participação significa redução do poder dos tecnocratas em favor dos agentes de mercado.
O confronto das propostas das forças democráticas e neoliberais será o centro da luta política urbana e regional nos mais de 30 anos desde a redemocratização. Não há dúvida de que os neoliberais foram quase sempre vitoriosos, tornando o planejamento urbano um acessório do desenvolvimento do mercado. Se a função social da propriedade urbana está inscrita na Constituição, estão inscritas na história dos últimos 30 anos das nossas cidades a intocabilidade da propriedade privada, a subordinação do espaço urbano à lógica e dinâmica do capital privado.
Se olharmos apenas para o âmbito regional, veremos que o Brasil foi, desde os tempos da ditadura militar, um espaço dominado pelo que David Harvey chamou de “acumulação por desapropriação”, em que territórios e populações estão sujeitos a grandes projetos de investimento energético, mineração, agronegócio.
Quando falamos sobre planejamento, o caminho que geralmente é percorrido costuma se concentrar no planejamento concebido a partir do aparelho de Estado. Vimos claramente a influência dos Estados Unidos, da França, da Itália e dos bancos multilaterais de crédito, bem como a própria política urbana e regional no Brasil. Você poderia entrar nessa questão do planejamento conflitante, que é o planejamento construído a partir da base? Que experiência existe, quando pensa que surge e se surge como reação ao planejamento do Estado?
Eu diria que até 2010, até o fim do segundo governo Lula, todos os movimentos urbanos e regionais pensavam que o Estado tinha que ser conquistado. Portanto, o foco central desses movimentos foi a luta por novos dispositivos jurídicos/institucionais e pela conquista de espaços no aparelho de Estado, para implementar a reforma urbana que seria o direito à moradia, ao transporte e ao saneamento. Ou seja, a reforma urbana seria uma obra do Estado que democratizaria a cidade e atenderia às demandas populares. Então, o foco é o Estado. O problema é que desde o início dos anos 2000 o que se vê nas cidades é o avanço do projeto neoliberal. Ou seja, a submissão das cidades ao mercado, aos grandes projetos de investimentos e às grandes operações urbanas, ao planejamento estratégico empresarial competitivo, mesmo em muitas cidades administradas pelo Partido dos Trabalhadores.
Após a redemocratização, houve experiências inovadoras que expandiram a democracia urbana, particularmente os orçamentos participativos. Mas, progressivamente, estas dinâmicas tornam-se frágeis, são abandonadas – em alguns casos porque os movimentos populares acreditam que através do Estado alcançarão os seus objetivos, em outros casos porque são derrotados pelos neoliberais. Até as conquistas do período de redemocratização estão ameaçadas. Se até 2010, 2012 se reconhecia que as populações estabelecidas nos assentamentos seriam imóveis, isso começa a mudar. Há um crescimento nos despejos forçados. Isso fica fortemente marcado no período dos megaeventos esportivos, com apoio do governo federal de Lula e até mesmo nos governos estaduais e municipais do PT.
Este será o principal motor de um descrédito progressivo de que a forma mais adequada para os setores populares defenderem os seus interesses é o Estado, porque este se torna abertamente parceiro do capital financeiro imobiliário. Em 2013, isto explica parcialmente porque, sob o governo de Dilma Rousseff, milhões de pessoas se mobilizaram numa grande revolta popular, na qual a luta contra os despejos forçados desempenha um papel relevante. Nesse momento surgem também experiências que chamo de “planejamento de conflitos”, experiências em que grupos que estão sob ameaça de serem deslocados ou grupos que ocupam terras começam a planejar. Um nome mais genérico seria autogestão territorial. Pode ser a autogestão de um prédio abandonado ocupado por um movimento, pode ser a autogestão de um lote ocupado. Experiências como a comunidade da Vila Autódromo no Rio de Janeiro, ou Nuevo Alberdi em Rosário.
Há outro fator importante: o surgimento progressivo, em alguns grupos universitários, de conexões com movimentos, especialmente em programas e cursos de arquitetura, urbanismo e planejamento. Haverá um conhecimento técnico, uma disponibilidade política que, em diálogo com os movimentos, enriquecerá a possibilidade de concretizar estes planos alternativos, populares etc. Esta dinâmica impulsiona regulamentações sobre aconselhamento técnico. E isso progressivamente se tornou uma alternativa para estudantes de arquitetura, que podem se tornar assessores técnicos de um movimento de ocupação para fazer a planta predial, uma opção de trabalho alternativa aos escritórios de arquitetura corporativos.
E neste contexto contemporâneo do governo Lula, considera que é possível haver uma política que financie, que institua essa combinação entre o conhecimento técnico ligado ao planejamento de conflitos, com as instituições, o financiamento, com a continuidade?
É algo difícil de responder. Em primeiro lugar, o governo é formado por uma coalizão que incorpora setores abertamente neoliberais e de direita, o que marca uma diferença em relação aos governos anteriores do PT. Em segundo lugar, mesmo dentro do PT os setores mais influentes na máquina político-partidária estão mais interessados no aparelho de Estado do que na mobilização e organização das bases populares. Ainda não está muito claro como serão arbitradas as tensões que possam surgir entre os interesses e ideias da esquerda institucional, dos partidos de direita não bolsonaristas e dos partidos de esquerda menos ligados ao aparelho de Estado.
O que sabemos agora é que a direita está nas ruas. Existem muitos conflitos que ainda não foram esclarecidos, pelo que sabemos muito bem como se desenvolvem. Voltando à questão do planejamento conflitual e das tensões de uma dinâmica autogerida do território, acredito que estas não vão desaparecer. Será uma força de pressão contra a estrutura governamental.
Tenho uma última pergunta: um risco ao acessar o Estado é não representar apenas quem está organizado e não saber o que acontece na base social que não está organizada. Agora, há mais um conflito no Brasil que não se resolve com uma eleição para presidente: o surgimento e a consolidação de milícias (paramilitares) nos territórios, na periferia do Rio de Janeiro e em outras cidades. Nesse sentido, que papel você acha que o medo da organização desempenha no fato de existir uma milícia tão bem organizada que gere tantos recursos estatais, e não apenas recursos do tráfico de drogas?
A esquerda brasileira – e refiro-me tanto à esquerda governamental (os setores cuja ação se dá em espaços institucionais) quanto à esquerda social – carece de experiências de enfrentamento com a extrema-direita militante. No Brasil, a extrema-direita sempre teve níveis de representação, mas não foi capaz de desenvolver uma militância ativa e mobilizadora que atravessasse vários setores sociais. Isso mudou agora. E, nesse sentido, não está muito claro como travar essa luta. Em 1964, existiam pequenos grupos fascistas, mas eram irrelevantes face à repressão estatal. Por outro lado, estes grupos não tentavam conquistar as bases da esquerda, mas sim constrangê-la. O que vemos agora é uma direita militante radicalizada cujo nível de organicidade não conhecemos, embora saibamos que existem dinâmicas estruturadas a partir de cima. Por um lado, então, há ignorância dessas forças. Por outro lado, não há histórico de confronto com eles. A luta está aberta e estou convencido de que somente a mobilização, organização e luta de base poderá oferecer resistência efetiva a esta nova e valente direita e, quem sabe, abrir espaços para novas conquistas.