Professora analisa dimensões da desigualdade no que toca, especialmente, às mulheres que estão em situação de maior vulnerabilidade e risco de sofrer violências
Sobrecarga, tensões e medo. A pandemia da Covid-19 intensificou de forma abrupta e intensa esses três vetores que marcam a vida de muitas mulheres submetidas às desigualdades sociais, de gênero e profissionais, o que leva a diferentes situações de violência. “A pandemia acabou trazendo consigo o acirramento do estresse nas sociedades, de ansiedades, de depressões. Certamente, este será também um problema bem expressivo e precisaremos de muita atenção para controlá-lo”, pondera a professora e pesquisadora Fernanda Vasconcellos, em entrevista por e-mail ao Instituto Humanitas Unisinos - IHU.
Ao contexto particular, do dia a dia das mulheres, soma-se a não efetivação de direitos constitucionalmente previstos, mas, quando muito, colocados em prática de forma parcial e descontínua. “Não tivemos direitos civis garantidos e distribuídos e os direitos sociais teriam sido ‘presenteados’ aos brasileiros por elites políticas, a partir do governo Vargas (podemos pensar, por exemplo, na CLT)”, salienta.
Neste sentido, a pesquisadora pensa a renda básica universal como uma política importante, mas que deve ser complementada por meio de outros programas. “Acredito que programas de renda básica universal sejam de grande importância, principalmente em contextos de desigualdade social e econômica tão grandes como o brasileiro. Se pensarmos no Bolsa Família, por exemplo, ainda que o mesmo não seja capaz de retirar da pobreza seus destinatários, ele auxilia mães a terem acesso a itens de consumo necessários para a subsistência de seu núcleo familiar”, complementa.

Fernanda Vasconcellos (Foto: Arquivo pessoal)
Fernanda Bestetti de Vasconcellos é professora adjunta do Departamento de Sociologia e do Programa de Pós-Graduação em Segurança Cidadã da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS. Doutora em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS, possui mestrado em Ciências Sociais pela PUCRS e bacharelado em Ciências Sociais pela UFRGS. É pesquisadora visitante no Departamento de Criminologia da Universidade de Ottawa, no Canadá, e atua como pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas de Segurança e Administração da Justiça Penal - GPESC e do Instituto Nacional de Estudos Comparados em Administração Institucional de Conflitos - INCT-INEAC.
IHU On-Line – O que são as expectativas de gênero e como elas se tornam dispositivos sociais agenciadores de violência?
Fernanda Vasconcellos – Podemos dizer que expectativas de gênero são uma espécie de regramento comportamental que recai sobre todos os indivíduos de uma sociedade e, mesmo que seja prejudicial a suas trajetórias de vida, são reforçadas pelo imaginário social.
Dito de outra forma, podemos pensar que estão ligadas ao modo como a sociedade espera que seja o comportamento de um indivíduo, tanto no espaço público, quanto no privado: tradicionalmente, estas expectativas costumam estar vinculadas a práticas que, quando não respeitadas, podem acabar sendo sancionadas através de agressões físicas, verbais e psicológicas (quando consideramos o controle social informal, que é aquele praticado por vizinhos, familiares, amigos, colegas etc.) e as violências institucionais (se considerarmos o controle social formal, praticado por instituições do Estado).
Em nossa sociedade, onde opera uma lógica binária acerca destas expectativas, podemos dizer que se espera que uma mulher seja boa mãe, boa dona de casa, que seja uma excelente profissional (tudo isso junto!), que tenha sua sexualidade controlada (caso contrário é socialmente observada como vulgar, desonrada), que se vista adequadamente (que não use roupa curta demais). Em relação aos homens, espera-se virilidade, força, comportamento extremamente assertivo (algo que costuma estar em uma linha muito tênue entre assertividade e agressividade) etc.
As expectativas de gênero podem ser consideradas como uma espécie de “faca de dois gumes” e o não cumprimento de tais expectativas podem, sim, se tornar dispositivo social agenciador de violências múltiplas, tanto na esfera privada, quanto na esfera pública. Falo em “faca de dois gumes”, pois dependendo da junção com outras questões da vida em sociedade, podem ser tidos como negativos.
Para exemplificar o que quero dizer, convido meu (minha) interlocutor(a) a exercitar o que chamamos de “imaginação sociológica” para analisar o caso da morte do menino Henry Borel, ocorrida no dia 08 de março de 2021. A partir das investigações policiais realizadas acerca do caso, a mãe do menino e o padrasto seriam responsáveis pelo homicídio da criança.
Muitas matérias jornalísticas realizadas após o término do inquérito policial apresentam a mãe do menino como uma mulher bonita e muito vaidosa, que apreciava vestir-se bem, que se comportava adequadamente no espaço público. Se voltarmos às expectativas de gênero ligadas a um ideal inatingível de juventude e beleza eternos, que não recai da mesma forma sobre os diferentes gêneros, não há o que julgar no comportamento feminino acima descrito. Porém, estas características certamente serão utilizadas pela sociedade que julga um crime bárbaro (no caso, o envolvimento na morte do próprio filho) como desabonadoras, uma vez que se cria toda uma narrativa que coloca estas expectativas acerca da vaidade como negativas, já que aparecem nesse discurso como mais importantes do que o cuidado com o filho, algo imperdoável.
Logicamente, não estou comparando uma mãe que participa da morte do filho a milhares de outras mães que trabalham, que são vaidosas, que gostam de vestir-se bem e, para que possam dar conta de tantos afazeres, contam com o trabalho remunerado de outra (normalmente) mulher para cuidar de seus filhos. O que quero chamar a atenção é o fato de que tais expectativas de gênero também são armadilhas, que dependendo da circunstância, transformam-se em elementos de uma narrativa que torna mais grave e mais terrível a conduta da agente.
Ainda pensando no exercício proposto: será que se esta mãe usasse roupas simples, não fosse considerada uma mulher bonita, que não se preocupasse com sua aparência, a narrativa construída em torno do caso a tornaria “menos culpada”? Obviamente, o caso deve possuir milhares de informações que não são de conhecimento geral, mas posso garantir, através de pesquisas realizadas em tribunais do júri, em que mulheres eram rés, que estas expectativas de gênero são utilizadas de um modo bastante flexível, de modo a construir narrativas que abonem ou desabonem a conduta destas agentes.
Se considerarmos a violência institucional praticada contra mulheres, podemos lembrar do caso da blogueira Mariana Ferrer, culpabilizada por uma autoridade judicial por usar roupas curtas, fazer uso de bebidas alcoólicas e tais questões “provocarem” o estupro do qual foi vítima. Podemos pensar também no atendimento policial prestado a uma mulher profissional sexual vítima de violência: será que o atendimento prestado a esta mulher será o mesmo dado a uma outra mulher que cumpra as demais expectativas de gênero a olhos vistos? Ou ainda: será que a mulher profissional sexual não pode ser uma boa mãe e uma pessoa que realiza com cuidado todos os afazeres domésticos?
IHU On-Line – Como a pandemia criou um contexto de acirramento dos conflitos domésticos e de que ordem eles são?
Fernanda Vasconcellos – É bastante possível que sim, que estejamos vivendo um acirramento dos conflitos violentos domésticos durante a pandemia. Mas, infelizmente, não existem dados oficiais que demonstrem o quão grande seja tal acirramento. A pandemia acabou por manter unidos durante um período temporal muito mais expressivo (se consideradas rotinas anteriores, onde casais passavam menos tempo juntos), o que acaba, muitas vezes, dificultando o acesso de mulheres em situação de violência a serviços de segurança pública. Sobre esta barreira, não há dúvidas.
Além disso, dinâmicas violentas anteriores possivelmente sejam acirradas em um contexto em que se passa mais tempo juntos, em que existem muitas incertezas sobre o futuro, onde há uma constante preocupação em sobreviver no meio do caos em que estamos imersos. Além disso, o fato de estarem fechados em suas residências, sem o convívio com pessoas que possam observar a existência ou mesmo as marcas da violência conjugal, também é um fator a ser considerado.
Se voltarmos às expectativas de gênero femininas no espaço privado, considerando mulheres com filhos em casa, com o trabalho doméstico mais intenso, com dificuldades de desempenhar adequadamente as atividades profissionais (para aquelas que trabalham em home office) ou com dificuldades financeiras pela perda de emprego, ouso dizer que, se levarmos ao pé da letra todas as expectativas colocadas em nós mulheres, teríamos de nos tornar super-heroínas para sermos este ser “perfeito”. O fato é que, assim como não vivemos em um conto de fadas em que somos princesas e nem somos super-heroínas, certamente algumas das expectativas serão frustradas.
Não são todas as frustrações que resultarão em violência física, mas o somatório delas certamente gerará algum tipo de conflito. Este conflito pode, sim, ser interno, pelo fato de nós mulheres nos cobrarmos um padrão de excelência inatingível, e também pode ocorrer com nossos parceiros e, nestes casos, tais conflitos podem tomar a forma de discussões, de violência psicológica e de violência física, quando há um acirramento das frustrações.
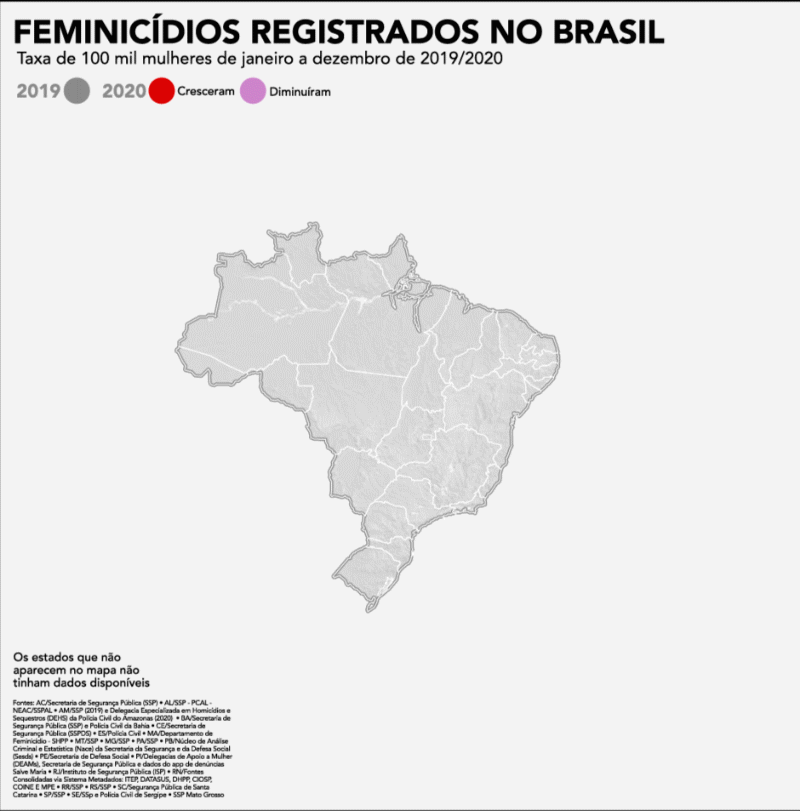
(Fonte: Instituto AzMina)
IHU On-Line – A sobrecarga do trabalho remunerado e não remunerado (os cuidados com a casa, os filhos, os idosos) recai especialmente sobre as mulheres. Como esses fatores estão ligados direta ou indiretamente à violência contra as mulheres?
Fernanda Vasconcellos – Considerando que não existem super-heroínas que sejam capazes de dar conta perfeitamente de todas as atividades domésticas, de cuidado e profissionais a serem realizadas no ambiente doméstico e que, muito provavelmente, isso gerará frustrações no que se refere às expectativas de gênero, é possível imaginar que sim. Isso fará diferença tanto no que se refere às relações conjugais onde episódios anteriores de violência doméstica e/ou familiar já estavam presentes antes da pandemia, quanto nos casos que foram iniciados em um momento mais recente.
Temos, com a pandemia, uma mistura de elementos bastante importantes para imaginarmos os motivos desse tipo de violência: aumento considerável de consumo de álcool, depressão, estresse, ansiedade, incerteza sobre o futuro, crise econômica, vida familiar intensificada dentro de casa etc. Juntando esses fenômenos com a frustração das expectativas sobre o gênero feminino, temos certamente uma mistura bastante oportuna para o acirramento destas violências.
IHU On-Line – Como a sobrecarga do chamado homeschooling também se tornou um peso extra na fatigada rotina feminina? É possível vislumbrar impactos para adultos e crianças?
Fernanda Vasconcellos – Para responder a primeira parte desta pergunta, sou obrigada a pensar na minha realidade. Tenho dois filhos: um de quatro e outro de doze anos, ambos com atividades escolares em andamento através de plataformas virtuais. Minhas atividades de trabalho seguem existindo, inclusive tenho a impressão de que se tornaram mais “pesadas” (para se ter uma ideia, respondo a entrevista com meu filho mais novo sentado ao lado, pedindo atenção).
Qualquer pessoa que se encontre em uma situação similar à minha, muito possivelmente concordará que, sim, o homeschooling (e o convívio intensificado com filhos, unido à indispensabilidade de atenção constante às suas necessidades), tornou-se um peso extra bastante expressivo em minha rotina de trabalho. Para além disso, é claro que existem outras dificuldades: sou professora universitária de sociologia, consigo auxiliar meu filho mais velho em questões relacionadas a temas de humanidades. Agora, se aparecem dúvidas sobre exatas, por exemplo, tenho um problema. Reforço meu argumento sobre o homeschooling ser, sim, um peso extra maior ainda para aquelas mães que desenvolvem outras atividades profissionais que não são relacionadas à área da educação.
Já sobre a segunda parte da pergunta, posso utilizar dados da ciência para responder: sim, sem dúvidas, é possível vislumbrar impactos do homeschooling (não só em nível de aprendizado, como de sociabilidades) tanto para crianças como para adultos. Pensemos: o tal homeschooling existe pelo fato de não podermos ter aulas presenciais. Na instituição onde sou professora, chamamos estas aulas a distância através de plataformas digitais de “Ensino Remoto Emergencial”. E creio ser importante prestar atenção na palavra “emergencial”. Todos(as) fomos pegos(as) de surpresa com a pandemia. Muitas instituições privadas conseguiram dar um suporte mais expressivo para seus docentes, o que não ocorreu da mesma forma na esmagadora maioria das instituições públicas.
Além disso, alunos e alunas dessas diferentes instituições possuem condições materiais diversas e essas condições diversas já tornavam suas possibilidades de vida distintas. E aqui, temos um ponto muito importante a ser considerado na área da educação: a pandemia certamente tornou mais desigual ainda os processos de aprendizagem e certamente tornará nossa sociedade mais desigual, caso não sejam pensadas políticas públicas que busquem diminuir o impacto dessa desigualdade.
Quanto aos docentes, certamente tivemos que aprender novos modelos de aulas, criar mecanismos diferentes para tornar as aulas agradáveis aos alunos (algumas pesquisas têm mostrado que as exposições constantes às telas são absolutamente mais cansativas do que as aulas presenciais). Pessoalmente, creio ser interessante o fato de termos de nos reinventar enquanto professores, mas tenho consciência de que esta realidade também não é verificada da mesma forma por todos(as). Porém, ainda que creia que, pessoalmente, seja interessante esta reinvenção, não posso deixar de considerar que o momento que vivemos no campo da educação é absolutamente perverso, no sentido em que amplia desigualdades sociais.
Outro fator importante a ser considerado são as diferentes formas de sociabilidades forçadas pela pandemia. Já utilizávamos aplicativos de mensagens e vídeo para nos comunicarmos, lógico. Manuel Castells, importante sociólogo (e atualmente ministro das universidades na Espanha) que pesquisa há anos o que seria a revolução informacional, já nos indicava consequências em diversos âmbitos sociais deste processo de transformação das relações interpessoais e interinstitucionais, desde a década de 1990. Mas, com a pandemia, fomos obrigados não só a manter distância das pessoas, mas utilizar de forma substancialmente mais expressiva tais aplicativos. Possivelmente, as consequências disso serão distintas para crianças e adultos, mas não há dúvidas que, de alguma forma, modificarão (já estão modificando) o modo como as pessoas se relacionam.
Volto a utilizar o exemplo da minha família, para tentar demonstrar como a situação atinge de formas distintas os indivíduos: meu filho de doze anos conversa com os colegas da escola e amigos de forma bastante naturalizada através de plataformas virtuais. Já meu filho pequeno não possui a mesma capacidade: tem dificuldades com o homeschooling, pergunta se terá amigos da idade dele em algum momento (quando a pandemia começou, ele estava prestes a completar três anos), pois não brinca com crianças da idade dele há bastante tempo. Eu, que fui socializada com estes mecanismos informacionais depois de adulta, tenho muitas dificuldades de me relacionar com amigos através de uma tela de computador ou celular. Ou seja, pessoas diferentes serão atingidas de formas distintas. Mas não há dúvidas sobre o nascimento e/ou fortalecimento de novos padrões de sociabilidade.
Sobre as consequências desses novos padrões, a sociologia nos ensina que precisamos esperar que passemos do “olho do furacão” para que consigamos fazer análises mais apuradas acerca das mesmas. Logo, creio que ainda precisamos de mais tempo para sermos mais precisos sobre as consequências desses novos processos de sociabilidade.
Finalmente, uma consequência bastante preocupante, para além do aumento das desigualdades sociais (já absurdas no contexto brasileiro) e do nascimento e/ou fortalecimento de novos tipos de sociabilidade, é o aumento de adoecimento mental, algo que já vem sendo pesquisado e demonstrado pela própria Organização Mundial da Saúde. A pandemia acabou trazendo consigo o acirramento do estresse nas sociedades, de ansiedades, de depressões. Certamente, este será também um problema bem expressivo e precisaremos de muita atenção para controlá-lo.
IHU On-Line – Como pensar, ou melhor, repensar políticas públicas que garantam a proteção e efetivação dos direitos às mulheres em um contexto marcado pelo distanciamento social?
Fernanda Vasconcellos – Esta pergunta pode começar a ser respondida através de um questionamento a um problema realmente grave no Brasil: temos uma Constituição Federal bastante avançada, que busca garantir direitos civis, políticos e sociais de forma equânime a absolutamente todos os cidadãos brasileiros. Acontece que, ainda que a Constituição Federal de 1988 seja avançada, temos grandes problemas para a criação de mecanismos que efetivem tais direitos para todos. Logo, lidamos com um problema enorme quando pensamos na proteção e efetivação de direitos de grupos mais vulneráveis: se nossa sociedade é extremamente desigual, não é sem sentido pensar na desigualdade de distribuição destes direitos na sociedade.
O historiador e cientista político José Murilo de Carvalho, o qual considero um grande pesquisador da área, apresenta ao longo da sua obra a distribuição destes direitos como algo bastante problemático no contexto brasileiro. Seus estudos nos remontam ao período anterior à proclamação da República e nos mostram que, ainda que acreditemos que o povo brasileiro participou ativamente deste processo, na prática, tal movimento foi pensado e colocado em prática pelas elites políticas. O autor nos fala também sobre o processo de distribuição dos direitos no Brasil, tecendo uma espécie de explicação acerca da dificuldade de utilizar a teoria de T. H. Marshall (autor inglês, bastante conhecido nas ciências sociais para que entendamos processos de obtenção dos três âmbitos de direitos – civis, políticos e sociais – para que exista, de fato, o que o autor chama de cidadania) no contexto brasileiro. Carvalho explica que, diferentemente do que sustenta Marshall em sua teoria, o Brasil teria vivido um processo “ao avesso” do contexto explicado pelo segundo: não tivemos direitos civis garantidos e distribuídos e os direitos sociais teriam sido “presenteados” aos brasileiros por elites políticas, a partir do governo Vargas (podemos pensar, por exemplo, na CLT). Obviamente, na perspectiva de Carvalho, isso não ocorreu de modo desinteressado, ou seja, tal distribuição teria ocorrido para que o povo não percebesse o autoritarismo do período e a diminuição de seus direitos políticos.
Essa brevíssima explanação sobre os escritos de José Murilo de Carvalho tem como objetivo convidar o(a) interlocutor(a) a pensar na dificuldade vivida pela população brasileira em ter acesso a direitos constitucionalmente garantidos. É claro que não me refiro aqui a todos os brasileiros. Outro autor bastante importante a tratar do assunto da cidadania em nosso contexto, Marcelo Neves, fala em dois diferentes grupos, com acessos diferentes a direitos e deveres legais (em que, em uma sociedade extremamente desigual, os direitos são distribuídos desigualmente).
Assim, se pensarmos em nosso contexto político atual, creio que já posso adiantar que é realmente uma questão bastante complexa pensar em políticas públicas voltadas para o enfrentamento e garantia de direitos das mulheres em um contexto pandêmico. E digo isso pensando, mais ainda, no caso daquelas que vivem um contexto de violência doméstica e/ou familiar.
Porém, voltemos à “imaginação sociológica” e pensemos em um contexto ideal onde direitos constitucionais fossem igualmente distribuídos (ainda assim, possivelmente, teríamos respostas distintas para distintos grupos de mulheres, uma vez que não existe um conceito uníssono ou monolítico sobre o que é “mulher”). Pensando no caso de mulheres que vivem um contexto de violência, é possível afirmar, a partir de experiências internacionais, como ocorre na província de Ontário, no Canadá, que programas que garantam uma renda mensal suficiente para que estas mulheres possam reconstruir suas vidas longe do agressor, sem depender de seus recursos financeiros, seja algo muito interessante. Além disso, políticas públicas de segurança, que sejam capazes de responder rapidamente, atuando diretamente na interrupção do conflito violento e evitando um acirramento da violência, também podem ser citadas como interessantes. Complementando, é extremamente necessário lembrar que tais políticas devem ter um caráter transversal, no sentido de contar não somente com instituições de segurança pública, mas com assistência social, saúde, sistema de justiça e educação.
IHU On-Line – Qual tem sido o papel do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos na construção de políticas públicas de proteção às mulheres?
Fernanda Vasconcellos – Nenhum. E é bastante desanimador responder a uma pergunta tão importante desta forma. Lembro que, lá em 2014, quando terminava de escrever minha tese de doutorado, me questionava acerca das políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres existentes possuírem um caráter “assistencialista” (o que, na época, me parecia algo bastante ruim, uma vez que, do meu ponto de vista, poderiam não ser capazes de solucionar os problemas vivenciados por um longo período do tempo, porque pareciam estar mais vinculadas a políticas de governo e não de Estado). E atualmente, quase sete anos depois, vivemos um período de total desmonte de qualquer política pública baseada em evidências científicas, de um desmonte de estruturas governamentais preocupadas com diferentes violências sofridas por mulheres (desde os casos vinculados à Lei Maria da Penha, até um terrível retrocesso em relação ao pouco que havia sido caminhado em relação às práticas de abortamento seguro e legal).
Há poucos anos discutíamos seriamente sobre educação sexual nas escolas (buscando utilizar materiais construídos através de bases científicas e pedagogicamente adequados), com a preocupação também de incidir na diminuição dos casos de violência sexual na infância e adolescência. É muito desanimador verificar que todo um projeto coletivo e importante acabou sendo desmontado por questões que vão desde a produção de fake news sobre o assunto, que passam pela ideia esdrúxula de que incentivar-se-iam práticas sexuais precoces com o ensino, que haveria um acréscimo alarmante dos índices de jovens que não estivessem de acordo com a heteronormatividade. Então, nos encontramos em um contexto em que somos brindados com discursos oficiais que pregam a ideia de que “meninos vestem azul e meninas rosa”.
Voltando à pergunta, sinto uma enorme dificuldade em lembrar de qualquer política pública ou mesmo construção de uma agenda programática efetiva no que se refira à proteção das mulheres pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos no atual governo. Digo isso não por ter uma memória prejudicada, mas porque já começo problematizando a existência de um único Ministério para tratar de questões tão complexas e, muitas vezes, conflitantes.
Pensando nas pesquisas que realizei nos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, lembro de me deparar diversas vezes com casos em que só haveria a possibilidade de cessar as violências sofridas por algumas mulheres pela própria dissolução da união conjugal. Essa observação me levou a criticar inúmeras vezes (assim como outras pesquisadoras acabaram por apontar) que a atuação de magistrados(as) que atuavam nestes juizados e incentivavam práticas para que não fosse desfeita tal união (sob a justificativa de que não fosse separado o núcleo familiar, buscando evitar o sofrimento de filhos em comum, ou mesmo pelo “amor” existente entre as partes envolvidas no conflito), uma vez que a percepção de uma sacralidade familiar parecia ser mais importante do que fazer cessar as violências sofridas por aquelas mulheres.
Mais ainda, me questiono sobre o que seria a percepção acerca de “Direitos Humanos” do atual governo. Honestamente, encontro substanciais dificuldades para entender que ligação este conceito possa ter, por exemplo, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, da qual o próprio Brasil é signatário. Como se pensar no respeito aos direitos humanos em um país que, até o atual momento, tem tratado a pandemia de Covid-19 como se fosse (ainda!) uma “gripezinha”, que possui um Ministério da Saúde que se mostra absolutamente incapaz de lidar de forma eficaz com os processos de vacinação, de adequação e mesmo de utilização de protocolos sérios para evitar o (maior) alastramento de uma doença tão grave?
Também me pergunto como verificar os direitos humanos de pesquisadores, de docentes, de gestores que possuem percepções ideológicas distintas do presidente da República, quando vão a público demonstrar sua insatisfação e acabam por sofrer sanções institucionais, quando estes fazem parte do funcionalismo público. Onde está a liberdade de pensamento e de manifestação do mesmo?
Tenho, sim, consciência de que a pergunta não parece diretamente relacionada a algumas destas questões que levanto com minha resposta. Porém, considero que tais apontamentos ajudam a demonstrar o imobilismo de um Ministério, através de um imobilismo do próprio governo federal em diferentes questões, as quais, no final das contas, acabam por entrelaçar, de modo perverso, diversos problemas sociais no Brasil, que acabaram sendo amplificados com a pandemia.
IHU On-Line – Como a senhora vê propostas como a renda básica universal? Ela poderia contribuir, em algum sentido, para a redução da violência contra mulheres?
Fernanda Vasconcellos – Acredito que programas de renda básica universal sejam de grande importância, principalmente em contextos de desigualdade social e econômica tão grandes como o brasileiro. Se pensarmos no Bolsa Família, por exemplo, ainda que o mesmo não seja capaz de retirar da pobreza seus destinatários, ele auxilia mães a terem acesso a itens de consumo necessários para a subsistência de seu núcleo familiar.
Porém, no caso em discussão, é bastante complicado afirmar que o programa seja capaz, por si só, de reduzir os casos de violência contra mulheres. Aqui, existem dois fatores a serem considerados: os dados sobre violência doméstica e familiar contra a mulher não apresentam quedas significativas mesmo depois da criação do programa (ao contrário, podemos observar um crescimento nos registros oficiais de violência), e a existência de uma cifra oculta acerca destes casos de violência (a qual possivelmente seja bastante grande) que não nos permite fazer afirmações exatamente precisas sobre a questão.
Além disso, volto a insistir na necessidade da criação de uma agenda programática voltada para a equidade entre gêneros, enfrentamento e erradicação da violência contra a mulher, a qual necessita ser colocada em prática através da implementação de políticas públicas transversais. Tais políticas necessitam ser pensadas por meio de um levantamento de dados empíricos sobre a realidade social e construídas a partir de uma rede formada por instituições de educação, saúde, assistência social, segurança pública, judiciário e comunidades.
Mais que isso, é necessário que tais políticas públicas sejam frequentemente monitoradas, no sentido de verificar problemas, e redesenhadas, de modo a enfrentá-los. Por fim, e o mais difícil de tudo, em minha opinião, é que sejam transformadas em políticas de Estado e não de governo, garantindo, assim, sua continuidade.
Voltando à pergunta, acredito, sim, que programas de renda básica universal possam auxiliar na redução das violências contra mulheres. Porém, é preciso considerar que grande parte destas violências possuem dinâmicas que vão além da questão financeira, mas que estão relacionadas a expectativas de gênero, a ciclos de violência, a existência de filhos em comum etc. Portanto, para que, de fato, consigamos enfrentar o problema, temos de lidar com questões multifatoriais.