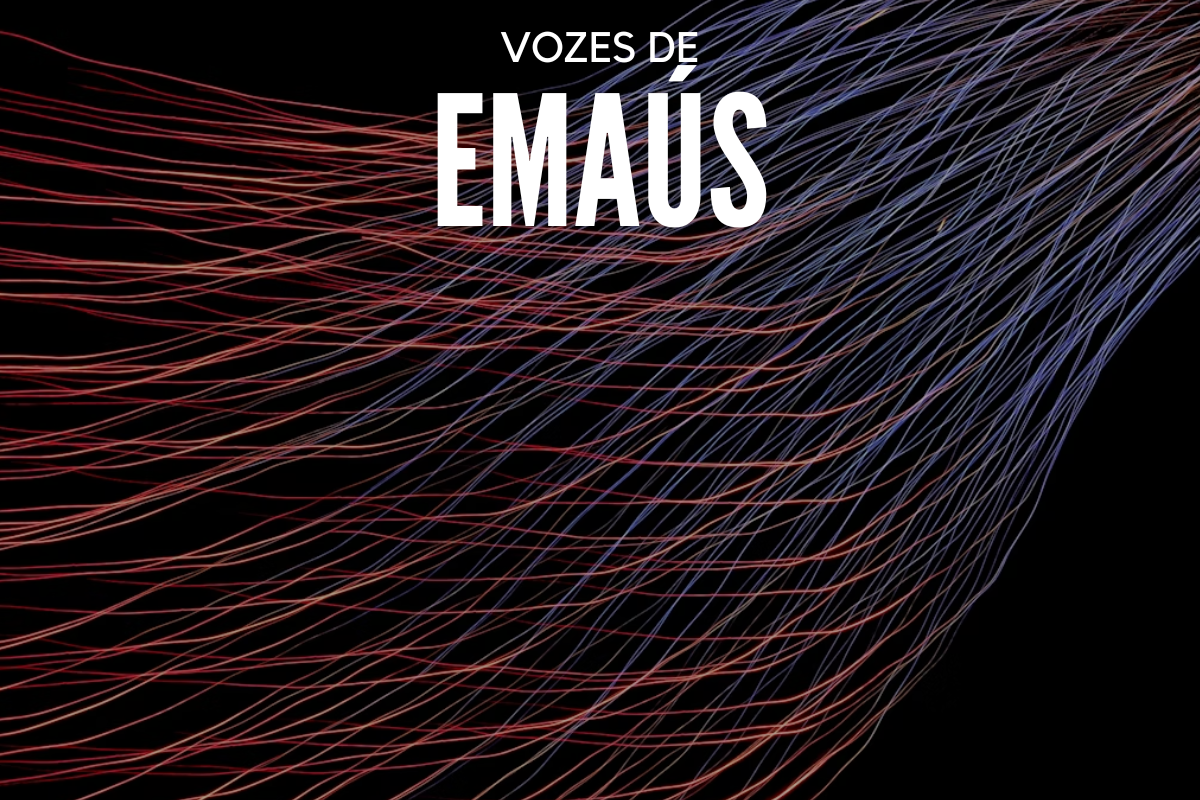21 Novembro 2017
“Francisco levantou o problema do viver a morte como um direito moral: ele não diz que ‘se pode’ interromper um tratamento; ele diz que ‘há’ uma decisão que ‘se qualifica moralmente como renúncia à obstinação terapêutica’.”
A opinião é do historiador italiano Alberto Melloni, professor da Universidade de Modena-Reggio Emilia e diretor da Fundação de Ciências Religiosas João XXIII, de Bolonha.
O artigo foi publicado por La Repubblica, 17-11-2017. A tradução é de Moisés Sbardelotto.
Eis o texto.
“Um suplemento de sabedoria” diante da morte entendida como o limiar posto entre duas vidas: aquela que todos conhecemos e aquela que ninguém conhece (e que, para os cristãos, é iluminada apenas pelo mistério de Jesus Ressuscitado). Assim, com dois substantivos muito importantes, Francisco interveio com uma mensagem à Pontifícia Academia para a Vida sobre uma questão que, no Ocidente, vê o confronto entre posições sérias e divergentes, muitas vezes contornadas pela superficialidade daqueles que pensam que podem girar a própria clava ideológica na cristaleira da existência.
Como em todas as suas intervenções, Francisco comprime em um pensamento sem adornos uma complexidade que é fácil de subestimar: naquilo que ele diz e assina, sempre há o instinto evangélico do homem de fé, a delicadeza do governo pastoral, até mesmo uma pitada de astúcia política. E é por isso que as suas palavras fornecem uma referência essencial no marasmo intelectual e civil deste tempo.
Tentemos distinguir, então, as camadas dessa intervenção das consequências decisivas.
Francisco interveio sobre uma vexata quæstio. Sobre o tema do fim da vida, o magistério havia se fechado progressivamente. Pio XII havia desmontado com coragem a ideia de que a dor do doente tinha um valor intrínseco e havia admitido (Francisco o cita na sua mensagem do último dia 16) que “não há obrigação de empregar sempre todos os meios terapêuticos potencialmente disponíveis” e, “em casos bem determinados, é lícito abster-se deles”.
Com o seu próprio corpo, depois, o Papa João XXIII ensinara que o cristão não tem o problema do fim da vida, mas o de viver a morte. Sem heroísmos desumanos e sem descontos, ensinara o sentido de uma antiga expressão (o “trânsito piedoso”) com uma exemplaridade episcopal.
Depois, um papa como Wojtyla, que veio da teologia moral, abordara o deslocamento do debate ideológico do terreno da vida social ao do corpo: a “bioética”, assim, alavancara uma categoria-chave – a “vida” – que permitira colocar no mesmo plano a batalha contra as leis sobre o aborto e sobre a eutanásia.
O Catecismo dos anos 1990, assim, conservara a ideia de que existem “procedimentos médicos onerosos, perigosos, extraordinários ou desproporcionais em relação aos resultados esperados”: mas havia se limitado a dizer que a sua interrupção “pode” ser legítima; e, na fórmula da defesa da vida “desde a sua concepção” até o seu “fim natural”, o magistério romano encontrara com Ratzinger a linha de resistência àquela “exaltação individualista” que, de acordo com o papa bávaro, era a chave da “ditadura do relativismo”.
Francisco marcou uma mudança de ritmo e, no dia 16, levantou o problema do viver a morte como um direito moral: ele não diz que “se pode” interromper um tratamento; ele diz que “há” uma decisão que “se qualifica moralmente como renúncia à obstinação terapêutica”.
Ao tomar posição, o texto do papa recorre a duas expressões – uma de Bergson e uma de Maritain – que se tornaram familiares ao magistério romano do século XX: uma é a do “suplemento”, e a outra, a da busca de uma dimensão “integral”, cara a Paulo VI.
Diante da modernidade e, acima de tudo, da modernidade tecnológica que chamamos de pós-modernidade, ele não propõe uma estéril metralhadora de condenações, mas a convicção de que o que parece ameaçar a doutrina da Igreja pode ser uma oportunidade para o Evangelho.
O “suplemento” que ele pede (e aqui vem a política) não é de ética, mas de “sabedoria”. Não é, portanto, o recurso a um mecanismo moral ou moralista, mas a sapientia cordis que sabe que as dimensões éticas também devem ser medidas sabendo que, por trás de cada palavra, há o mistério da existência. Aquela que ensina que o caminho rumo ao limiar da morte deve ser vivido sem poetizar a angústia, e que a morte não “melhora” se for rateada por uma tecnologia capaz de despedaçá-la em milhares de fragmentos de degradação e de sofrimento, reduzidos à banalidade, quando não à vulgaridade, das máquinas e das morais.
De fato, são arrepiantes os léxicos predominantes: por um lado, expressões atrozes como “desligar as máquinas”, por outro, o travestimento poético da “dignidade” do moribundo. Como se bastassem máquinas ou vontades para dirimir o encontro com a Irmã Morte. Por isso, se o catolicismo der a essa discussão uma contribuição “de sabedoria”, não fará pouco: e não fará pouco também para a política italiana.
Neste momento, no Parlamento italiano, o debate sobre o fim da vida ou sobre o seu adiamento à campanha eleitoral, de fato, poderiam se prestar a um jogo muito visto e muito praticado na era ruiniana: isto é, deixar à disposição das direitas a gestão de “valores” ou “princípios”, que rigorosamente extrapolaram do seu húmus espiritual, transformados em bandeiras ideológicas, mas que podem ser agitados na propaganda eleitoral e na dinâmica parlamentar.
Nessas coisas – a inédita posição eclesiástica diante da resistência alfaniana em matéria de Ius soli demonstra isso – chegar tarde pode significar não chegar a nada. Assim, a carta papal sobre o “suplemento de sabedoria” fixa um paradigma: e faz isso a tamanha distante das eleições [italianas] que todos poderão jurar que não pensaram minimamente na situação italiana, mas que pensaram apenas em questões muito gerais, que afetam o mundo inteiro.
Leia mais
- Francisco, falando a anjos, homens e demônios. Artigo de Alberto Melloni
- Bauman e Francisco, o caminho que leva o mundo globalizado de volta ao Evangelho. Artigo de Alberto Melloni
- O papel das Igrejas nas sociedades complexas. Artigo de Alberto Melloni
- Fim da vida: tratar sem obstinação. Discurso do Papa Francisco
- Fim da vida, a abertura do Papa Francisco
- Qual a diferença entre eutanásia e sedação profunda?
- Pai de Eluana Englaro: ''O papa foi além de todos''
- ''A atenção deve estar no paciente.'' Entrevista com Adriano Pessina
- Eutanásia: ''Palavras claras do papa. Mas hidratar à força também é uma forma de tortura''. Entrevista com Mina Welby
- Conferência do Vaticano busca reforma global e abrangente para a assistência à saúde
- ''O papa nos ensina a aceitar a nossa irmã morte corporal.'' Entrevista com Vincenzo Paglia
- ''A recusa à obstinação terapêutica é uma doutrina consolidada da Igreja.'' Entrevista com Vincenzo Paglia
- Sábado ocupado: Francisco fala sobre assistência à saúde, seu antecessor e moralidade da tecnologia
- “A edição genética poderia criar uma classe social superior”
- Avanço da medicina genômica provoca preocupações éticas entre especialistas
- Saúde e tecnologia. A busca da imortalidade. Entrevista especial com Luis David Castiel
- Fim da Vida, profecia e atualidade. Uma reflexão inédita de Arturo Paoli
- A dignidade do fim da vida. Artigo de Enzo Bianchi